Com(posições) pós estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências
- 3. Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências Copyright © Pimenta Cultural, alguns direitos reservados Copyright do texto © 2019 os autores e as autoras Copyright da edição © 2019 Pimenta Cultural Esta obra é licenciada por uma Licença Creative Commons: by-nc-nd. Direitos para esta edição cedidos à Pimenta Cultural pelo autor para esta obra. Qualquer parte ou a totalidade do conteúdo desta publicação pode ser reproduzida ou compartilhada. O conteúdo publicado é de inteira responsabilidade do autor, não representando a posição oficial da Pimenta Cultural. Comissão Editorial Científica Alaim Souza Neto, Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil Alexandre Antonio Timbane, Universidade de Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Brasil Alexandre Silva Santos Filho, Universidade Federal do Pará, Brasil Aline Corso, Faculdade Cenecista de Bento Gonçalves, Brasil André Gobbo, Universidade Federal de Santa Catarina e Faculdade Avantis, Brasil Andressa Wiebusch, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Brasil Andreza Regina Lopes da Silva, Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil Angela Maria Farah, Centro Universitário de União da Vitória, Brasil Anísio Batista Pereira, Universidade Federal de Uberlândia, Brasil Arthur Vianna Ferreira, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Brasil Beatriz Braga Bezerra, Escola Superior de Propaganda e Marketing, Brasil Bernadétte Beber, Faculdade Avantis, Brasil Bruna Carolina de Lima Siqueira dos Santos, Universidade do Vale do Itajaí, Brasil Bruno Rafael Silva Nogueira Barbosa, Universidade Federal da Paraíba, Brasil Cleonice de Fátima Martins, Universidade Estadual de Ponta Grossa, Brasil Daniele Cristine Rodrigues, Universidade de São Paulo, Brasil Dayse Sampaio Lopes Borges, Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, Brasil Delton Aparecido Felipe, Universidade Estadual do Paraná, Brasil Dorama de Miranda Carvalho, Escola Superior de Propaganda e Marketing, Brasil Elena Maria Mallmann, Universidade Federal de Santa Maria, Brasil Elisiene Borges leal, Universidade Federal do Piauí, Brasil Elizabete de Paula Pacheco, Instituto Federal de Goiás, Brasil Emanoel Cesar Pires Assis, Universidade Estadual do Maranhão. Brasil Francisca de Assiz Carvalho, Universidade Cruzeiro do Sul, Brasil Gracy Cristina Astolpho Duarte, Escola Superior de Propaganda e Marketing, Brasil Handherson Leyltton Costa Damasceno, Universidade Federal da Bahia, Brasil Heloisa Candello, IBM Research Brazil, IBM BRASIL, Brasil Inara Antunes Vieira Willerding, Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil Jacqueline de Castro Rimá, Universidade Federal da Paraíba, Brasil
- 4. Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências Jeane Carla Oliveira de Melo, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, Brasil Jeronimo Becker Flores, Pontifício Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Brasil Joelson Alves Onofre, Universidade Estadual de Feira de Santana, Brasil Joselia Maria Neves, Portugal, Instituto Politécnico de Leiria, Portugal Júlia Carolina da Costa Santos, Universidade Estadual do Maro Grosso do Sul, Brasil Juliana da Silva Paiva, Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Paraíba, Brasil Kamil Giglio, Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil Laionel Vieira da Silva, Universidade Federal da Paraíba, Brasil Lidia Oliveira, Universidade de Aveiro, Portugal Ligia Stella Baptista Correia, Escola Superior de Propaganda e Marketing, Brasil Luan Gomes dos Santos de Oliveira, Universidade Federal de Campina Grande, Brasil Lucas Rodrigues Lopes, Faculdade de Tecnologia de Mogi Mirim, Brasil Luciene Correia Santos de Oliveira Luz, Universidade Federal de Goiás; Instituto Federal de Goiás., Brasil Lucimara Rett, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil Marcio Bernardino Sirino, Universidade Castelo Branco, Brasil Marcio Duarte, Faculdades FACCAT, Brasil Marcos dos Reis Batista, Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Brasil Maria Edith Maroca de Avelar Rivelli de Oliveira, Universidade Federal de Ouro Preto, Brasil Maribel Santos Miranda-Pinto, Instituto de Educação da Universidade do Minho, Portugal Marília Matos Gonçalves, Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil Marina A. E. Negri, Universidade de São Paulo, Brasil Marta Cristina Goulart Braga, Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil Michele Marcelo Silva Bortolai, Universidade de São Paulo, Brasil Midierson Maia, Universidade de São Paulo, Brasil Patricia Bieging, Universidade de São Paulo, Brasil Patricia Flavia Mota, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Brasil Patricia Mara de Carvalho Costa Leite, Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil Patrícia Oliveira, Universidade de Aveiro, Portugal Ramofly Ramofly Bicalho, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Brasil Rarielle Rodrigues Lima, Universidade Federal do Maranhão, Brasil Raul Inácio Busarello, Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil Ricardo Luiz de Bittencourt, Universidade do Extremo Sul Catarinense, Brasil Rita Oliveira, Universidade de Aveiro, Portugal Rosane de Fatima Antunes Obregon, Universidade Federal do Maranhão, Brasil Samuel Pompeo, Universidade Estadual Paulista, Brasil Tadeu João Ribeiro Baptista, Universidade Federal de Goiás, Brasil Tarcísio Vanzin, Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil Thais Karina Souza do Nascimento, Universidade Federal Do Pará, Brasil Thiago Barbosa Soares, Instituto Federal Fluminense, Brasil Valdemar Valente Júnior, Universidade Castelo Branco, Brasil Vania Ribas Ulbricht, Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil Wellton da Silva de Fátima, Universidade Federal Fluminense, Brasil Wilder Kleber Fernandes de Santana, Universidade Federal da Paraíba, Brasil
- 5. Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências Patricia Bieging Raul Inácio Busarello Direção Editorial Marcelo EyngDiretor de sistemas Raul Inácio BusarelloDiretor de criação Ligia Andrade MachadoEditoração eletrônica BiZkettE1 / FreepikImagens da capa Patricia BiegingEditora executiva Organizadoras e Autores(as)Revisão Claudia Glavam Duarte Josaine de Moura Suelen Assunção Santos Organizadoras Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) ________________________________________________________________________ C728 Com(posições) pós estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências. Claudia Glavam Duarte, Josaine de Moura, Suelen Assunção Santos - organizadoras. São Paulo: Pimenta Cultural, 2019. 221p.. Inclui bibliografia. ISBN: 978-85-7221-051-5 (eBook) 1. Educação. 2. Matemática. 3. Ciências. 4. Docência. 5. Licenciatura. I. Duarte, Claudia Glavam. II. Moura, Josaine de. III. Santos, Suelen Assunção. IV. Título. CDU: 37.01 CDD: 370 DOI: 10.31560/pimentacultural/2019.515 ________________________________________________________________ PIMENTA CULTURAL São Paulo - SP Telefone: +55 (11) 96766-2200 livro@pimentacultural.com www.pimentacultural.com 2019
- 6. Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências SUMÁRIO APRESENTAÇÃO........................................................................................... 8 Ademir Donizeti Caldeira CAPÍTULO 0 As balbúrdias de um Grupo de estudos em Educação Matemática e Contemporaneidade - GEMMCo.............................................................. 14 Claudia Glavam Duarte Josaine de Moura Suelen Assunção Santos PARTE I EDUCAÇÃO MATEMÁTICA CAPÍTULO 1 Elementos históricos para uma análise foucaultiana das práticas de memorização no ensino de matemática: da arte da retórica à cultura cristã.............................................................................................. 26 Alice Stephanie Tapia Sartori Claudia Glavam Duarte CAPÍTULO 2 Reverberações da filosofia wittgensteiniana na Educação Matemática............................................................................ 50 Claudia Glavam Duarte Leonidas Roberto Taschetto CAPÍTULO 3 A “docência-sabot” e as fissuras curriculares nas aulas de matemática em uma classe Multisseriada...................................................................... 71 Mari Teresinha Alminhana Panni Claudia Glavam Duarte
- 7. Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências CAPÍTULO 4 Olimpíada: o uso da palavra em vários contextos..................................................................................... 94 Josaine de Moura CAPÍTULO 5 Matemática Escolar como tática de governamento em um espaço inclusivo............................................................................ 105 Guilherme Franklin Lauxen Neto Josaine de Moura PARTE II EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS CAPÍTULO 6 Coletivos, bandos, matilhas: devires de uma pesquisa sobre um curso de Licenciatura em Educação do Campo...................................................... 128 Veronica de Lima Mittmann Claudia Glavam Duarte CAPÍTULO 7 Práticas construtoras de subjetividade cristã em uma escola pública.................................................................... 148 Graciela Bernardi Horn CAPÍTULO 8 O poder ubuesco e suas ressonâncias para as categorias de poder pastoral, soberano e disciplinar............................................................................... 166 Isabel Cristina Dalmoro Suelen Assunção Santos
- 8. Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências CAPÍTULO 9 Cartografando os sentidos do tempo na Pedagogia da Alternância.................................................... 189 Cíntia Melo Silva Suelen Assunção Santos SOBRE OS AUTORES E AS AUTORAS..................................................... 213 ÍNDICE REMISSIVO................................................................................... 217
- 9. 8 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O COM(POSIÇÕES) PÓS ESTRUTURALISTAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA E EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS Apresentação Fazer a apresentação deste trabalho é, para mim, uma grande honra. Primeiro pela proximidade com o Grupo de Estudos em Educação Matemática e Contemporaneidade (GEEMCo) na sua “primeira fase”, segundo porque se trata de uma obra que dá visibi- lidade a conceitos, vindos principalmente da filosofia, que são muito caros para o campo da Educação e, em especial, para a Educação Matemática e para as Ciências. Práticas de memorização, pretensão de universalidade da matemática acadêmica, realidade do aluno, matemática escolar no contexto multisseriado, olimpíadas de matemática, matemática dife- rente da Matemática Escolar, perspectiva interdisciplinar, primazia da moralidade cristã, poder ubuesco, pedagogia da alternância, perspectiva pós-estruturalista. Essas são algumas noções que iremos percorrer quando iniciarmos a leitura deste importante livro. Trata-se de uma coletânea de textos muito bem alinhavada de parte da produção da “segunda fase” do Grupo de Estudos em Educação Matemática e Contemporaneidade (GEEMCo) coor- denada pela Profa. Dra. Claudia Glavam Duarte e pela Professora Suelen Assunção dos Santos. A “primeira” se deu a partir de 2010 até 2015 quando o grupo produzia suas análises “informalmente” na Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC.
- 10. 9 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O Lembro-me bem que, naquela época, tive a oportunidade de participar das primeiras discussões quando também participava do Programa de Pós-Graduação em Educação Científica e Tecnológica daquela instituição. Buscávamos naquele momento, nos estudos pós-estruturalistas, entender o que nos queriam dizer, por exemplo, Foucault, Deleuze, Nietzsche, Spinoza, Wittgenstein, Lyotard, e o que esses autores podiam nos ajudar a compreender sobre as questões da Educação Matemática, das Ciências e em especial da Etnomatemática e da Modelagem Matemática. Buscávamos, também, como poderíamos romper, por exemplo, com a epistemologia até então primordial para todos nós, de que a natureza do conhecimento só poderia ser dada pelas relações empíricas, racionalistas, ou pela inter-relação entre elas. Por esses autores, e pelas leituras de outros colegas da Educação Matemática, já passava pela nossa cabeça que, não só a cons- ciência, mas principalmente a linguagem, pelo discurso, podia desempenhar, no contexto da Educação, a capacidade do ser humano de apreender o mundo e a sí próprio. Tínhamos plena convicção de que esses autores iriam nos dar pistas para encontrar essa nova forma de ver o mundo e de pensar, que estavam escondidas em algum lugar, e que tínhamos que encontrá-las. A busca foi constante, prazerosa e, no interior dos livros, nas linhas escritas, muitas vezes sem nenhum sentido momentâneo, íamos desvendando nuances, lampejos, percepções, frases incompreensíveis, e fomos construindo nossas primeiras imagens sobre a importância de continuarmos as buscas. O grupo interessado, preocupado, leve, brincando buscava os fios embaralhados e, à medida que ia desfazendo uns, ia cons- truindo outros e, fortalecido pela capacidade desses autores em mostrar as multiplicidades, as subjetividades, as potencialidades, as escavações, a identidade na diferença enfim, foi se tornando
- 11. 10 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O cada vez mais preocupado e, ao mesmo tempo, livre para olhar de uma maneira diferente o que imaginava e acreditava ser único. O tempo passou. A primeira fase tinha terminado. Outros rumos, outros tempos, outros grupos, outros territórios. Agora o GEEMCo, já consolidado e com identidade própria, alça outros voos. O casulo transformou-se. Foucault, Nietzsche, Spinoza, Wittgenstein, Deleuze, Guattari, Bauman, e outros que foram sendo incorporados às leituras, já se parecem bem mais familiares. Claudia Glavam Duarte, Josaine de Moura, Suelen Assunção Santos e seus colaboradores fizeram a opção de nos presentear neste livro com duas partes: aquela que trata de assuntos mais diretamente ligados à Educação Matemática e a que trata mais das questões envolvendo Educação em Ciências. Eis um pouco do que irão encontrar com a leitura. Na primeira seção, denominada de Educação Matemática, Alice S. Tapia Sartori e Claudia Glavam Duarte nos apresentam os “Elementos históricos para uma análise foucaultiana das práticas de memorização no ensino de matemática: da arte da retórica à cultura cristã”, aqui a questão da memorização, o saber de cor, a repetição e a recitação de conteúdos matemáticos foram adquirindo distintos sentidos em diferentes períodos históricos, acompanhando as ressignificações que atravessaram o ensino de matemática. Numa perspectiva foucaultiana, as autoras buscam identificar algumas descontinuidades e continuidades destas práticas com a intenção de compreendê-las no presente e nos lançam uma instigante pergunta: quais as condições de possibilidade para a emergência destas práticas em determinado período histórico? O próximo texto, Claudia Glavam Duarte e Leonidas Roberto Taschetto nos apresentam “Reverberações da filosofia wittgens- teiniana na Educação Matemática”. A partir da importância das concepções de racionalidade e de linguagem desenvolvidas por
- 12. 11 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O Wittgenstein interrogam sobre a pretensão de universalidade da matemática acadêmica para, em um momento posterior, anali- sarem uma das implicações para a Educação Matemática Escolar. Problematizam a questão da verdade que se propagou e se enraizou no discurso educacional ao afirmar a necessidade de se trabalhar a partir da realidade do aluno em sala de aula a fim de se atribuir significado à matemática escolar. Em seguida, Mari Teresinha Alminhana Panni e Claudia Glavam Duarte nos apresentam “A “Docência-Sabot” e as fissuras curriculares nas aulas de matemática em uma classe multisseriada”. A partir do currículo de uma escola do campo em uma classe multisseriada, as autoras problematizam o currículo de matemática. Partindo do entendimento de que o modelo seriado de educação se constitui em um dispositivo que organiza elementos heterogêneos no âmbito educacional, elas analisam a multisseriação como um contradispositivo que tensiona tal organização. A seguir, Josaine de Moura nos apresenta “Olimpíadas Brasileiras de Matemática: o uso da palavra olimpíada em vários contextos”, que trata-se de um estudo dos múltiplos significados da palavra olimpíada em diversos períodos históricos, particular- mente voltado para as olimpíadas de matemática. O exercício analí- tico efetivado sobre os deslocamentos da palavra olimpíada e seus significados mostrou que a olimpíada de matemática se distancia da olimpíada moderna, pois a primeira prioriza o cognitivo e a segunda, o físico. Nessa direção, apontam que existem aproxima- ções, sendo essas presentes nas características de “racionalidade” e de “burocratização” tanto nas olimpíadas de matemática quando nas olimpíadas modernas. Finalmente, Guilherme Franklin Lauxen Neto e Josaine de Moura nos apresentam “Matemática Escolar como tática de governamento em um espaço inclusivo”. O texto discute sobre
- 13. 12 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O qual(is) é/são a(s) matemática(s) encontradas nas análises das enunciações que circulam no meio institucional do GerAção/POA, um espaço que promove a inclusão psicossocial pelo trabalho e autonomia financeira de pessoas que possuem sofrimento psíquico grave ou persistente. Estudou-se o tipo de conheci- mento matemático esperado para ensinar os usuários a serem “protagonistas da própria vida”. Na segunda seção denominada de Educação em Ciências, Veronica de Lima Mittmann e Claudia Glavam Duarte, nos apre- sentam “Coletivos, bandos, matilhas: devires de uma pesquisa sobre um curso de Licenciatura em Educação do Campo” em que proble- matizam e apresentam uma Análise do Discurso na perspectiva Foucaultiana das enunciações que emergiram das falas de autores da Licenciatura em Educação do Campo e dão visibilidade aos conceitos de povo e de devir-animal, de teóricos como Foucault, Deleuze e Guattari, para pensarmos agrupamentos humanos à luz da filosofia da diferença e, neste sentido, compreender a Educação do Campo como uma educação menor, e assim, potente para devires outros, ou ainda, devires-animais. Em seguida, Graciela Bernardi Horn nos apresenta “Práticas construtoras de subjetividades cristã em uma escola pública” em que analisa os saberes escolares gerados e fortalecidos como verdadeiros em uma Escola do Campo, em município do litoral norte do Rio Grande do Sul, que estão atrelados à moralidade cristã com a justificativa de que a maioria dos moradores da comunidade segue essa matriz religiosa que orienta a conduta, os costumes e os estilos de vida da comunidade. No texto seguinte, Isabel Cristina Dalmoro e Suelen Assunção Santos, nos apresentam “O Poder ubuesco e suas ressonâncias para as categorias de poder soberano, pastoral e disciplinar”, como
- 14. 13 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O parte de um estudo que teve como objetivo examinar como o conceito de poder ubuesco pode servir para lançar outros olhares sobre a Educação Ambiental. O propósito desse texto é apresentar o referido conceito mostrando de que modo ele se constitui como ferramenta de análise histórico-política para o estudo realizado. Finalmente Cíntia Melo Silva e Suelen Assunção Santos nos apresentam “Cartografando os sentidos do tempo na Pedagogia da Alternância” cujo objetivo foi problematizar de que modo a concepção de tempo vem se atualizando no discurso da Pedagogia da Alternância, vinculado ao curso de Licenciatura em Educação do Campo: Ciências da Natureza da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Campus Litoral Norte – UFRGS / CLN. Tais textos, sustentados por uma concepção de ciência que foge das “narrativas legitimadoras”, não buscam o consenso, mas o dissenso, não buscam a eficácia, mas a invenção, não buscam o exemplo, mas o contraexemplo, não buscam o inteligível, mas o ininteligível, não buscam a coerência, mas o paradoxal. Boa leitura a todas as pessoas. Ademir Donizeti Caldeira DOI: 10.31560/pimentacultural/2019.515.8-13
- 15. CAPÍTULO 0 AS BALBÚRDIAS DE UM GRUPO DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA E CONTEMPORANEIDADE - GEEMCo Claudia Glavam Duarte Josaine de Moura Suelen Assunção Santos 0 Asbalbúrdiasdeum grupodeestudosem educaçãomatemática econtemporaneidade- GEEMCo ClaudiaGlavamDuarte JosainedeMoura SuelenAssunçãoSantos DOI: 10.31560/pimentacultural/2019.515.14-24
- 16. 15 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O O propósito deste texto introdutório é apresentar ao leitor, mesmo que as palavras sejam escassas para dar conta, a experi- ência do encontro de alguns jovens com três professores1 no ano de 2010, que culminou com a emergência de um grupo de estudos denominado de GEEMCo – Grupo de estudos em Educação Matemática e Contemporaneidade na UFSC – Universidade Federal de Santa Catarina. No início a informalidade operava nestes encon- tros pois havia certa resistência de tornarmo-nos algo fixo em alguma identidade. Nossa pretensão rondava a ideia de bando desenvolvida por Deleuze e Guattari (2011) e o livro Mil Platôs ainda guarda rascu- nhado a lápis, em suas margens, a expressão BEEMCo ilustrando esta intenção. A pretensão ficava mais interessante porque sabíamos que as leituras que fazíamos não eram muito bem-vindas no terri- tório que habitávamos. Foucault e Deleuze pareciam estar interdi- tados. Wittgenstein, por sua vez, conseguia ter um transito mais livre. Ironicamente fazíamos desta condição algo que dava a rir2 . Além disto, é possível inferir que a informalidade oxigenava os encontros de uma forma diferenciada e possibilitava inclusive, que nossas aven- turas de pensamento ocorressem, de forma “mais livre”, em um bar ou em almoços de finais de semana. Essa informalidade “escondida” nos remete a pensar e, talvez a encontrar alguma similaridade com a intenções da estante fixa de livros que estava instalada na parede divisória do apartamento de Foucault em Paris. Como ele afirmou a Pol-Droit em uma conversa: “a parede do fundo, que parecia uma estante de livros fixa, deslizava, para comunicar o seu apartamento com outro, onde morava seu companheiro. Conforme os visitantes, 1. Trata-se aqui de um pequeno grupo formado por 7 jovens, em sua maioria graduados em Licenciatura em Matemática e de professores vinculados ao departamento de Metodologia de Ensino da UFSC. 2. Exemplo da ironia estava quando liamos em voz alta, por exemplo, a conversa entre Foucault e Deleuze intitulado os intelectuais e o poder (FOUCAULT, 2000b). Dois de nós representavam os filósofos, no entanto, quando o texto indicava MF de Michel Foucault o leitor dizia: Marcelo Fagundes. Para GD Gilles Deleuze, pronunciávamos Gerrad De Pardie. Estas alcunhas, surgidas no próprio momento da leitura, nos faziam rir e denunciavam que talvez estes teóricos não fossem aceitos naquele território.
- 17. 16 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O esta divisória ficava fechada ou aberta” (POL-DROIT, 2006, p.11). Apesar da sala que habitávamos não ter esta engrenagem, esta parecia ser a lógica que condicionava também, os movimentos do grupo cada vez que alguém abria a porta. Os estudos e as leituras que fazíamos nos levava a desconfiar de certas verdades para o campo educacional, especificamente para a Educação Matemática. Esta condição viabilizava o movimento de diferir alguns significados que dávamos para nossas práticas, para o ensinar e aprender que, muitas vezes, estavam, por nós, natura- lizados. No entanto, por mais dolorosa que fosse esta experiência, sabíamos que olhar para as verdades que nos constituem, para situações já vividas e atribuir-lhes novos sentidos era condição para escapar da captura de discursos e viabilizar alternativas para um pensar que pudesse atribuir outros ares para nossas maneiras de lidar com o conhecimento matemático, com a Educação Matemática e, principalmente, com modos de ser e tornar-se professor de mate- mática. Como afirmaram Sartori e Faria (2018, p.63) “podemos dizer que os trabalhos do GEEMCo são atravessados por duas questões que são centrais na obra de Foucault: a problematização de verdades como discursos e a constituição de sujeitos.” No entanto, as garras do formalismo e o modus operandi acadêmico, calcado no “esquema da ‘milhagem acadêmica’ como bem qualificou uma vez o filósofo carioca Paulo Onetto” (GADELHA, 2015, p. 39) foram se fazendo sentir cada vez mais forte e, passados seis anos, precisamente no dia 15 de agosto de 2016 ocorre o registro oficial junto ao Diretório de Grupos de Pesquisa da Plataforma Lattes – CNPq. As primeiras pesquisas realizadas pelos integrantes do grupo aproximavam-se da Etnomatemática e balizavam-se, espe- cialmente no segundo Wittgenstein e em alguns conceitos dispo- nibilizados por Foucault, especialmente os de saberes sujeitados
- 18. 17 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O (2005), exterioridades selvagens (2000) e de discurso (2002). Nesta época, alinhávamo-nos aos trabalhos que vinham colocando em jogo a pretensão de universalidade da matemática acadêmica com os trabalhos de Mestrado de Amanda Magalhães (2014), Tanabi Sufiatti (2014) e Savio (2016). Magalhães (2014) interessou-se pelas mulheres que faziam renda de Bilro da Praia do Forte em Florianópolis e passou a descrever e analisar alguns jogos de linguagem mate- máticos postos a operar na confecção das rendas. Inspirada pelas leituras de Wittgenstein a autora apresentou o imbricamento entre o modelo de racionalidade colocado em ação e a forma de vida das rendeiras, descrevendo, dessa forma, um modo bastante parti- cular de matematizar destas mulheres. Sufiatti (2014) construiu seu trabalho analisando o currículo de matemática da Escola Indígena Cacique Vanhkrê em Xanxerê, no Oeste catarinense. Sua pesquisa, também fazendo incursões sobre a obra wittgensteiniana apontou para as tensões que perpassavam o currículo escolar entre as formas de vida Kaingang e as não indígenas e que acabavam por forjar a existência de um “duplo real” para a esfera educacional, pois os professores – indígenas ou não - atribuíam importância aos conhecimentos da própria cultura e também à cultura hegemônica que cercava a tribo indígena. Sávio (2016) permitiu ao grupo sair do país com seu trabalho intitulado a tecelagem de Tais no Timor- Leste e suas implicações para a Educação Matemática Escolar. Os “tais” são roupas tradicionais, cuja existência antecede o período colonial e são conhecidos por todo o povo do Timor-Leste. Savio, vindo recentemente deste país para cursar o mestrado, interes- sou-se pelos processos de tecelagem envolvidos na confecção dos tais. No entanto, para além das discussões educacionais, o trabalho investigativo realizado pelo aluno timorense que, carinhosamente acolhemos em nosso grupo, possibilitou-nos adensar a reflexão sobre o compromisso político de nossas pesquisas. Pesquisar uma determinada cultura, mesmo que por intermédio de singularidades nas formas de matematizar, permitia fortalecê-la. Aprendemos, com
- 19. 18 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O este aluno, mesmo que a língua tentasse muitas vezes nos sabotar, que a minimização da cultura timorense fora uma estratégia colo- nialista utilizada para facilitar a ocupação de seu território. Neste sentido, a revitalização da cultura passava a ser entendida como questão de soberania para aquele povo que havia vivido até 2002 sobre fortes ataques de ocupações militares da Indonésia e de Portugal. Mesmo sem fazer alusões ao conceito de resistência de Foucault acreditamos que este trabalho objetivou constituir-se como tal ao visibilizar as estratégias de minimização da cultura do Timor Leste nas tentativas de colonização de seu povo. Posteriormente a estes trabalhos foi possível observar um leve deslocamento, certa latitude, nas problematizações que fazí- amos. O aprofundamento na obra de Foucault nos levou a deixar, mesmo que momentaneamente, Wittgenstein repousar nas prate- leiras de nossas bibliotecas. A pirotecnia de Foucault nos enfeitiçava e suas teorizações nos atingiam a uma velocidade estonteante. Isso tudo ocorria porque o filósofo nos dava a impressão, guardadas as distâncias intelectuais entre o filósofo e nós, de que tínhamos muito a fazer com ele e a partir dele em nossas pesquisas. Como afirmou Costa (1999), pensar com estes filósofos “é jamais parar de pensar... ... É perguntar, sempre e uma vez mais: por que tem de ser assim? Por que não poderia ser de outra maneira? Por que devemos acreditar no que nos dizem, agora, se, antes, já nos disseram tantas coisas, tantas vezes, tão diferentes?” (Ibidem, p. 20) Atravessados por tais questões buscávamos, neste segundo momento, compreender as relações entre as práticas pensadas para a Educação Matemática e as configurações de sujeitos exigidas na contemporaneidade. Nos ajudaram nesta empreitada as Dissertações de Sartori (2015) e Góes (2015). Sartori problematizou a ênfase na ludicidade para o ensino da matemática na infância. A partir das teorizações foucaultianas que incidiam sobre a cons- tituição do sujeito, das leituras sobre a infância e dos estudos de
- 20. 19 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O Zygmunt Bauman, a autora sugere que as práticas lúdicas, conside- radas como uma forma de governamento nas aulas de matemática, produzem efeitos na constituição do sujeito infantil contemporâneo. Identificou-se nesta investigação uma linha, mesmo que tênue, que movida pelo desejo e pela sedução contribuía para a tessitura de um sujeito consumidor, tão caro as exigências contemporâneas de ser e estar no mundo. Por outro lado, Góes desconfiou das preten- sões e do “possível sucesso” da Matemática escolar em constituir um sujeito crítico. Além de Foucault, a autora buscou em Friedrich Nietzsche elementos para dar visibilidade a tais intenções apon- tando o quanto esta vontade de potência está imbricada de grandes ambições: a construção de um sujeito crítico multifacetado, com diferentes características e habilidades: autônomo, criativo, refle- xivo, capaz de lidar com informações, de tomar decisões e de atuar na sociedade. Tais trabalhos foram nos fazendo perceber, cada vez mais, que o discurso da Educação Matemática, têm peso, massa, volume, tamanho, tempo, forma, cor, posição, textura, duração, densidade, cheiro, valor, consistência, profundi- dade, contorno, temperatura, função, aparência, preço, destino, idade, sentido. (DUARTE, SARTORI, 2017, p. 26) Em 2014, segundo semestre: uma mudança de território e o surgimento de um sentimento paradoxal. A transferência da professora Claudia Glavam Duarte, até então líder do grupo, para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul – Campus Litoral provoca o deslocamento do grupo. O sentimento experimentado se traduziria por certa melancolia de deixar a ilha e, assim, aumentar a distância do grupo até então formado com a professora e pelo ânimo aventurado pela possibilidade de poder agregar outras vozes ao grupo. O desafio agora era expandir o GEEMCo não deixando que as relações até então estabelecidas se esvaíssem. No entanto, sabíamos que alguns estudantes estavam tomando diferentes
- 21. 20 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O rumos para a sua vida acadêmica. Mas, como diz Nietzsche (2010), seria preciso deixa-los partir pois “retribui-se mal um mestre quando se permanece sempre e somente discípulo”. (Ibidem, p.105) Assim ocorreu. Uns se foram, outros chegaram. Novas professoras aceitaram o convite para compor o grupo e novos estudantes começaram a participar dos encontros. A liderança do GEEMCo foi dividida com a Professora Suelen Assunção Santos. A professora Josaine de Moura, antiga parceira de doutorado também foi incluída como pesquisadora. Para usar uma expressão bastante atual diríamos que o grupo segue “fazendo balburdia”, mas agora pelos territórios mais ao sul do Brasil. As pesquisas foram tomando diferentes rumos. Novas leituras e novos estudos foram sendo aprofundados e pode-se dizer que Deleuze, além de Foucault, passa a ter trânsito mais livre entre nós. Ademais, a inserção das professoras Claudia, Suelen e Josaine nos Programas de Pós-Graduação em Educação em Ciências – UFRGS e Pós-Graduação em Ensino de Ciências Exatas – FURG estendeu as análises para além do campo da Educação Matemática, tomando também as dimensões da Educação em Ciências. Os objetivos de investigação, estudos e pesquisas continuam visando compreender como os discursos e as práticas atuam na produção de “verdades” e de sujeitos. Além disso, investigar e propor estudos relacionados às temáticas do ensino e aprendizagem das Ciências Exatas e suas repercussões nas práticas e discursos pedagógicos, objetivando a ampliação e consolidação destes conhecimentos e a qualificação de professores do Ensino Básico e Superior. Assim, encontram-se nessa publicação textos que são oriundos de pesquisas atuais realizados pelos integrantes do GEEMCo. Ao observar cada pesquisa realizada e as especifici- dades de cada texto produzido, é possível inferir que o GEEMCo não se constituiu apenas como um grupo, pois possui múltiplas
- 22. 21 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O identidades podendo também ser um bando1 , uma turma2 , um clube3 , uma escumalha4 , uma turba5 , um..., uma .... Não há palavra que consiga traduzir o que o GEEMCo significa. Mas utilizando o conceito matemático de limite e entendendo-o como “[...] uma fabri- cação da representação, uma tentativa de fixar aquilo que está em perpétuo movimento, de organizar o caos” (SANCHOTENE, 2013, p.78), poderíamos ainda dizer que o GEEMCo é o limite do soma- tório dos significados de grupo (g1), bando (g2), turma (g3), clube (g4), escumalha (g5), turba (g6), entre tantos outros que poderí- amos, ou poderemos, ou ainda, não podemos elencar. Dito de outra maneira, o GEEMCo é o limite da aglomeração de todos os signifi- cados de palavras, incluindo as que ainda estão em devir: Cada parcela dessa soma infinita possui similaridades e dife- renças entre si; “a diferença é a potência problemática do limite, em sua indeterminabilidade. O limite existe, mas não pode ser fixado” 1. Substantivo masculino: qualquer conjunto de animais ou agrupamento de pessoas: bando de pássaros; bando de funcionários. Aqueles que fazem parte de um partido ou organização. [Jurídico] Aglomeração de pessoas que se juntam para praticar crimes; quadrilha. Conjunto de famílias que habita determinada região, compartilhando dos mesmos hábitos ou cultura: bando de marroquinos. Etimologia (origem da palavra bando). Do latim bandum. https://www.dicio.com. br/bando/ (acessado em 29/07/2019). 2. Substantivo feminino: grupo de trabalhadores que operam juntos sob a direção de um chefe. Grupo de pessoas que se revezam na execução de serviços ou tarefas. Cada um dos grupos de alunos em que se divide uma classe (ou série) muito numerosa. Grupo de pessoas com inte- resses afins; gente, pessoal. https://www.dicio.com.br/turma/ (acessado em 29/07/2019). 3. Substantivo masculino: sociedade de pessoas que se reúnem habitualmente em certo local, para recreação, jogos, atividades culturais, prática de esportes etc. Associação, grêmio. https:// www.dicio.com.br/clube/ (acessado em 29/07/2019). 4. Substantivo feminino: resíduo originado da fusão de certos metais (escória) que foi submetido à fusão; escumalho. [Figurado] Refere-se a parte desfavorecida (monetariamente) de uma socie- dade; ralé. Etimologia (origem da palavra escumalha). Escuma + alha ou feminino de escumalho. https://www.dicio.com.br/escumalha/ (acessado em 29/07/2019). 5. Substantivo feminino: grande massa de gente; excesso de pessoas aglomeradas num só lugar; multidão. Grande número de pessoas reunidas em movimento, normalmente em desordem ou com tendência para agir violentamente; turbilhão.[Pejorativo] Conjunto de pessoas economica- mente desfavorecidas; populacho. [Por Extensão] Reunião de vários animais em desordem ou que tendem a criar tumulto. Vozes reunidas em coro. Etimologia (origem da palavra turba). Do latim turba.ae. https://www.dicio.com.br/turba/ (acessado em 29/07/2019).
- 23. 22 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O (SANCHOTENE, 2013, p.84). Nessa direção, o GEEMCo existe, mas não pode ser fixado; o GEEMCo é um ponto de acumulação de palavras que já foram inventadas e que estão para acontecer. Nenhuma das palavras existentes dão conta das multiplicidades que o GEEMCo atrai e que o constitui, estando na diferença, a norma do “grupo”. Dito de outra maneira, “[...] o devir, o múltiplo, o acaso não contém nenhuma negação; a diferença é a afirmação pura” (DELEUZE, 1962/1976, p.158). Uma das similaridades do “grupo” está em como entendem o ato de pensar. Inspirados em Foucault pensar é um ato arriscado, uma violência que se autoriza a exercer em si mesmo, e, com isso, produz outra maneira de descrever o que muitos já haviam descrito. Foucault inventou uma possibilidade de fazer pesquisa em que não se busca encontrar “a solução” para um problema, mas trazer para a visibilidade o que está escrito, mas ainda não foi lido. O GEEMCo com suas multiplicidades, diferenças e similari- dades busca se inspirar nessa maneira de fazer pesquisa e convida a todas e todos a lerem, experimentarem, interpretarem seus escritos e os usarem como melhor puderem e quiserem. Referências COSTA, Jurandir Freire. Prefácio a título de diálogo. In: ORTEGA, F. Amizade e estética da existência em Foucault. Rio de Janeiro: Graal, 1999. DELEUZE, Gilles (1962/1976). Nietzsche e a filosofia. Rio de Janeiro: Rio – Sociedade Cultural. DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. Mil Platôs. Vol. 1. São Paulo: Editora 34, 2011. DUARTE, Claudia Glavam; SARTORI, Alice Stephanie Tapia. Foucault e Deleuze: provocações ao discurso da Educação Matemática. In: Revista do Programa De Pós-Graduação em Educação Matemática da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) Perspectivas da Educação Matemática, v. 10, p. 12-28, 2017.
- 24. 23 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O FOUCAULT, Michel. A ordem do discurso. 6. ed. São Paulo: Loyola, 2000a. FOUCAULT, Michel. Microfísica do Poder. Rio de Janeiro: Graal, 2000b. FOUCAULT, Michel. Em defesa da sociedade. São Paulo: Martins Fontes, 2005. GADELHA, Sylvio. Sobre a produção intelectual acadêmico-universitária e o trabalho de pensamento no espaço-tempo da contemporaneidade: aproximações à educação. In: KIRCHOF, Edgar Roberto; WORTMANN, Maria Lúcia; COSTA, Marisa Vorraber (orgs). Estudos Culturais & Educação: contingências, articulações, aventuras, dispersões. Canoas: Editora da ULBRA, 2015. GOES, Aline de. Tornar o aluno crítico: enunciado (in)questionável no discurso da matemática escolar. Dissertação (Mestrado). UFSC, PPGECT, Florianópolis, 2015. MAGALHÃES, A. Jogos de linguagem matemáticos de mulheres rendeiras de Florianópolis. 160 p. Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Ciências da Educação. Programa de Pós-graduação em Educação Cientí! ca e Tecnológica. Florianópolis, SC, 2014. NIETZSCHE, Friedrich. Assim falou Zaratustra, um livro para todos e para ninguém. Tradução de Mario da Silva. 18ª edição, Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010. POL–DROIT, Roger. Michel Foucault: entrevistas. São Paulo: Graal, 2006. SANCHOTENE, Virgínia Crivellaro. A potência da evanescência: diferenças e impossibilidades. Porto Alegre: UFRGS, 2013, 101 f. Dissertação (Mestrado em Educação)– Programa de Pós-Graduação em Educação, Faculdade de Educação, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2013. Disponível em: <http://hdl.handle.net/10183/72147>. Acesso em: 30 jun 2019. SARTORI, Alice Stephanie Tapia; FARIA, Juliano Espezim Soares. O GEEMCo em sua primeira fase: Wittgenstein e Foucault mobilizados para pensar a Educação Matemática. In: Revista de Educação, Ciência e Cultura. Canoas: Editora UNILASALLE, v.23. n.1, 2018. SARTORI, Alice Stephanie Tapia. O lúdico na Educação Matemática Escolar: Efeitos na constituição do sujeito infantil contemporâneo. Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Ciências da Educação. Programa de Pós-graduação em Educação Científica e Tecnológica. Florianópolis, SC, 2015.
- 25. 24 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O SAVIO, Diogo. A tecelagem de tais no Timor-Leste e suas implicações para a Educação Matemática Escolar. Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Ciências da Educação. Programa de Pós-graduação em Educação Científica e Tecnológica. Florianópolis, SC, 2016. SUFIATTI, T. O Currículo de Matemática como dispositivo na constituição do sujeito indígena Kaingang contemporâneo da Terra Indígena Xapecó. 201 p. Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Ciências da Educação. Programa de Pós-graduação em Educação Científica e Tecnológica. Florianópolis, SC, 2014.
- 27. 26 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O CAPÍTULO 1 ELEMENTOS HISTÓRICOS PARA UMA ANÁLISE FOUCAULTIANA DAS PRÁTICAS DE MEMORIZAÇÃO NO ENSINO DE MATEMÁTICA: DA ARTE DA RETÓRICA À CULTURA CRISTÃ Alice Stephanie Tapia Sartori Claudia Glavam Duarte 1 Elementoshistóricos paraumaanálisefoucaultiana daspráticasdememorização noensinodematemática: daartedaretóricaàculturacristã AliceStephanieTapiaSartori ClaudiaGlavamDuarte DOI: 10.31560/pimentacultural/2019.515.26-49
- 28. 27 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O Se continua nos interessando ficcionar o passado, é para nos dotarmos de uma contra-memória, de uma memória que não confirma o presente, mas que o inquieta; que não nos enraíza no presente, mas que nos separa dele. O que nos interessa é uma memória que atue contra o presente, contra a seguridade do presente (LARROSA; SKLIAR, 2001, p.7). O discurso da Educação Matemática, na atualidade, vem sendo atravessado por diversas verdades que conformam as pesquisas neste campo de saber e as práticas pedagógicas dos professores de matemática. Para inquietar o presente e problema- tizar algumas destas verdades, nos cabe o exercício de ficcionar o passado e dar visibilidade a outros regimes de verdade. Neste estudo1 nos referimos especialmente às práticas de memorização, visto que uma discussão recorrente que perpassa o discurso da Educação Matemática levanta questões como: Ainda é necessário que o estudante memorize conteúdos matemáticos, fórmulas e algoritmos? Práticas como decorar, repetir e recitar ainda fazem parte do ensino da matemática? Ficcionar o passado não significa fazermos uma descrição dos séculos e dos povos em questão, mas sim empreender uma investigação sobre suas práticas, consideradas como verdades ou não em determinada época. A partir de uma análise histórica de perspectiva foucaultiana, o que buscamos são algumas condições de possibilidade para as práticas de memorização no ensino de matemática. Tais condições podem ser analisadas a partir de dife- rentes épocas e lugares, porém nesta escrita fazemos um recorte específico que busca dar visibilidade às práticas de memorização desde a Grécia antiga à cultura que emerge do cristianismo. Nesta perspectiva, atentamos ao alerta de Michel Foucault para que os historiadores desconfiem das supostas continuidades da 1. Este texto faz parte das investigações realizadas na Tese de Doutorado intitulada “As práticas de memorização no ensino de matemática: Reconfigurações nos discursos da Revista Nova Escola” (SARTORI, 2019).
- 29. 28 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O história. Segundo ele, o historiador trabalha a partir da descontinui- dade quando volta sua atenção não às épocas e séculos, já recor- tados pela história oficial, mas aos fenômenos de rupturas, ou em outras palavras, quando mudam a ênfase dos fenômenos “estáticos para as interrupções” (2005, p. 84). Assim, podemos conceber a investigação histórica não como sendo “a pesquisa dos começos silenciosos, não mais a regressão sem fim em direção aos primeiros precursores, mas a identificação de um novo tipo de racionalidade e de seus efeitos múltiplos” (FOUCAULT, 2008, p. 4). Em outras pala- vras, caracterizar tal racionalidade é perceber o embate de forças, a grade de inteligibilidade que sustenta o sistema de pensamento e que possibilitou a emergência de algumas práticas em detrimento de outros. Em consonância com as teorizações foucaultianas, não pretendemos determinar uma origem para as práticas de memo- rização, por exemplo, quando “retornamos”1 aos gregos não é para explicitar que naquele período, a partir de uma data definida, ocorre a incursão de tais práticas naquela sociedade. Antes disso, pretendemos mostrar o porquê da autoridade de tais técnicas sobre outras, pois como indaga Foucault, Procurar uma tal origem é tentar reencontrar “o que era imediata- mente”, o “aquilo mesmo” de uma imagem exatamente adequada a si; é tomar por acidental todas as peripécias que puderam ter acon- tecido, todas as astúcias, todos os disfarces; é querer tirar todas as máscaras para desvelar enfim uma identidade primeira. [Apesar disso e contra isso] o que se encontra no começo histórico das coisas não é a identidade ainda preservada da origem (FOUCAULT, 2011, p. 17). Deste modo, buscamos destacar alguns acontecimentos em sua pontualidade e em sua dispersão temporal sem intenção de 1. Afirma Deleuze (1992, p. 146) em uma entrevista sobre Foucault: “[...] com certeza não há retorno aos gregos. Foucault detestava retornos. Ele só falava do que vivia: o domínio de si, ou melhor, a produção de si, é uma evidência em Foucault. O que ele diz é que os gregos “inven- taram” a subjetivação, e isso porque seu regime, a rivalidade entre os homens livres, o permitia”.
- 30. 29 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O buscar, necessariamente, uma abertura fundadora ou totalizante, mas dar visibilidade as suas nuances e suas caracterizações espe- cíficas. Assim, o que pretendemos com este texto é situar breve- mente outras formas de poder existiram em sociedades anteriores a nossa e que possíveis sujeições se pretendiam constituir por meio de práticas educativas em que a memorização fez parte, mesmo que de forma sutil, ressoando nas pedagogias do presente. Recorremos às pistas teóricas de alguns autores como Miguel e Vilela (2008), quando sugerem que a supervalorização da memória nos processos de aprendizagem está atrelada a uma visão platônica clássica, que concebe a memória como faculdade mental com a qual se acessaria os objetos matemáticos que preexistiriam em um mundo perfeito e imutável. Caberia ao ser humano, por meio da memória, buscar acesso a tal conhecimento que existiria a priori. Deste modo, também neste estudo destacamos a concepção platô- nica relacionada à memorização, e para tanto será preciso retomar alguns séculos até a Grécia Antiga, onde encontramos inferências à importância da memória para a arte da retórica. Além deste período, fazemos uma breve digressão até o advento do cristianismo que fez emergir outras relações de poder, cujos efeitos de sujeição diferiam dos gregos, e cujo cenário educa- tivo atribuiu significativa importância à memorização. Como aponta Pinto (2014, p. 48), ainda que “variem com o tempo, os programas da escola primária das primeiras letras carregam o fardo histórico de seu vínculo com os objetivos cristãos”. As escolas de primeiras letras organizavam a aprendizagem em torno da leitura catequética, articulada aos saberes escriturários herdados da cultura clerical. Assim, diversas práticas escolares foram tomadas de empréstimo da “educação jesuíta, junto com a noção de classe e de sala de aula, com o papel dos exercícios e das antologias, com o domínio do corpo e da disciplina do silencio” (SOUZA, 1998, p. 83).
- 31. 30 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O Por fim, descrevemos ainda algumas outras condições de possi- bilidade para as práticas de memorização no ensino de matemática, que aparecem de forma mais sutil na literatura investigada, referente às aritméticas comerciais e à falta de materiais impressos. Assim, a intenção é mostrar que o passado não se baseia em uma continuidade e nem em uma causa única, mas em diversas relações de poder que conformaram saberes e fazeres em determinada sociedade. As práticas de memorização: dos gregos à cultura cristã Se recorrermos às histórias da Educação na antiguidade, encontramos inferências à memorização desde a tradição grega que visava à formação do cidadão orador, útil à pátria e aos costumes do Estado (GILES, 1987). Na Grécia, para a formação do homem culto, por volta do ano 100 a.C. era considerado indispensável o ensino da língua grega, da lógica, da gramática, da geometria, da música, da arte e da retórica. Esta última ocupava uma posição central no ensino na Grécia antiga, tanto que no período helenístico, que compreende os séculos III e II a.C., passa a existir um curso de instrução, com ideal humanista, referente à prática da retórica que era consagrada essencial à vida pública. Da mesma forma encontramos em Cícero (106-43 a.C.), na obra Sobre o Orador, o mais famoso escrito sobre a educação romana, os princípios para o processo educativo destinado à vida pública e à formação do indivíduo para governar adequadamente. O instrumento que favoreceu a formação deste sujeito foi justamente a retórica, ou seja, a habilidade no falar, a capacidade de expor ideias e organizá-las a fim de persuadir o próximo, o que serviria de base também para as outras artes ou disciplinas como a Literatura, a Matemática, a Astronomia, etc.
- 32. 31 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O Os oradores tinham a função de proferir com regularidade extensos discursos de cor, sem recurso de materiais escritos, o que exigia certo tipo de estratégia com base na memória das informa- ções, isto é, neste contexto de ensino, “o método baseava-se na memorização através da repetição. Portanto, o processo comum era a instrução oral” (GILES, 1987, p. 40). Neste cenário, a memori- zação era entendida não como uma predisposição natural do indi- víduo, mas como uma técnica a ser desenvolvida pelos oradores. O ensino da retórica, entendido como sendo uma técnica, uma rotina ou um saber-fazer, estava estreito à cópia e a repetição, o que influenciou vigorosamente a tradição ocidental. Assim, é possível inferir que a arte da memória esteve atre- lada à arte da retórica, disseminada pela tradição europeia. Uma das técnicas de memorização mais conhecidas advinda dos gregos é aquela supostamente criada por Simônedes de Ceos (556 a. C. – 468 a. C.), poeta lírico nascido na Ilha de Ceos. Essa história foi contada por Cícero em De oratore, quando aponta a memória como uma das cinco partes constituintes da retórica. Tal história refere-se a um banquete oferecido por Scopas, escultor da Antiga Grécia, em que Simônedes foi contratado para entoar um poema lírico. Após feito, Simônedes retirou-se por instantes do palácio, momento em que o teto desabou, matando Scopas e todos os convidados. [...] os corpos estavam tão deformados que os parentes que vieram reconhece-los para cumprir os funerais não conseguiram identificá- -los. Mas Simônedes recordava-se dos lugares dos convidados à mesa e assim pôde indicar aos parentes quais eram os seus mortos. [...] e essa experiência sugeriu ao poeta os princípios da arte da memória, da qual se diz o inventor. Ao notar que fora devido a sua memória dos lugares onde os convidados se haviam sentado que pudera identificar os corpos, ele compreendeu que a disposição ordenada é essencial a uma boa memória (YATES, 2007, p. 18-19). Esta ideia de memória estava associada à imagem, ao desenvolvimento de métodos para guardá-las como lembranças. Esta característica dos processos de memorização é justamente
- 33. 32 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O o que veio a ser criticado por alguns filósofos, especialmente por Platão, que abordou o tema em seus diálogos sofísticos. Para ele, a problemática da memória está ligada à da verdade, da ética e do conhecimento. Por meio de uma metáfora, o filósofo explica que em nossa alma existe um bloco de cera, que em sua qualidade varia conforme as experiências individuais de cada sujeito, pois seus pensamentos e percepções, ou seja, as lembranças, são impressas neste bloco. Assim, as lembranças são apreendidas como conhe- cimento, conhecimento verdadeiro quando se opõe à mera opinião daquilo que não foi de fato impresso na memória, daí o entendi- mento de erro e falsidade. A memória, em consonância com as sensações que dizem respeito àquelas ocorrências, é como se escrevesse, por assim dizer, discursos na alma; e quando o sentimento da ocorrência escreve certo, então se forma em nós opinião verdadeira, da qual também decorrem discursos verdadeiros; porém quando o escrevente que temos dentro de nós escreve errado, produz-se precisamente o contrário da verdade (PLATÃO, 1974, p.28). A rememoração no sentido platônico é transcendental à reali- dade e ao tempo. Na teoria platônica, a memória é uma faculdade humana individual, e está apoiada na ideia de “memória como presença, sob forma de representação de uma coisa ausente, abrindo uma longa tradição de estudos que se concentrarão nas noções de imagem, quadro, traço” (DO VALLE; BOGÈA, 2018, p. 8). A pintura, neste entendimento, produziria semelhanças da realidade por meio da imitação, então o mundo dos sentidos seria uma cópia ou imitação do mundo das ideias (da perfeição). Tais imitações, por exemplo, poderiam levar ao erro, pois os objetos impressos nas pinturas pelo artista os fariam parecer verdadeiros. Encontramos, portanto, nessa concepção de memória, uma associação às lembranças que podem levar à falsa apreensão da verdade, tema amplamente esmiuçado nas obras de Platão.
- 34. 33 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O Conforme apontam Do Valle e Bogéa (2018), Aristóteles buscou romper com a tradição platônica especialmente no tratado intitulado De la mémoire et de la réminiscence, no qual concebeu uma investigação da memória. Um dos apontamentos do filósofo é que esta faculdade não se resume em sustentar lembranças, mas tem o papel de produzir imagens mentais que são fundamentais para as atividades do sujeito pensante. Aristóteles retoma a distinção entre mnēmē e anamnēsis, que não mais indica, como em Platão, a desproporção ontológica entre o saber verda- deiro e as aparências, mas passa a fundamentar a noção de que a rememoração pode constituir-se em uma investigação ativa e deliberada do indivíduo (RICOEUR, 2000, apud DO VALLE; BOGÈA, 2018, p. 8). Para Aristóteles, a memória tem relação com o tempo, enten- dida como representação do que foi apreendido no passado, o que permite discernir o antes e o depois: “[...] cada vez, com efeito, como foi dito precedentemente, que rememoramos, porque já vimos, ouvimos ou aprendemos tal coisa, percebemos, além disso, que isso se produziu anteriormente. Ora, o anterior e o posterior estão no tempo” (ARISTOTELES, 2002, apud DO VALLE; BOGÈA, 2018, p. 9). Esta linha de pensamento vai de encontro à concepção platô- nica, visto que a memória além de ser uma forma de lembranças impressas na alma, também ocorre a partir de circunstâncias fisio- lógicas. A memória produzida pelo corpo e pela alma possibilita a criação de hábitos e saberes-fazer. Como sugerem Do Valle e Bogèa (2018, p.11), “o que fornece atualidade à teoria aristotélica é o fato de que a memória seja apresentada como um fenômeno encarnado, não apenas mental, mas igualmente fisiológico”. Em meio às divergências sobre as concepções filosóficas de memória, ligadas aos aspectos temporal e epistêmico como evidenciado por Platão e Aristóteles, os gregos estiveram no cerne da discussão sobre a retórica, já que esta dependia estritamente da memória. No entanto, Platão considerava a retórica como uma
- 35. 34 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O questão de importância secundária, pois advertia que o objetivo do “falar bem” poderia tornar-se um equívoco se não fosse idea- lizado com a intenção de conhecer a verdade e não somente de convencer alguém. Diferentemente dos filósofos, que inaugu- raram esta preocupação, os retóricos se detiveram estritamente à linguagem, propondo técnicas que auxiliassem no aperfeiçoamento do discurso, o que conferia a memória outros usos e sentidos. Isócrates (436-338 a. C.), orador e retórico ateniense, conhe- cido como pai da oratória e que difundiu a retórica no meio escolar ateniense, atentava para os exercícios de repetição e para as formas de apresentação que facilitavam a aprendizagem dos discursos. Para ele, a eloquência dos sofistas deveria estreitar-se à formação moral, cívica e patriótica. A influência dos retóricos foi mais marcante do que a dos filósofos na Grécia clássica, e a ênfase na linguagem e na literatura orientou a educação naquele período. Diante disso, a concepção filosófica de Platão não perdurou na tradição grega: No plano histórico, Platão [e com ele Sócrates] foi vencido: ele não conseguiu impor, à posteridade, seu ideal pedagógico; conside- rando as coisas no seu conjunto, foi Isócrates quem triunfou, quem se tornou o educador da Grécia e, depois, de todo o mundo Antigo (MARROU, 1975, apud NOGUERA-RAMÍREZ, 2011, p. 93). Quintiliano (35 d.C – 100 d.C.), orador e retórico romano, foi um dos teóricos mais importantes da Antiguidade. Enfatizava que a mnemotécnica1 , técnica para separar o discurso em partes, seria um dos processos para aperfeiçoar e treinar a memória para uma boa retórica. Ao contrário de Cícero e outros filósofos, ele atribuiu mais importância à palavra do que à razão, já que é por meio da palavra que se traduz o pensamento. Outros pensadores, como São Clemente Romano (97 d.C.), o quarto papa do Cristianismo da igreja romana, afirmava que o 1. “Mnemósina (de onde derivam os termos “mnésico”, “mnemotécnico”, etc.), deusa da memória, era mãe das nove musas que presidiam ao conhecimento” (LIEURY, 1993, p. 11).
- 36. 35 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O viés religioso, em seu princípio, utilizava-se também da arte da retó- rica e de suas normas fundadas pela polis grega na época clás- sica. Posteriormente, com a propagação do cristianismo, houve uma ruptura destas ideias no âmbito da Educação, e a retórica, bem como outros aspectos da cultura pagã, sofreram a tentativa de extinção por se apresentarem antagônicos ao pensamento e aos valores cristãos. Em razão disso, décadas após a ascensão da tradição cristã, a arte da retórica foi sendo questionada. Taciano (120-180 d. C.), um escritor do cristianismo e teólogo, em sua principal obra intitulada Discurso contra os gregos, formulou críticas contra os estudos dos filósofos gregos, justificando que a arte da retórica causara injustiças e calúnias, o que promoveu opiniões conflitantes sobre o cristianismo. Além da retórica, Taciano condenava as formulações gregas considerando sua cultura demo- níaca, como o uso de remédios, os espetáculos, o comportamento imoral e o regime político. Em outra perspectiva, outros cristãos buscaram harmonizar a fé cristã e a filosofia grega, possibilitando a formação das primeiras escolas catequéticas no século II, como o escritor e teólogo Clemente de Alexandria (150-215). A Educação nestes lugares foi pensada a partir de duas dimensões, a espiritual e a intelectual, que deveriam progredir juntas, de modo que “a formação intelectual deve seguir a prática costumeira, a partir da aprendizagem do alfa- beto e da ortografia que será baseada nos nomes dos profetas, dos apóstolos e dos patriarcas” (GILES, 1987, p. 61). Neste contexto, o processo educativo também era centrado na aprendizagem de memória e na constante repetição dos textos inspirados na religião. Segundo Do Valle e Bogèa (2018), é principalmente a partir do cristianismo que se constitui a paidéia na Educação Clássica, e esta se baseada na memorização, no recitar e na repetição de exercícios mnemotécnicos. A recitação de memória utilizada no ensino é uma
- 37. 36 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O parte da paidéia, já que por muito tempo “definiu um modo privile- giado de transmissão, controlado pelos educadores, de textos tidos senão por fundadores da cultura ensinada, ao menos por presti- giosos, no sentido de textos que tinham autoridade” (RICOEUR, 2000, apud DO VALLE; BOGÈA, 2018, p. 4). Segundo Paiva (2015), a Retórica originária da oratória greco-romana como mecanismo de formação, tornou a ser valori- zada após o Concílio de Trento (1545-1563). Ela tornou-se uma das principais disciplinas do ensino jesuítico, contando que o domínio da retórica seria útil principalmente ao exercício do magistério para formar novos sacerdotes. Não obstante, “o exercício de memori- zação dos textos para o discurso eloquente não se tratava de uma erudição passiva, mecânica, mas de uma ação de análise, compa- ração e versatilidade, agregando as três faculdades: memória, vontade e inteligência” (PAIVA, 2015, p. 209), o que agregava ao ensino jesuítico uma aproximação ao ensino humanista. As propostas da educação cristã emergiram pela paidéia grega. A própria palavra “catecismo” deriva do grego “katechismós”, que significa instrução. O surgimento do catecismo estava atrelado à necessidade de produzir sujeitos cristãos e instrui-los conforme as verdades da religião. O catecismo buscou transmitir às crianças ou iniciantes os conhecimentos, as normas e a doutrina de valores reli- giosos, por meio do método do diálogo e da instrução pela memo- rização. Os catecismos, escritos por reformadores protestantes e bispos católicos, tinham o objetivo de fixar a ciência da salvação para todos, de modo que os manuais visavam [...] Fixar a “letra” da doutrina e fazê-lo memorizar exatamente, de maneira que os fiéis não considerassem verdadeiras as proposições heréticas ou sacrílegas. [...] Esses manuais eram primeiramente guias para os que ensinavam, nos quais as orações e os principais elementos da doutrina eram apresentados sob a forma de perguntas e respostas alternadas. Esse ensino oral (escutar/memorizar/recitar) era uma primeira iniciação à cultura escrita, porque o pastor devia fazer decorar “letra por letra” um texto escrito, impresso, estável (HÉBRARD, 1999, p. 43-44).
- 38. 37 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O Podemos inferir que o ensino articulado aos preceitos reli- giosos também possibilitou a universalização da escrita, pois antes de saber ler, os catequisados eram obrigados a memorizar e reco- nhecer textos. Conforme Algranti (2004), era comum que algumas religiosas acompanhassem a leitura coletiva no coro ou, “dado o caráter repetitivo da leitura dos textos sagrados […] podiam decla- má-los por memorização – ‘reconhecendo’ o texto e não exatamente lendo-o […]” (p. 55-56). A igreja foi a instituição que garantiu a instrução durante a Idade Média, após a destituição do Império Romano, e a partir dela difundiram-se amplas iniciativas no campo educacional. No que tange a cultura e a história do Brasil, foram inúmeros os efeitos advindos dos ideais de jesuítas na Educação, conforme investigou Freire (2009). Assim como na Europa, particularmente em Portugal, as escolas dos jesuítas tinham como ideal formar o homem culto, erudito nas letras, não se detendo à qualificação profissional, já que no país vigorava o trabalho escravo e a agricultura. A Educação dos jesuítas foi predominante no período colonial, imperial e atingiu o período republicano. Segundo o autor supramen- cionado, o método pedagógico empreendido por eles foi radical, ao ponto de intencionarem controlar a mente e a conduta dos indivíduos, pois relegava “a importância da introspecção, e baseava-se em meca- nismos de controle do comportamento, principalmente assentes em processos associativos e memorísticos” (p. 179). Um exemplo, talvez o mais importante, foi a criação da Ratio Studiorum, método de estudos baseado em regras empregadas pela Companhia de Jesus nos colégios a partir de 1540, vigente por mais de quatro séculos. Tal método baseava-se em repetições, pois sem elas as lições eram consideradas inúteis. Tais indicações estão presentes nas regras para cada professor em sua disciplina específica como filosofia, teologia, língua hebraica, matemática, etc.
- 39. 38 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O Na seção “regras comuns a todos os professores” encon- tramos alusões às repetições que enfatizam a memorização, inclu- sive sobre o tempo dispensado para tais finalidades: 11. Repetições na aula.- Terminada a lição, fique na aula ou perto da aula, ao menos durante um quarto de hora, para que os alunos possam interrogá-lo, para que ele possa às vezes perguntá-los sobre a lição e ainda para repeti-la. 12. Repetições em casa.- Todos os dias, exceto os sábados e dias festivos, designe uma hora de repetição aos nossos escolásticos para que assim se exercitem as inteligências e melhor se esclareçam as dificuldades ocorrentes. Assim um ou dois sejam avisados com antecedência para repetir a lição de memória, mas só por um quarto de hora (FRANCA, 1952, p. 58). Já nas regras do professor de matemática neste mesmo guia, elencamos as seguintes indicações que perpassam, novamente, o aspecto da repetição: 2. Problema. - Todos os meses, ou pelo menos de dois em dois meses, na presença de um auditório de filósofos e teólogos, procure que um dos alunos resolva algum problema célebre de matemática; e, em seguida, se parecer bem, defenda a solução. 3. Repetição. - Uma vez por mês, em geral num sábado, em vez da preleção repita-se publicamente os pontos principais explicados no mês (FRANCA, 1952, p. 66). Constatamos ainda a existência de um ensino sequencial, formado por cinco passos: a preleção, a contenda, a memorização, a expressão e a imitação, reforçando, segundo Paiva (2015), o espí- rito militar que atravessava os pressupostos da Companhia de Jesus. Além de o ensino ser expositivo, livresco, sem tanto sentido prático, o método empregado pela Ratio Studiorum ocorria por meio de recapi- tulações, sabatinas e disputas semanais e anuais. Os sábados, por exemplo, eram reservados para que os estudantes recitassem em público o que foi aprendido durante uma ou mais semanas: No sábado, na primeira hora matutina, recitação de cor, em voz alta, das lições de toda a semana; na segunda hora, repetição. Na última meia hora, declamação ou lição por algum dos alunos, ou assistência
- 40. 39 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O a exercícios escolares dos retóricos, ou desafio. Pela tarde na primeira meia-hora recitação de cor de algum poeta e do catecismo, enquanto o professor revê os trabalhos escritos da semana porventura ainda não revistos e percorre as notas dos decuriões (FRANCA, 1952, p. 81). Os jesuítas acreditavam que seu método de ensino propi- ciara avanços em relação aos métodos da Idade Média, em que os alunos decoravam sem nenhum discernimento ou crítica, porém esta proposta baseava-se em processos mecânicos e em recom- pensas. Em consonância, Gadotti (2002) também acrescenta que “os jesuítas nos legaram um ensino de caráter verbalista, retórico, livresco, memorístico e repetitivo, que estimulava a competição através de prêmios e castigos” (p. 231). Segundo Freire (2009, p. 183), com a dominação dos jesuítas o Brasil se afastava das novas ideias que emergiram na Europa, visto que os padres não eram a favor da liberdade de ideias, mas de impor autoridade. A Educação efetivada pela Companhia de Jesus configurava-se como [...] uma pedagogia que não valorizava o pensamento crítico que começava a despontar na Europa, mas por um apego a formas dogmáticas de pensamento e pela revalorização da escolástica como método e como filosofia, pela reafirmação da autoridade, quer da Igreja, quer dos antigos, enfim, pela prática de exercícios intelec- tuais com a finalidade de reforçar a memória e capacitar o raciocínio dos alunos para fazerem comentários de textos. Deste modo, o fator que parece ter forte relação com tradição pedagógica da memorização, segundo Souza (1998), é a cultura da oralização advinda do catolicismo, especialmente a partir da educação religiosa, que ressoava tanto nas elites urbanas quanto na percepção popular. Com o catecismo institui-se uma tradição de memorização, pois era necessária, por parte do catecúmeno, uma repetição mecânica já que este só deveria reproduzir os dogmas da igreja, sem desenvolver ideias próprias. Além disso, o catecismo era constituído por um padrão de perguntas e respostas padronizadas,
- 41. 40 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O o que conduzia para a repetição constante, em que “um texto pode servir de cânon para as repetições exatas” (SOUZA, 1998, p. 84). O catolicismo popular introduzira a memorização nas orações, que não deveriam necessitar de leitura, mas estarem fixas na memória em caso de algum momento de apuro. Por este motivo também se formavam as rimas nas orações que deveriam ser sabidas de cor. Sobre este contexto, a autora (p. 87) aponta que algumas “rezas populares assumem a função de quadrinha, fácil de memorizar” e apontam traços de conteúdos escolares, como no caso da aritmética: Minhas almas santas bendictas, / aquellas que são do meu senhor Jesus Cristo, / por aquelas tres almas que morreram enforcadas, / por aquellas tres almas que morreram degoladas, / por aquellas tres almas que morreram a ferro frio, / juntas todas tres, todas seis e todas nove, / para darem tres pancadas no coração dos inimigos, / que eles ficarão humildes a mim, / debaixo de paz e consolação, / a ponto de terem olhos e não me verem, / pernas e não me alcan- çarem, / braços e não me agarrarem, / para sempre e sem fim (João do Rio, 1905, apud SOUZA, 1998, p. 87). Seriam, portanto, as práticas escolares de memorização arti- fícios advindos de uma forma de governo centrada em uma epis- tème cristã? Poderíamos pensar ainda, em consonância com a perspectiva foucaultiana, se a relação estabelecida com a memória faria parte de estratégias mais amplas de exercício de uma forma de poder, a qual Foucault chamou de poder pastoral? Assim, obser- vamos que para além das intencionalidades do uso da memori- zação há também o exercício do poder a fim de conduzir condutas. O poder pastoral advém da emergência do cristianismo no Oriente no século II, e posteriormente se desenvolveu no Ocidente. A ideia dos indivíduos conduzidos pela figura central do pastor, como aquele que guia suas ovelhas é, para Foucault a sustentação desta forma de exercício do poder pastoral, assim como Deus guia a natureza. Na tradição grega, a palavra governo tinha seu significado
- 42. 41 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O atrelado ao território, já para o poder pastoral, governar tem outro sentido, ligado aos indivíduos. A função do pastor difere-se assim do homem político, pois enquanto este estava encarregado de governar a cidade, o pastor governa cada ovelha individualmente. Os efeitos individualizantes desse poder, o caracterizam mediante a obediência de cada alma para com seu pastor, levando-a à salvação, o que caracteriza um processo de subjetivação específico desta forma de poder. Tal desencontro entre as concepções de governo grega e cristã advém ainda de seus entendimentos distintos sobre a “análise de consciência”. Enquanto que no modelo grego o indi- víduo, acompanhado por um filósofo, examinava sua consciência a fim de controlar a si mesmo, no modelo do poder pastoral a vigilância da consciência é constante, e torna-se uma ferramenta para reproduzir a verdade e intervir nas condutas. O poder pastoral evidencia suas formas de governo atreladas a condução das almas pela verdade, pois um dos mecanismos que atuam para a consti- tuição dos sujeitos é a confissão da verdade. Porém, outras técnicas próprias da igreja, além da confissão, foram sendo incorporadas pelas demais instituições. Tais mecanismos de subjetivação entraram em crise no século XVI, no entanto, não foram extintos das sociedades precedentes, foram apropriados por práticas mais sutis. Mais especificamente na docência, o professor, ao conduzir seus educandos pode exercer o poder pastoral, zelando pelo seu rebanho. Neste sentido, Hunter (1998, p. 23) aponta que as técnicas advindas desta forma de poder fizeram emergir novas relações no contexto educacional, como [...] um conjunto especial de disciplinas “espirituais” (de uma prática particular de relacionar-se e governar-se a si mesmo), personificada na relação pastoral entre mestre e aluno. Veremos que é o “jogo do pastor do rebanho”, próprio do cristianismo, com sua característica articulação de vigilância e autoescrutínio, obediência e autorregu- lação, aquilo que continua proporcionando o núcleo da tecnologia moral da escola, muito depois de que foram apagados os seus apoios doutrinais.
- 43. 42 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O Neste contexto, mesmo que a retórica tenha sido apropriada pelos princípios da educação cristã, observamos que os atos de memorização passaram por ressignificações quanto aos seus obje- tivos. Observamos assim, algumas transições no foco da formação de um sujeito político para a ênfase em formações individuais de sujeitos como um rebanho governado pelo pastor/professor. Neste ponto, podemos ainda relacionar as mudanças de ênfases na memorização com as diferenças entre a pedagogia e a psicagogia das quais trata Foucault (2006). O filósofo considera como pedagógica uma relação que atribui ao sujeito aptidões definidas, enquanto que a relação psicagógica tem a função de transformar o modo de ser do sujeito ao invés de dotá-lo de compe- tências. Esta diferença pode ser observada nas distintas relações com a verdade na antiguidade greco-romana e posteriormente no modo cristão. Enquanto que na primeira a verdade estava colocada sobre a figura do mestre, na psicagogia cristã o dizer a verdade estava centrado no próprio sujeito, na alma do discípulo guiado. A confissão cristã consiste, portanto, no dizer a verdade que modifi- cará a alma do sujeito. Tal deslocamento que possibilitou a ênfase do mestre para o discípulo teria levado a essa mudança nas práticas pedagógicas (NOGUERA-RAMÍREZ, 2011). A psicagogia se opõe à retórica neste contexto, como podemos observar quando Foucault (2006, p. 118) descreve um aluno em uma aula de retórica, opondo as características do ensino retórico ao cuidado de si: Vemos, por exemplo, em Epicteto, o modo divertido de colocar nos eixos o pequeno aluno de retórica que acabara de chegar. Já seu retrato físico é interessante, mostrando, situando um pouco, onde se acha o ponto maior de conflito entre a prática de si filosófica e o ensino retórico: o aluno chega enfeitado, maquiado, com seus cabelinhos frisados, manifestando assim que o ensino da retórica é um ensino decorativo, da falsa aparência, da sedução. Importa não ocupar-se consigo, mas agradar os outros.
- 44. 43 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O Assim, podemos pensar que o uso da memória a fim de persuadir mediante a retórica tem como efeitos a produção do sujeito que difere daquele instituído pelas práticas psicagógicas onde, por exemplo, a memorização de textos e versos religiosos atua como produtora da alma. Tais concepções e usos da memorização foram sendo desti- tuídos em importância à luz das perspectivas enciclopedistas e ilumi- nistas que vigoravam na Europa ao longo do século XVIII, a partir de vertentes anticatólicas e de questões políticas, sociais e econômicas (FREIRE, 2009). No que compete à Educação, a ênfase na compre- ensão e no pensamento crítico, advinda dos ideais iluministas, possi- bilitaria um avanço social e econômico que somente “os métodos memorísticos, por estarem relacionados à repetição dos “fatos, dos comportamentos e das coisas” não poderiam desenvolver” (Ibidem, p. 185). Nem a Coroa portuguesa, nem a igreja tinham mais interesses únicos na Educação jesuítica, e um dos motivos, dentre todos os outros de ordem política e econômica, eram as mudanças de funda- mentos da Igreja. As modificações no pensamento cristão tomaram grandes proporções, pois tais críticos acreditavam que combateriam o protestantismo se os fiéis compreendessem o catolicismo e não apenas reproduzissem seus princípios. Neste sentido, nos questionamos sobre possíveis relações entre os interesses da Igreja e os ideais lançados pelo iluminismo, que podem, supostamente, ter produzido efeitos no contexto educa- cional, passando a dar visibilidade à compreensão e não somente à memorização mecânica nos processos de ensino. Assim, uma continuidade deste estudo se faz necessária, no entanto, a partir dos apontamentos feitos até aqui podemos questionar o presente: Como as práticas de memorização no ensino de matemática contri- buem para a constituição de sujeitos na contemporaneidade, e que relações de poder perpassam estas práticas?
- 45. 44 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O No ensino de matemática: Outras condições de possibilidade para a memorização Explicações para a naturalização do entendimento da memória nos processos de ensino advém de outras justificativas além das elencadas até aqui. Especialmente no que se refere aos conhecimentos matemáticos, Miguel e Vilela (2008) especulam que as aritméticas comerciais, utilizadas desde o século XIII, podem ter contribuído “para a constituição e valorização escolares de pers- pectivas mnemônico-mecanicistas até, pelo menos, o início do século XX” (Ibidem, p. 100). As aritméticas comerciais alegoristas influenciaram o desuso do ábaco, por exemplo, que servia como um instrumento para compreender os números naturais pela visua- lização ou pelo concreto, já que as operações fundamentais permi- tiam operar diretamente com os números e símbolos matemáticos. Este é um dos aspectos que pode ter possibilitado a emer- gência de um ensino de aritmética verbal e mecanizado, pois este “uso financeiro” incitava à memorização visual e auditiva dos alga- rismos e símbolos, à contagem mecânica sem a utilização de objetos concretos, à escrita dos números e realização mecânica dos algo- ritmos relacionados às operações básicas (SOUZA, 1996, apud MIGUEL; VILELA, 2008). De modo geral, como apontam os autores, [...] a justificação do modo escolar de mobilização de cultura mate- mática, segundo perspectivas mnemônico-mecanicistas, parecia estar unicamente baseada em argumentos pragmáticos tais como a rapidez, a comodidade, a precisão dos resultados obtidos nos cálculos, bem como a eficácia das técnicas algorítmicas de cálculo escrito, com base no sistema numérico hindu-arábico em relação ao cálculo realizado com o auxílio de ábacos ou dedos (MIGUEL; VILELA, 2008, p. 100). Já Souza (1998), aponta que a memorização vinha compensar a falta de livros e a ausência de conhecimento das disciplinas: “memorizar era uma forma de o professor ensinar aquilo que não
- 46. 45 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O sabia, de o aluno aprender o que não entendiam [...] na esperança de que um dia encontrariam o sentido do que aprenderam de cor” (p. 88). Observamos, portanto, a necessidade da memorização em função da falta de livros, cabendo ao educando, memorizar os conhecimentos repassados pelo professor. Este aspecto nos parece de suma importância nas concepções de educação em dife- rentes épocas e que parece estar obscurecida: a relação da memo- rização com a falta de algo, neste caso de livros e da escrita. Para os antigos memorizar fatos oralmente era necessário, já que não se tinham livros, papel e caneta para que a propagação dos conheci- mentos ocorresse. Assim, a transmissão oral operou por séculos até que iniciasse a difusão dos saberes por meio de escritos. No denominado Sacro Império Romano, por exemplo, com as reformas de Carlos Magno (768-841), a Educação estendeu-se a setores maiores da população, implementando diversas reformas, sendo que uma das mais importantes inovações na época foi a arte de escrever e de uniformizar a ortografia, dado o interesse de difundir os manuscritos existentes. As escolas monásticas, responsáveis pela institucionalização do processo educativo, tinham como programa de estudos essencialmente o trivium e o quadrivium que se constituíram como o principal método de estudo conhecido baseado na memori- zação. Ao se referir à primeira teoria sistemática da educação feudal, por volta do ano 1100, Giles (1987, p. 72) afirma: [...] a base do processo educativo será a memorização, pois ainda estamos numa época em que os códigos manuscritos são poucos, falta a paginação, e mesmo as cópias de manuscritos e de livros que se encontram nas bibliotecas estão acorrentadas ou protegidas contra o furto por outros meios. É com toda a razão que se dizia: “A sabedoria é um tesouro, a mente, um cofre”. A própria invenção da escrita é alvo da crítica de Platão no seu diálogo de Fedro, pois ele acreditava que a memória sofreria se o ser humano pudesse escrever sobre as coisas que antes eram arquivadas pela memória. Segundo Platão, a descoberta da escrita
- 47. 46 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O provocou “[...] nas almas o esquecimento de quanto se aprende, devido à falta de exercício da memória, porque confiados na escrita, é do exterior, por meio de sinais estranhos, e não de dentro, graças a esforços próprios, que obterão as recordações” (PLATÃO, 1997, apud RODRIGUES, 2015, p. 100). Considerações finais Neste texto, evidenciamos que desde a tradição grega, a memorização era uma prática costumeira que, aliada à retórica, formava oradores, ou seja, sujeitos políticos, úteis à cidade. Neste contexto grego, a memória foi centro da problemática de filósofos como Platão e a Aristóteles, que discutiram as relações desta com a verdade. Outra condição de possibilidade para as práticas de memorização foi a cultura da oralização advinda do cristianismo, que fez emergir novas formas de poder, como o poder pastoral, e produziu outras subjetividades distintas das dos gregos. No ensino jesuítico, por exemplo, a aprendizagem era baseada na memória e na repetição constante e verbalista. Apontamos ainda, outros processos sutis que podem ter possibilitado a emergência de certas práticas de memorização, como as aritméticas comerciais e a falta de livros e materiais impressos. Em uma perspectiva foucaultiana, analisar o passado das práticas de memorização se torna um elemento fundamental para a compreensão destas práticas no presente, pois se olharmos para o passado é para nos darmos conta de nossa própria história, já “nada nos chega do passado que não seja convocado por uma estratégia, armado por uma tática, visando atender alguma demanda do nosso próprio tempo” (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2000, p. 123). Esta perspectiva histórica nos coloca em uma posição na qual se torna necessário “escavar” o passado para compreender o presente, ou
- 48. 47 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O seja, quando o filósofo faz uma história da loucura, da sexualidade ou das prisões, não está fazendo nada mais do que problematizar o presente. Como afirmou em uma entrevista: Tento pôr em evidência, fundamentando-me em sua formação histórica, sistemas que ainda são os nossos nos dias de hoje, e no interior dos quais nos encontramos inseridos. Trata-se no fundo de apesentar uma crítica de nosso tempo, fundamentada em análises retrospectivas (FOUCAULT, 2012, p. 12). Fazer uso instrumental da história nesta perspectiva provoca um questionamento das práticas contemporâneas a partir de seus rastros no passado, ou seja, identificar que relações históricas as articulam. Trata-se de trazer as práticas à superfície, fazer insurgir aquelas que foram submersas por não apresentarem, a priori, autoridade para a constituição de uma história. Ou seja, dar uma compreensão ao “modo de ser das coisas” (FOUCAULT, 1999, p. XIX) que perpassa uma época, as alterações dos fluxos e algumas interrupções neste campo de saber. Sendo assim, nossa intenção não foi a de abarcar uma totalidade histórica que abrangeria o espí- rito de uma época, mas levar em conta as consequências de um pensamento que engendrou transformações em diferentes âmbitos na sociedade, em especial na Educação. Estas reflexões nos levam a questionar o presente, perguntando, portanto, que relações de poder perpassam as práticas de memorização no ensino de mate- mática na contemporaneidade? Como contribuem para a consti- tuição de sujeitos? Referências ALBUQUERQUE JÚNIOR, Durval Muniz de. Um leque que respira: a questão do objeto em história. In: PORTOCARRERO, Vera; CASTELO BRANCO, Guilherme. Retratos de Foucault. Rio de Janeiro: Nau, 2000. p. 117-137.
- 49. 48 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O ALGRANTI, Leila M. Livros de devoção, atos de censura: ensaios de história do livro e da leitura na América portuguesa (1750-1821). São Paulo: Hucitec; Fapesp, 2004. DO VALLE, LÍLIAN; BOGÉA, DIOGO. Memória e memorização. Revista Brasileira de Educação, v. 23, p. e230017, 2018. FOUCAULT, Michel. As palavras e as coisas: uma arqueologia das ciências humanas. São Paulo, Martins Fontes, v. 200, 1999. ______. Ditos e escritos - vol. II. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005. ______. A hermenêutica do sujeito: curso dado no Collège de France (1981-1982). Tradução de Márcio Alves da Fonseca e Salma Tannus Muchail. São Paulo: Martins Fontes, 2006. ______. A arqueologia do saber. Michel Foucault; tradução de Luiz Felipe Baeta Neves, -7ed. - Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2008. ______. Microfísica do poder. Rio de Janeiro: Edições Graal, 2011. ______. Ditos e Escritos, volume IV: estratégia, poder-saber. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2012. FRANCA, Leonel. O “Ratio Studiorum”. Introdução e Tradução. Rio de Janeiro: Livraria AGIR Editora, 1952. FREIRE, Luiz Gustavo Lima. Educação Jesuítica do século XVI ao XVIII: a memória do espaço e o espaço da memória. Revista Cadernos do Ceom, v. 22, n. 31, p. 177-192, 2009. GADOTTI, Moacir. História das Ideias Pedagógicas. 8. ed. São Paulo: Ática, 2002. GILES, Thomas Ransom. História da Educação. São Paulo: EPU, 1987. HÉBRARD, Jean. Três figuras de jovens leitores: alfabetização e escolarização do ponto de vista da história cultural. In: ABREU, Márcia (Org.). Leitura, história e história da leitura. Campinas: Mercado das Letras/ ALB; São Paulo: FAPESP, 1999. p. 33-78. HUNTER, Ian. Repensar la escuela. Subjetividad, burocracia y crítica. Barcelona: Pomares-Corredor, 1998. LARROSA, Jorge; SKLIAR, Carlos. Habitantes de Babel: políticas e poéticas da diferença. Belo Horizonte: Autêntica, 2001. LIEURY, Alain. A memória: do cérebro à escola. Instituto Piaget: Lisboa, 1993.
- 50. 49 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O MIGUEL, Antonio; VILELA, Denise Silva. Práticas escolares de mobilização de Cultura Matemática. Cad. Cedes, Campinas, vol. 28, n. 74, p. 97-120, jan./abr. 2008 NOGUERA-RAMÍREZ, Carlos Ernesto. Pedagogia e governamentalidade ou Da Modernidade como uma sociedade educativa. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2011. PAIVA, Wilson Alves de. O legado dos jesuítas na educação brasileira. Educação em Revista. Belo Horizonte. v.31, n.04, p. 201 – 222. Outubro- Dezembro 2015. PINTO, Neuza Bertoni. Renovação dos Programas de Ensino de Arimética da Escola primária em São Paulo e no Paraná nos anos de 1930: um estudo histórico-comparativo. Hist. Educ. [Online] Porto Alegre v. 18 n. 44 Set./dez. 2014 p. 45-59 PLATÃO. Filebo. Trad. Carlos Alberto Nunes. Belém: UFPA, 1974. RODRIGUES, Reginaldo Ferreira. Escrita e memória no Fedro de Platão. Griot-Revista de Filosofia, v. 11, n. 1, 2015. SARTORI, Alice Stephanie Tapia. As práticas de memorização no ensino de matemática: Reconfigurações nos discursos da Revista Nova Escola. 2019. 251 f. Tese (Doutorado em Educação Científica e Tecnológica). Programa de Pós-Graduação em Educação Científica e Tecnológica. Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2019. SOUZA, Maria Cecília Cortez Christiano de. Decorar, lembrar e repetir: o significado de práticas escolares na escola brasileira do final do século XIX. História da educação: processos, práticas e saberes. Escrituras: São Paulo, 1998. YATES, Francês A. A Arte da Memória. Campinas: Ed. UNICAMP, p. 17-46, 2007.
- 51. CAPÍTULO 2 REVERBERAÇÕES DA FILOSOFIA WITTGENSTEINIANA NA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA Claudia Glavam Duarte Leonidas Roberto Taschetto 2 Reverberações dafilosofia Wittgensteiniana naeducação matemática ClaudiaGlavamDuarte LeonidasRobertoTaschetto DOI: 10.31560/pimentacultural/2019.515.50-70
- 52. 51 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O Para início de conversa... Guardadas as divergências e críticas dirigidas à obra de Ludwig Wittgenstein pelo filósofo francês Gilles Deleuze, iniciamos este texto lembrando que, em 1979, Deleuze escreveu um pequeno texto cujo título, bastante promissor e provocativo, indagava “em que a filosofia pode servir a matemáticos, ou mesmo a músicos: mesmo e, sobretudo, quando ela não fala de música ou de mate- mática” (Deleuze, 2002, p. 225). Movido pelo intuito de questionar o modelo pedagógico imposto pelas normas do Ministério de Educação o qual Vincennes não se opunha, mas resistira, Deleuze, de certa forma, sinalizava a necessidade de uma filosofia pragmá- tica que propiciasse aos alunos uma participação mais efetiva nas aulas no sentido de possibilitar intervenções em função de suas necessidades específicas, fossem eles matemáticos ou músicos. Para Gilles Deleuze, “jogar no interior de cada disciplina ressonân- cias entre níveis e domínios de exterioridade” (Ibidem, p.226) é mais do que uma mera ação recomendável ou necessária, trata-se de um movimento extremamente saudável e produtivo que não somente evitaria proposições universais, mas igualmente se tornaria mais problemático permanecer em um terreno cercado, autossufi- ciente, portanto confortável, seguro, garantido, consequentemente evitando a permanência nos limites de uma ciência régia. Agindo assim Deleuze acaba se posicionando desde um lugar que evita o modus operandi da tradicional filosofia contemplativa, transcen- dental, que teria força somente em si mesma, devendo nos forçar a pensar, antes de tudo sobre a potência advinda de discussões que abarcam em seu bojo a exterioridade e, neste caso, pensamos a filosofia em relação à Educação Matemática, para perguntarmos se “isso funciona, e como é que funciona? ” (DELEUZE, 2000, p. 16). Acreditamos que a Educação Matemática tem sido potencia- lizada por estas discussões visto que vem se constituindo como
- 53. 52 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O um campo que tem abrigado ultimamente uma multiplicidade de perspectivas teóricas e uma pluralidade de objetos de análises resultantes das contribuições de pesquisadores interessados em problematizar o conhecimento matemático e suas implicações educacionais. A amplitude desse debate envolvendo essas dife- rentes abordagens e perspectivas têm provocado importantes ressignificações no campo da Educação Matemática e isso nos parece ter sido possível em decorrência da ousadia movida pela vontade de saber de alguns pesquisadores que têm se lançado na aventura de buscar em outros territórios – filosóficos, estéticos, antropológicos, sociológicos, entre outros – as ferramentas teóricas e conceituais que potencializam o pensamento fazendo, numa apologia à Nietzsche (2001, p.313), a Educação Matemática dançar. É no sentido de potência, de funcionamento e de fazer a Educação Matemática dançar que nos apropriamos da obra de Wittgenstein, mais especificamente as proposições presentes no seu livro Investigações Filosóficas (2004). Tal empreitada torna-se possível, pois, segundo Richard Rorty (1988, p. 286), existe dife- renças significativas entre o que ele denominou de filósofos siste- máticos e filósofos edificantes. Segundo este autor: Os grandes filósofos sistemáticos são construtivos e oferecem argu- mentos. Os grandes filósofos edificantes são reativos e oferecem sátiras, paródias, aforismos. Eles são intencionalmente periféricos. Os grandes filósofos sistemáticos, como os grandes cientistas, constroem para a eternidade. Os grandes filósofos edificantes destroem para o bem de sua geração. Os filósofos sistemáticos querem colocar o seu tema no caminho seguro de uma Ciência. Os filósofos edificantes querem manter o espaço aberto para a sensação de admiração que os poetas podem por vezes causar – admiração por haver algo de novo debaixo do sol, algo que não é uma representação exta do que já estava ali, algo que (pelo menos no momento) não pode ser explicado e que mal pode ser descrito. São os espaços abertos, os fluxos e as correntes de ar presentes na obra de Wittgenstein que nos permitem problematizar o
- 54. 53 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O campo da Educação Matemática para quem sabe, leva-lo ao campo do impensável até então. No entanto, nosso esforço é precedido por vários trabalhos que, mesmo abarcando uma multiplicidade teórica, tem utilizado ferramentas deste filósofo para alicerçar suas investigações. Dentre estes destacamos KNIJNIK et all, 2012; WANDERER, 2007; VILLELA, 2007; GIONGO, 2008; DUARTE, 2003, 2009. É na esteira destes trabalhos que nosso texto se insere e, para facilitar a leitura, o dividimos em duas partes. A primeira refere-se à problematização que as ferramentas wittgensteinianas nos permitiram realizar sobre o caráter universal pretendido pelo conhecimento matemático. Tal problematização foi feita por vários pesquisadores, como referenciado acima, mas, pensamos não ser possível falar de Wittgenstein sem ponderar suas contribuições para o esfacelamento de qualquer pretensão de universalidade do conhecimento matemático. A segunda parte do texto, que recebe uma maior ênfase por tratar-se de resultados de uma pesquisa de Doutorado (Duarte, 2009), refere-se às implicações pedagógicas para a Educação Matemática a partir da obra do filósofo austríaco. Problematizando a universalidade da Matemática acadêmica. As teorizações propostas por Wittgenstein na obra Investigações Filosóficas (2004) têm contribuído, de forma ímpar, para problematizar o caráter universal pretendido pela matemática acadêmica e, em efeito, alicerçar as afirmações a respeito da exis- tência de diversas matemáticas. Dessa forma, podemos inferir que [...] talvez uma das maiores contribuições de Wittgenstein à cultura contemporânea seja exatamente essa “desconstrução” de uma pretensa racionalidade universal, enormemente ancorada na ideia de categorias, que é não apenas idealista, mais arrogantemente etnocêntrica. (CONDÉ, 2004, p. 139)
- 55. 54 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O Esta contribuição foi possibilitada pelo entendimento de racionalidade apontada por este filósofo. Tal entendimento se afasta da busca pela fundamentação última proveniente tanto de posturas essencialistas, através da busca por uma essência lógica (idealista), quanto de posturas que buscam a positividade dos fatos (positivista). Wittgenstein problematiza, dessa forma, a racionalidade como resul- tado de um modelo representacional da linguagem - que propunha um isomorfismo entre linguagem e mundo. De forma contrária, suas teorizações privilegiam a interação ao invés da representação, ou seja, a racionalidade para este filósofo emerge da gramática, das regras presentes nas interações dos jogos de linguagem, das práticas sociais cotidianas presentes em uma dada forma de vida. Como existem diferentes formas de vida com diferentes jogos de linguagem, é possível inferir a existência de diferentes gramáticas que possibilitam a construção de diferentes racionalidades. A expressão formas de vida utilizada pelo filósofo busca evidenciar o “entrelaçamento entre cultura, visão de mundo e linguagem” (Glock, 1998, p. 173). Segundo Quartieri (2012), “não se poderia dizer que existe uma única forma de vida, mas diferentes formas de vida com características de diferentes culturas e épocas” (Ibidem, p. 28). Ou seja, para Wittgenstein existiriam diferentes formas de vida em que diferentes jogos de linguagem seriam utili- zados conforme o contexto em que estão inseridos. Nesta mesma linha de argumentação Glock (1998) afirma que, “uma forma de vida é uma formação cultural ou social, a totalidade das atividades comunitárias em que estão imersos os nossos jogos de linguagem” (Ibidem, p. 174). De forma geral, a filosofia wittgensteiniana da última fase desestabiliza a compreensão da linguagem enquanto represen- tação do mundo, ou seja, implica em um profundo questionamento e uma crítica ao paradigma da representação, seja ele proveniente de uma concepção metafísica ou empirista. Dito de outra forma,
- 56. 55 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O para este filósofo, aquilo que conhecemos e damos significados, não está no objeto em si, fruto de uma essência, intenção esta do idealismo, nem na positividade dos fatos, justificativa do empirismo. Neste sentido, Wittgenstein se afasta do idealismo por não crer na essência do significado e, por outro lado, também do empirismo por não acreditar na existência da objetividade dos fatos ou do objeto. Para este filósofo, o significado e, por conseguinte o conhe- cimento, se dá no uso que fazemos da linguagem em uma dada forma de vida, ou seja, [...] não é mais relevante, para a compreensão do significado, a determinação lógica e definitiva de unidades mínimas formais, sintáticas ou semânticas, nem a postulação de tais unidades como sendo os fundamentos do significado. Trata-se agora, de buscar unidades, de outra ordem, ou melhor, que serão caracterizadas segundo outros critérios. Os novos critérios, todavia serão de natu- reza distinta dos anteriores, uma vez que não mais será possível, por meio deles, detectar exata e definitivamente as unidades do signi- ficado. Os novos critérios serão fornecidos pelo uso que fazemos da linguagem, nos mais diversos jogos, isto é, nas mais diferentes formas de vida. (MORENO, 1995, p. 56). Nesta perspectiva, sua concepção de linguagem afirma não existir [...] a linguagem, mas simplesmente linguagens, isto é, uma varie- dade imensa de usos, uma pluralidade de funções ou papéis que poderíamos compreender como jogos de linguagem. Entretanto, como também não há uma função única ou privilegiada que possa determinar algum tipo de essência da linguagem, não há também algo que possa ser a essência dos jogos de linguagem. (WITTGENSTEIN Apud CONDÉ, 1998, p. 86, grifos nossos). Wittgenstein, ao afirmar a inexistência de uma essência da linguagem, admite que nenhuma linguagem pode pretender-se universal. Existem linguagens e lógicas particulares, e estas são fruto do contexto onde estão inseridas. Nesta perspectiva, a obra de Wittgenstein fornece a possibilidade para pesquisadores, espe-
- 57. 56 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O cialmente àqueles vinculados a Etnomatemática1 questionarem a pretensão de universalidade da linguagem da Matemática acadê- mica. Assim: A Matemática Acadêmica, a Matemática Escolar, as Matemáticas Camponesas, as Matemáticas Indígenas, em suma, as Matemáticas geradas por grupos culturais específicos podem ser entendidos como conjuntos de jogos de linguagem engendrados em diferentes formas de vida, agregando critérios de racionalidade específicos. Porém, esses diferentes jogos não possuem uma essência invariável que os mantenha completamente incomunicáveis uns dos outros, ne uma propriedade comum a todos eles, mas algumas analogias ou parentescos- o que Wittgenstein denomina de semelhanças de família. (KNIJNIK et ali, 2012, p.31) Para este filósofo, existem jogos de linguagem, e estes estão articulados com as possibilidades de seus usos, nas formas de vida. Tal condição inviabiliza a possibilidade de afirmação de uma linguagem universal, ideal. Além disso, na perspectiva do autor, a função da linguagem não é denotativa, isto é, ela não é representa- tiva das coisas que cercam o mundo e sim atributiva, não existindo, portanto, correspondência biunívoca entre as palavras e as coisas. Desta maneira, as “verdades” não são encontradas através da razão, mas inventadas por ela. Assim sendo, é através dos usos da linguagem que são atribuídos sentidos às atividades, aos objetos e aos acontecimentos e não apenas aspectos alcançados por meio da percepção. Em consequência disso, aquilo que chamamos de “realidade” é construído na e através da pragmática da linguagem, ou seja, “aquilo que para os homens parece assim, é o seu critério para o que é assim. ” (WITTGENSTEIN apud MORENO, 1995, p. 33). Nesta Perspectiva, todos os jogos de linguagem estão corretos desde que os critérios para esta validação tenham sentido 1. Entendemos a Etnomatemática como uma caixa de ferramentas que nos permite [...] estudar os discursos eurocêntricos que instituem as matemáticas acadêmica e escolar; analisar os efeitos de verdade produzidos pelos discursos das matemáticas acadêmica e escolar; discutir questões da diferença na educação matemática, considerando a centralidade da cultura e as relações de poder que a instituem; e examinar os jogos de linguagem que constituem cada uma das diferentes matemáticas, analisando suas semelhanças de família (KNIJINIK, 2006, p.120)
- 58. 57 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O dentro de uma determinada forma de vida. Isto implica que, “(...) Naturalmente, formas de vida diversas estabelecem[çam] práticas diferenciadas, assim também, gramáticas diferentes e, consequen- temente, inteligibilidades diferentes” (CONDÉ, 2004, p.110). Nesse sentido, não se pode falar de inteligibilidade do mundo, mas de inte- ligibilidades possíveis. No entanto, O ideal está fixado em nossos pensamentos de modo irremovível. Você pode sair dele. Você tem que voltar sempre de novo. Não existe um lá fora; lá fora falta o ar vital. – Donde vem isto? A idéia está colocada, por assim dizer, como óculos sobre o nosso nariz, e o que vemos, vemo-lo através deles. Não nos ocorre tirá-los. (WITTGENSTEIN, 1991, p. 69). É com os óculos da Matemática acadêmica que tem sido construído o suposto “ideal”. No entanto, é preciso considerar a Matemática acadêmica como uma lente, uma possibilidade, uma linguagem que não é o reflexo do mundo, mas que, ao “dizer sobre o mundo”, acaba por construí-lo e o faz de uma maneira bastante peculiar. Ao longo da história da humanidade, distintos povos geraram seus modos próprios de contar, medir, registrar o tempo e entender os fenômenos naturais. Esses modos particulares de compre- ender o mundo, através de uma perspectiva matemática, fazem-se presente em diferentes práticas sociais. Ubiratan D’Ambrósio (2005, p.6) afirma que, desde o final do século XV e ao longo do século XVI, o estabelecimento de regimes coloniais, em escala mundial, determinou que as diferentes moda- lidades locais de produção e comercialização se adequassem ao modelo europeu. Assim, as particularidades intelectuais dos povos conquistados foram amplamente abandonadas. Desse modo, formas especificas de mensurar, quantificar, linguagens e outras expressões culturais foram silenciadas.
- 59. 58 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O A questão que se coloca, frente à existência de outros tipos de validação, de outras lógicas, é porque algumas são legitimadas e outras não, porque algumas são merecedoras de espaços dentro do currículo escolar e outras não. Vários pesquisadores e estudiosos da Etnomatemática têm buscado compreender e validar estas “outras” lógicas presentes nas mais diversificadas culturas. Monteiro (2002) relata uma experi- ência que viveu junto a um grupo do Assentamento Rural de Sumaré. Naquele local, a autora descreve seu encontro com Zé do Pito, plan- tador de tomates, que além de dedicar-se aos afazeres provenientes deste ofício, era responsável pela divisão do valor da conta de luz do assentamento entre os usuários. Os procedimentos do trabalhador rural, para efetuar os cálculos, se resumiam em dividir a taxa básica entre os que usaram a luz e o valor restante dividir conforme as condições de cada família. Sua divisão era proporcional, porém os critérios para estabelecer tal proporcionalidade estavam articulados a partir de “relações de solidariedade e não de capital” (MONTEIRO, 2002 p. 104). Segundo a autora, tal situação [...] recheada de vida, não fala apenas de uma divisão, fala de crité- rios de divisão, fala da razão pela qual devemos dividir e dos valores envolvidos nessa prática. O cálculo é algo secundário. O senhor Zé do Pito nunca estudou e sabia fazer cálculos, como ele dizia, de cabeça ou com a calculadora que seus filhos lhe ensinaram a manu- sear. (MONTEIRO, 2002, p. 105). Experiência também diferenciada no que diz respeito a outras formas de matematizar, ou em uma linguagem wittgenstei- niana outros jogos de linguagem, foi vivenciada por Mariana Kawall Ferreira, como professora de Português e Matemática na escola do Diauarum no parque indígena do Xingu. Ao propor para a turma à qual lecionava o problema: “Ontem à noite peguei 10 peixes. Dei 3 para meu irmão. Quantos peixes tenho agora? ” (FERREIRA, 2002, p. 56), obteve como resposta 13 peixes. Ao analisarmos, com as lentes da Matemática acadêmica, o valor encontrado, poderíamos pensar
- 60. 59 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O que tal resultado foi, no mínimo, equivocado ou que havia uma “incapacidade cognitiva” por parte deste aluno, já que a operação aritmética que responderia “corretamente” a este problema seria, obviamente, a subtração que produziria como resultado sete peixes. No entanto a justificativa para a escolha da operação adição é surpreendente. De acordo com a explicação do aluno: Fiquei com 13 peixes porque, quando eu dou alguma coisa para meu irmão, ele me paga de volta em dobro. Então 3 mais 3 é igual a 6 (o que o irmão lhe pagaria de volta); 10 mais 6 é igual a 16; e 16 menos 3 é igual a 13 (número total de peixes menos os 3 que Tarinu deu ao irmão) (FERREIRA, 2002, p. 56). Situações como essas indicam que impor uma determinada racionalidade, através da Matemática acadêmica, significa muito mais do que dar primazia a um modo de pensar, a uma gramática específica: significa a possibilidade de destruir os valores e signifi- cados que acompanham a racionalidade de outras culturas. O que significaria impor para tais comunidades – do Assentamento de Sumaré ou do Parque Xingu– critérios para validação de resultados baseados somente naqueles presentes na Matemática escolar? Tomaz Tadeu da Silva (1998, p. 194), ao assinalar a importância de “ver o currículo não apenas como sendo constituído de ‘fazer coisas’, mas também vê-lo como ‘fazendo coisas às pessoas’”, aponta-nos os perigos da imposição de uma única racionalidade. Neste sentido, a ferramentas wittgensteinianas tem nos ajudado a problematizar a existência de uma única matemática que seria resultado de uma única e “verdadeira” racionalidade. Porém, como afirmamos anteriormente, este texto pretende adensar a discussão sobre algumas proposições feitas para o ensino da Matemática a luz das teorizações de Wittgenstein.
- 61. 60 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O Problematizando umas das verdades do discurso da Matemática escolar: “trabalhar com a realidade do aluno permite dar significado à matemática escolar”. Além do esfacelamento da pretensão de universalidade do conhecimento matemático, a obra de Wittgenstein nos oferece ferramentas para problematizarmos as propostas pedagógicas que afirmam a necessidade de trabalharmos com a realidade do aluno a fim de darmos significado à matemática escolar. Parece-nos que esta necessidade se legitimaria pelo duplo efeito que poderia acarretar: por um lado tornaria a escola atraente e, por outro, despertaria o interesse do aluno pela aprendizagem da matemática escolar. Seria a tentativa de captura do “brilho do real” (LARROSA, 2008), a fim de superar a opacidade e artificialidade dos conteúdos escolares. Assim, tal prescrição é bastante recorrente no meio educa- cional sendo sustentada por diferentes perspectivas. Vertentes como a Modelagem Matemática e a Etnomatemática, por exemplo, reforçam muitas vezes a necessidade de articularmos os conheci- mentos escolares com a realidade do aluno. No entanto, esta neces- sidade se estende ao longo dos tempos e extrapola os tempos atuais. Analisando algumas obras de importantes teóricos da Educação Ocidental percebemos a preocupação em se evitar a clivagem da escola com o mundo real. Assim, expoentes como Wolfgang Ratke e Jan Amos Komenský (Comenius), do século XVII, os escritos de Jean Jacques Rousseau, do século XVIII reforçam para a necessidade pedagógica de atentarmos para o entorno escolar. Em tudo é necessário seguir a ordem das coisas e se assegurar que os ensinos dos instrumentos não podem ser entendidos sem as coisas. Assim também, devem-se esclarecer as regras, utilizando exemplos e modelos tirados das coisas e, a partir delas, efetuar os ensinamentos. (RATKE, 2008, p. 129) [Grifos nossos].
- 62. 61 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O As palavras, portanto, deverão ser ensinadas e aprendidas sempre em conjunto com as coisas correspondentes [...] E o que são as palavras senão o invólucro e a bainhas das coisas? [...] estamos formando homens, e queremos formá-los no tempo mais curto possível: isso acontecerá se as palavras sempre caminharem pari passu com as coisas, e as coisas com as palavras (COMENIUS, 2006, p.223). [Grifos nossos]. Em qualquer estudo que seja, sem a idéia das coisas representadas, os signos representantes não são nada. Todavia, sempre limitamos a criança a esses signos, sem jamais podermos fazê-la compreender nenhuma das coisas que representam. (ROUSSEAU, 2004, p. 123). [Grifos nossos]. Assim, atravessando séculos, a análise, sob diferentes pers- pectivas, da relação a ser estabelecida entre as “palavras e as coisas” - (realia)1 fez-se presente nas discussões de cunho educa- cional. Do ponto de vista destes autores, para uma aprendizagem ser eficiente, fazia-se necessário estabelecer um “vínculo entre as palavras e as coisas: Tudo deve partir da sensível e do sabido”, afirmou Comenius (2006, p. 9). Assim, para esses autores, a função representativa da linguagem expressa uma correspondência biuní- voca entre mundo e linguagem. Se a relação entre as palavras e as coisas não fosse estabelecida no âmbito educacional, as pala- vras não passariam de sons vazios, expressões sem significados. O 1. Segundo o Dicionário Etimológico Nova Fronteira da Língua Portuguesa (CUNHA, 1999, p.665), o verbete realidade, na língua portuguesa, remonta ao século XVI. Associado à palavra real, que se refere “ao que existe de fato, verdadeiro, [...] do baixo latim realis, de res rei, coisa”. Segundo Hoff e Cardoso (s/d, p.13), a expressão realia está ligada a “[...] (coisas reais): ensino a partir da realidade do aluno. Realia tomou um sentido mais específico, como um conjunto de disciplinas que se ensinava após o ler, escrever, calcular e a doutrina cristã, a partir do terceiro ano, correspondendo à história, geografia e ciências naturais. Por fim, também era considerada uma disciplina metodológica”. Lúcio Kreutz (1996), ao fazer um estudo sobre os métodos peda- gógicos praticados no início da república nas escolas de imigrantes alemães no Rio Grande do Sul, identificou que a “lição das coisas” sinalizava uma nova postura metodológica na escola da época. Tratava-se, segundo o pesquisador, de uma perspectiva metodológica que buscava superar a lição de palavras. “Todo o processo escolar, de forma especial, o material didático, deveria partir da realidade dos alunos e ajudá-los a integrar-se ativamente em seu contexto social. Um dos termos mais usados para sinalizar essa perspectiva metodológica foi de lições de coisas (realia) ” (Ibidem, p. 76) [Grifos do autor]. Assim, fazer uso pedagógico das coisas que circundavam a “realidade” do aluno era designado pelo “termo latino realia [que] significa coisas reais, coisas objetivas. ” (Ibidem, p.81).
- 63. 62 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O mundo funcionaria como uma base física, imóvel, cuja essência seria expressa pela linguagem. No campo educacional, evitar o esva- ziamento dos significados seria um a priori para a aprendizagem. Dessa forma, guardadas as especificidades das formulações de Ratke (2008), Comenius (2006) e Rousseau (2004), a “realidade” sensível ou a apreensão de seus movimentos servem como um aporte fundamental para direcionar o ensino e a aprendizagem do aluno. Assim, é possível inferir a existência de uma preocupação pedagógica, já nos séculos XVII e XIII, com a desvinculação entre o espaço escolar e seu entorno. Tal preocupação estendeu-se e re/ configurou-se no século XX com John Dewey. Dewey (1959) problematiza uma das caraterísticas que ele considera inerente a instituição escolar: a sua superficialidade. Para ele, tal característica pode impulsioná-la facilmente para o desenvolvimento de práticas pedagógicas “distante[s] e morta[s] – abstrata[s] e livresca[s]” (Ibidem, p. 9). Isso ocorre, de acordo com o autor, porque o nível de complexidade de nossa cultura exige que muito do que se deva aprender esteja vinculado a símbolos abstratos que, por sua condição, estão distanciados da interação com fatos e objetos. Tal “inclinação natural” deve ser cuidadosa- mente remediada através da capacitação de “modos de ensinar mais fundamentais e eficazes”. Conteúdos distanciados da vida real e, por isso, sem utilidade prática, considerados “resíduos inúteis do tempo passado” levavam o professor a perder um tempo precioso, visto que o programa a ser desenvolvido era muito extenso. A busca por uma formalização que ignora as necessidades sociais é uma das críticas da filosofia deweyana voltada à educação. Assim, a escola, longe de assumir uma postura de impo- sição, de transmissão direta de conhecimentos, deve entender que sua eficácia está na possibilidade de harmonia com o meio social – e as práticas aí inseridas – em que a criança vive. A advertência é dada pelo filósofo, pois
- 64. 63 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O [...] quando as escolas se afastam das condições educacionais eficazes do meio extra-escolar, elas necessariamente substituem um espírito livresco e pseudo-intelectual a um espírito social. [...] Conservando um indivíduo isolado [das atividades extra-escolares], conseguiremos garantir-lhes a atividade motora e a excitação senso- rial: mas não poderemos desse modo fazê-lo compreender a signi- ficação das coisas na vida de que faz parte (DEWEY, 1959, p. 42). Nesse sentido, Dewey afirma a positividade da interlocução entre atividades cotidianas como objeto de experiências para ativi- dades escolares. Tal positividade ocorre em dois aspectos. Por um lado, permite a visibilidade de conceitos escolares em situações extraescolares, o que lhe imprime significado e, por outro lado, a situação, o contexto oferece um direcionamento para o pensar. Esta interlocução de que fala Dewey fica potencializada na Educação Matemática visto que: [...] no caso dos estudos chamados disciplinares ou preponde- rantemente lógicos, há o perigo de isolar-se a atividade intelectual, das coisas da vida comum. O professor e o estudante tendem, de colaboração, a abrir um abismo entre o pensamento lógico como algo abstrato e remoto, e as exigências particulares e concretas dos acontecimentos diários. O abstrato tende a remontar-se tão alto e a afastar-se tanto da aplicação, que perde toda a relação com o procedimento prático e moral (DEWEY, 1979, p. 68-69). Nesta perspectiva, a “estratégia metodológica” de aproximar “as atividades matemáticas da realidade” atravessa séculos e se reatualiza. Porém, não deixa de ser objeto de necessidade primeira para as experiências educativas e torna-se prescrição diária ao professor, que deve ensinar os conteúdos matemáticos relacio- nados harmoniosamente com a “vida real”. Assim, a vontade de “realidade”, ou seja, a reivindicação pela “intensidade e o brilho do real” (LARROSA, 2008, p. 186), a busca pela harmonia e sintonia com a “realidade” é traduzida, entre outras formas, pela necessi- dade de estabelecer ligações entre a matemática escolar e a “vida real”. Seria algo como se a matemática escolar, depois de se afastar do mundo social – pelas exigências do formalismo e da abstração
- 65. 64 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O que a caracterizam – necessitasse retornar à “vida real”, ou seja, real-izar-se. Dito de outro modo, injetar “bocados” de “realidade” no cotidiano escolar aliviaria a suspeita de que os conteúdos desenvol- vidos na escola seriam “uma espécie de realidade sem realidade” (LARROSA, 2008, p. 185). No entanto, o movimento de construção de uma “realidade escolar” com o “brilho do real” é inviabilizado, pois, segundo Larrosa (2008), o real guarda a característica da não intencionalidade: As intenções sobre o real, inclusive as melhores intenções, também nos separam do real, também o desrealizam e o desperdiçam, posto que o fabricam de acordo com os nossos objetivos e o convertem em matéria prima de uma transformação, ou de uma modificação possível (Ibidem, p. 188). Assim, fabricada de acordo com os objetivos educacionais, a “realidade”é, segundo esse autor, transformada em um “clone de si” (LARROSA, 2008, p. 188), algo como uma paródia da “realidade”. No entanto, achamos pertinente, a partir de ferramentas wittgenstei- nianas, questionar: Que posições teóricas subsidiariam a afirmação de que trabalhar com a “realidade” do estudante para as aulas de matemática “daria significado” à matemática escolar? Conforme afirmamos anteriormente, o pensamento do segundo Wittgenstein, oferece ferramentas para ensaiar uma resposta para essas indagações. Primeiro, é preciso atentar que tal afirmação poderia nos levar a pensar que os jogos de linguagem que conformam a matemática escolar seriam “vazios” de signifi- cado. Em contrapartida, as matemáticas da “realidade”, isto é, as não escolares, essas sim, estariam encharcadas e saturadas de significados, aguardando, “lá fora”, para serem transferidas para a forma de vida escolar. Entraria em cena, então, uma “natural” operação de transferência: os significados presentes nas matemá- ticas não escolares seriam remetidos para a matemática escolar.
- 66. 65 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O No entanto, na perspectiva wittgensteiniana que assu- mimos, entendemos que não é possível haver um “esvaziamento/ saturação” de significados. Todos os jogos de linguagem – sendo práticas sociais – possuem significados dentro da forma de vida que os abriga. Considerada como um conjunto de jogos de linguagem, a matemática escolar apresenta uma gramática específica, confor- mada por um conjunto de regras. Assim entendida, a matemática escolar não apresenta uma incompletude que é sanada mediante seu contato com a “realidade”, pois, segundo o filósofo: A realidade não é uma propriedade ainda ausente no que se espera e que tem acesso a ela quando nossa expectativa é cumprida. – Tampouco é a realidade como a luz do dia de que as coisas precisam para adquirir cor, quando estão, por assim dizer, sem cor, no escuro (WITTGENSTEIN, 2003, p. 102) Ademais, Wittgenstein considera que “as regras da gramática não podem ser justificadas mostrando que sua aplicação faz uma representação concordar com a realidade, pois essa justificativa teria, ela própria, de descrever o que é representado”. (WITTGENSTEIN, 2003, p. 141). Mas, se capturados por uma “vontade de realidade”, fossemos levados a insistir sobre a possibilidade de transferência de significados dos jogos praticados nas formas de vida não escolares para os jogos de linguagem da matemática escolar, tal insistência não seria bem-sucedida: a “passagem” de uma forma de vida a outra não garante a permanência do significado: sugere sua transformação, porque “do outro lado” quem “o recebe” é outra forma de vida (VEIGA- NETO, 2004). Dito de outro modo, o significado não possui uma essência que poderia ser abarcada por qualquer uso que se fizesse do enunciado. Nessa mesma perspectiva, Condé (2004) esclarece: Um jogo de linguagem que é plenamente satisfatório dentro de uma determinada situação pode não ser em outra, pois ao surgirem novos elementos as situações mudam, e os usos que então funcionavam podem não mais ser satisfatórios em uma nova situação (Ibidem, p. 89).
- 67. 66 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O Assim, os significados produzidos por um jogo de linguagem, que é plenamente satisfatório dentro de uma situação extraescolar, poderiam não funcionar satisfatoriamente quando transferidos para uma situação escolar. Assim, conforme dito em Knijnik et. al. (2012), existem raciona- lidades diferentes “operando na Educação Matemática praticada na escola e fora dela: a matemática escolar tem como marca a transcen- dência e as práticas fora da escola são marcadas pela imanência” (Ibidem, p. 18). Ou seja, as práticas fora da escola estão fortemente vinculadas as formas de vida que as pratica, estariam vinculadas ao sujeito. Assim, afirmar que a racionalidade matemática posta operar fora do âmbito escolar está entrelaçada com a forma de vida que a sustenta, pressupõe pensarmos as dificuldades de sua inclusão no âmbito escolar. Dito de outra forma, as implicações educacionais advindas da inclusão das práticas sociais de diferentes formas de vida não seriam tão óbvias, pois os saberes aí incorporados esta- riam sujeitos a transformações nos seus significados, principalmente mediante aos usos dados a eles em outro contexto. Palavras finais Este texto, escrito a partir de uma inserção em territórios da filosofia, teve como objetivo dar visibilidade às implicações da obra de Wittgenstein ao campo da Educação Matemática. De forma geral, ressaltamos as ferramentas teóricas disponibilizadas pelo filósofo austríaco que nos permitem problematizar metanarrativas que parecem configurar-se como inquestionáveis para este campo. Assim, em um primeiro momento, desconfiamos do suposto e pretendido caráter de universalidade do conhecimento matemático “capaz de medir e classificar qualquer outra matemática como mais ou menos avançada em função de sua maior ou menor semelhança
- 68. 67 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O com aquela que aprendemos nas instituições acadêmicas” (LIZCANO apud KNIJNIK et alli, 2012, p. 2). Poder-se-ia inferir que o caráter de universalidade da matemática estaria vinculado a uma postura transcendental, pois a entenderia como pertencendo ao mundo das ideias. “Nessa perspectiva, o conhecimento estaria aguardando para ser descoberto – Fiat lux – e qualquer cultura, obviamente que em determinado ponto de evolução, teria condições de acessar tal conhecimento” (DUARTE, 2011, p. 76). Como afirma Knijnik et ali (2012, p 27): “O “Segundo” Wittgenstein concebe a linguagem não mais com as marcas da universalidade, perfeição e ordem, como se preexistisse às ações humanas”. O questionamento dessa premissa e de outras verdades “naturalizadas” no campo da Educação Matemática tem sido tensionado a partir da obra de Wittgenstein, especificamente o “último Wittgenstein”. Nessa perspectiva, na segunda parte deste texto colocamos sob suspeita uma ideia bastante difundida entre aqueles que se ocupam do ensino da matemática de que a “realidade” possibili- taria dar significado aos conteúdos trabalhados em sala de aula, especificamente aos conteúdos matemáticos. A importância de significar os conceitos escolares a partir de sua aparição na “reali- dade” teria um duplo efeito: por um lado, tornaria a escola atraente e, por outro, despertaria o interesse do aluno pela aprendizagem da matemática escolar. Servindo-nos de ferramentas oriundas da obra do segundo Wittgenstein, problematizamos a possibilidade de tal empreendimento, argumentando que os jogos de linguagem da matemática escolar e aqueles que constituem as práticas sociais, apesar de guardarem semelhanças de família entre si, são distintos e a “passagem” de um jogo de linguagem pertencente a uma forma de vida para a outra não garantiria a permanência do significado, mas, sugere sua transformação.
- 69. 68 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O Encerramos a escrita deste texto entendendo que outras questões poderiam ser exploradas a partir do pensamento wittgens- teiniano. Não tivemos, de modo algum, a pretensão de esgotar a discussão aqui iniciada. De forma contrária, nosso movimento, neste texto esteve alinhado ao desejo de produzir novos sentidos para as situações vividas, “soltar o ar fresco das outras possibili- dades” (TADEU; CORAZZA; ZORDAN, 2004, p .22) e, com isso, potencializar diferentes formas de pensamento, que gerem outras possibilidades pedagógicas para a área da Educação, especifica- mente para a Educação Matemática Escolar. Referências COMENIUS, J. A. Didática Magna. São Paulo: Martins Fontes, 2006. CONDÉ, M. L. L. As teias da razão: Wittgenstein e a crise da racionalidade moderna. Belo Horizonte: Argvmentvm, 2004. CONDÉ, M. L. L. Wittgenstein: linguagem e mundo. São Paulo: Annablume, 1998. CUNHA, A. G. Dicionário etimológico Nova Fronteira da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999. D’AMBRÓSIO, U. Volta ao Mundo em 80 Matemáticas. Scientific American Brasil, São Paulo, n.11, p.20-23, 2005. DELEUZE, G. Em que a filosofia pode servir a matemáticos, ou mesmo a músicos: mesmo e, sobretudo quando ela não fala de música ou de matemática. In: Educação e Realidade, v.27, n.2 (jul/dez 2002). Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Faculdade de Educação. DELEUZE, G. Conversações. Rio de Janeiro: Editora 34, 2000. DEWEY, J. Como pensamos. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1979. DEWEY, J. Democracia e educação. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1959 DUARTE, C. G. Etnomatemática, Currículo e Práticas Sociais do “Mundo da Construção Civil”. 2003. Dissertação (Mestrado em Educação) – Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade do Vale do Rio dos Sinos, São Leopoldo, 2003.
- 70. 69 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O DUARTE, C. G. A “realidade” nas tramas discursivas da educação matemática escolar. São Leopoldo: UNISINOS. Tese (Doutorado em educação) - Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade do Vale do Rio dos Sinos, 2009. DUARTE, C. G. Produzindo fissuras nas “verdades” da matemática. In: Henning, P. C. et alli (orgs.) Perspectivas de investigação no campo da educação ambiental & educação em ciências. Rio Grande, RS: FURG, 2011. FERREIRA, M. K. L. Idéias matemáticas de povos culturalmente distintos. São Paulo: Global, 2002. GIONGO, I. M. Disciplinamento e resistência dos corpos e dos saberes: um estudo sobre a educação matemática da Escola estadual técnica agrícola Guaporé. São Leopoldo: UNISINOS. Tese (Doutorado em Educação) - Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade do Vale do Rio dos Sinos, 2008. GLOCK, H. Dicionário Wittgenstein. Tradução: Helena Martins; revisão técnica: Luiz Carlos Pereira. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1998. KNIJNIK, G.; WANDERER, F.; GIONGO, I. M.; DUARTE, C. G. Etnomatemática em movimento. Belo Horizonte: Autêntica, 2012. KNIJNIK, G. Educação matemática, culturas e conhecimento na luta pela terra. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2006. KREUTZ, L. Representações Diferenciadas de Lições de Coisas no Início da República. Estudos Leopoldenses, São Leopoldo – UNISINOS, v. 32, n. 148, p. 75–86, 1996. LARROSA, J. Desejo de realidade. Experiência e alteridade na investigação educativa. In: BORBA, Siomara; KOHAN, Walter (orgs.). Filosofia, aprendizagem, experiência. Belo Horizonte: Autêntica, 2008 MONTEIRO, A. A etnomatemática em cenários de escolarização: alguns elementos de reflexão. Reflexão e Ação, Santa Cruz do Sul: UNISC, v. 10, n. 1, p. 93-108, jan./jun., 2002. MORENO, A. R. Wittgenstein através das imagens. Campinas: Editora da UNICAMP, 1995. NIETZSCHE, F. A gaia ciência. São Paulo: Companhia das Letras, 2001. QUARTIERI, M. T. A modelagem matemática na escola básica: a mobilização do interesse do aluno e o privilegiamento da Matemática escolar. São Leopoldo: UNISINOS. Tese (Doutorado em educação) -
- 71. 70 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade do Vale do Rio dos Sinos, 2012. RATKE, W. Escritos sobre a nova arte de ensinar de Wolfgang Ratke (1571 - 1635). São Paulo: Autores Associados, 2008. RORTY, R. A filosofia e o espelho da natureza. Lisboa: Dom Quixote, 1988. ROUSSEAU, J. J. Emílio ou da educação. São Paulo: Martins Fontes, 2004. SILVA, T. T. Currículo e identidade social: territórios contestados. In: SILVA, Tomaz Tadeu da (Org.). Alienígenas na sala de aula: uma introdução aos estudos culturais em educação. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 1998. TADEU, T. T.; CORAZZA, S.; ZORDAN, P. Linhas de escrita. Belo Horizonte: Autêntica, 2004. VEIGA-NETO, A. Nietzsche e Wittgenstein. In: GALLO, Sílvio; SOUZA, Regina Maria. (org). Educação do preconceito: ensaios sobre poder e resistência. São Paulo: Ed. Alínea, 2004. VILELA, D. S. Matemáticas nos usos e jogos de linguagem: ampliando concepções na Educação Matemática. Campinas: UNICAMP. Tese (Doutorado em educação) – Faculdade de Educação, Universidade Estadual de Campinas, 2007. WANDERER, F. Escola e matemática escolar: mecanismos de regulação sobre sujeitos escolares de uma localidade rural de colonização alemã do Rio Grande do Sul. 2007. Tese (Doutorado em Programa de Pós-Graduação Em Educação) - Universidade do Vale do Rio dos Sinos, 2007. WITTGENSTEIN, L. Investigações filosóficas. 3.ed. Petrópolis: Vozes, 2004. WITTGENSTEIN, L. Gramática filosófica. São Paulo: Edições Loyola, 2003. WITTGENSTEIN, L. Investigações filosóficas. Seleção de textos de José Carlos Bruni. 5. ed. São Paulo: Nova Cultural (Os pensadores), 1991.
- 72. CAPÍTULO 3 A “DOCÊNCIA-SABOT” E AS FISSURAS CURRICULARES NAS AULAS DE MATEMÁTICA EM UMA CLASSE MULTISSERIADA. Mari Teresinha Alminhana Panni Claudia Glavam Duarte 3 A“docência-sabot” easfissurascurriculares nasaulasdematemática emumaclasse Multisseriada MariTeresinhaAlminhanaPanni ClaudiaGlavamDuarte DOI: 10.31560/pimentacultural/2019.515.71-93
- 73. 72 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O Introdução O presente texto é resultante da Dissertação de Mestrado inti- tulada: “Tensionamentos no Dispositivo da Seriação: a matemática escolar no contexto multisseriado” do Programa de Pós-Graduação em Ciências, Química da Vida e Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tal pesquisa ocorreu na Escola Estadual de Ensino Fundamental José Martins Correa Filho, que fica situada no Quarto Distrito de Santo Antônio da Patrulha /RS e que possuí sua organização escolar pautada no modelo multisseriado1 . O interesse por esta temática emergiu através de questio- namentos e problematizações sobre possíveis movimentos que poderiam ocorrer nas aulas de matemática, visto que esta disciplina tem como pressuposto organizar aprendizagens que obedecem à lógica do simples ao mais complexo, regida por um currículo homo- gêneo, hierárquico e com pré-requisitos (SCHMITZ, 2002). Exemplo disto é a defesa de que se aprende multiplicação somente depois da adição e que existe uma “lógica interna da matemática, domi- nada pela ideia de pré-requisitos” (SCHMITZ, 2002, p.115). Assim, tal lógica definiria o que vem “antes e o que vem depois” para a faci- litação da aprendizagem em termos de conceitos matemáticos, tal ordem estaria articulada a “necessidade de colocar o simples antes do complexo” (Ibidem, 2002, p.114). Assim, o desejo de entender como o currículo de matemática se movimentaria dentro do contexto multisseriado, entendido aqui como um espaço múltiplo e hetero- gêneo, fez parte de nossas intenções de pesquisa. 1. Escola/Classe multisseriada é uma forma de organização de ensino na qual o professor trabalha, na mesma sala de aula, com várias séries simultaneamente. Refiro-me a escola multis- seriada quando esta apresenta toda sua organização, todas as suas turmas, distribuídas neste modelo. No entanto, podem existir escolas que apresentem somente uma turma multisseriada, exemplo: primeiro, segundo e terceiros anos multisseriados e quarto e quinto ano seriados.
- 74. 73 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O Levantamos como hipótese que a heterogeneidade das classes multisseriadas, tenderia a desestabilizar as características que determinam o currículo de matemática, principalmente a hierarquia e as separações feitas na listagem dos conteúdos a serem cumpridos para cada ano/série. Inferimos que se manter em uma ordem de acon- tecimentos pré-estabelecidos, entendendo-os muitas vezes como o caminho certo e “natural”, talvez necessitasse de bastante esforço nessa organização, visto que esta abrigaria em um mesmo espa- ço/tempo, diferentes idades e anos/séries. Nesta linha de raciocínio Bauman (1999) aponta que seguir um curso tido como “natural”: [...] requer um bocado de planejamento, esforço organizado e vigi- lante monitoramento. Nada é mais artificial que a naturalidade; nada é menos natural do que se lançar ao sabor das leis da natureza. O poder, a repressão e a ação propositada se colocam entre a natu- reza e essa ordem socialmente produzida na qual a artificialidade é natural. (Ibidem, p.15) Assim, entendemos que nada há de natural, tudo é arbitrário e contingente e a própria noção de natural é pura inventividade. Compreendemos que o solo em que nos movemos é frágil e por este motivo, temos que artificialmente organizar o mundo para mantê-lo estável e previsível (BAUMAN, 1999). No campo educativo não é diferente, pois “a hierarquia especulativa da aprendizagem dá lugar a uma rede de áreas de investigação, cujas fronteiras respectivas estão em constate fluxo” (DIAZ, 1998, p.27). Assim, entendemos que o estipulado como “natural” talvez pudesse sofrer algumas fissuras dentro do contexto multisseriado. Dessa forma, observar, analisar e problematizar a forma como este currículo se desenvolve e o que acontece quando adentra um espaço/tempo regido pela multiplicidade, é um dos pontos a que este estudo se propôs. Do ponto de vista metodológico, realizar o movimento de problematização nos leva a compreender que em um contexto de pesquisa, a análise e a interpretação de um objeto pode ser lida sob diferentes lentes e esta condição faz com que tenhamos incertezas
- 75. 74 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O e suspeitas daquilo que se supunha ser o “verdadeiro” caminho, a trilha “correta” a ser seguida. Dessa forma, podemos dizer que esta pesquisa nos levou a “operar com a provisoriedade, com o transitório, com o mutante” (LOURO, 2007, p. 238). Nessa trajetória, aliada a ideia de viagem e com uma coragem erguida a cada passo, foi possível experimentar as diversas variações para seguir as rotas que foram programadas e as que foram emergindo no decorrer da pesquisa. Em outras palavras, foi no movimento da investigação, no próprio caminhar que a viagem tomou sentido através de uma rota que se formou dentro do espaço/tempo de estudos e no campo investigativo. Dessa forma, problematizar o currículo de matemá- tica no espaço multisseriado nos levou a rotas que buscavam a “estrangeiridade como artificio criativo e rigoroso de pesquisa” (MIZOGUCHI, 2016, p. 36). Estivemos interessadas nos encaminhamentos dados pelo professor dentro de um universo que parecia tão múltiplo e assim, nos questionávamos se eram colocadas paredes imaginárias para separação dos anos escolares ou se havia outro modo de operar com a(s) turma(s). Enfim, estes eram pontos que instigavam à problematização, pois como diz Foucault: “É preciso pensar proble- maticamente, mais que perguntar e responder dialeticamente” (ibidem, 2005, p. 246). Iniciamos esta trajetória com a intenção de construir possibi- lidades de um pensar diferente do que vinha sendo pensado sobre o currículo de matemática em classes multisseriadas. Dito de outro modo, pretendíamos tensionar o que sabíamos ou o que imaginá- vamos saber sobre o contexto educativo que se pauta por essa organização escolar nas aulas de matemática. No limite, podemos dizer que, tratava-se de suspender as “verdades” que nos atraves- savam para entendermos que “só existem perspectivas-múltiplas, divergentes, refratárias à totalização e à integração” (CORAZZA; TADEU, p.40, 2003). Assim, desconfiamos de certas perspectivas
- 76. 75 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O que devido à força que possuíam nos capturavam e levavam-nos a pensar que tal modelo de organização escolar era “ultrapassado” e só existiria devido a condições extremamente adversas: número reduzido de alunos falta de professores, entre outros. Dessa forma, este trabalho foi construindo um caminho inves- tigativo pautado em anotações em um caderno de campo, entre- vistas e observações feitas na escola pesquisada entre os anos de 2017 e 2018. Foram várias idas e vindas no processo de configu- ração deste estudo, pois seguidamente era necessário reescrever as análises e voltar à escola para rever e perguntar algumas situa- ções que ficaram suspensas. Toda esta movimentação compactua com as palavras de Meyer e Paraíso (2012), quando afirmam que: “o mais potente desses modos de pesquisar é a alegria do ziguezaguear”. (Ibidem, p. 17) E assim, para acompanhar-nos nesta empreitada buscamos em Michel Foucault, ferramentas que pudessem nos instrumentalizar para a realização da análise deste estudo. Assim, para seguir essa caminhada, também contamos, durante a trajetória, para o entendimento e uso de tais ferramentas, não só do próprio filósofo, mas também de alguns trabalhos produ- zidos por comentadores de Foucault, principalmente, aqueles que se vinculam a área educacional. Michel Foucault oferece inúmeras ferramentas, teóricas, metodoló- gicas e mesmo temáticas, para nossos estudos em educação: as práticas de vigilância na escola, a construção disciplinar dos currí- culos, as relações de poder no espaço da sala de aula, a produção de sujeitos confidentes – são apenas alguns dos muitos temas que há pelo menos dez anos têm sido estudados em nossa área, com base no pensamento do filósofo. (FISCHER, 2003, p. 372) Dessa forma, apresentamos nesse texto, o entendimento de como a disciplina de matemática se desenvolve dentro de uma classe multisseriada. Aliado a isso, também buscamos perceber os encaminhamentos dados pelo professor nas aulas, pois entendí- amos que a partir das multiplicidades da sala de aula, poderiam emergir novas formas de se pensar/fazer educação.
- 77. 76 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O Organização multisseriada: a matemática e os seus pré-requisitos As escolas que abrigam a multisseriação como forma de organização dos tempos/espaços escolares, estão em sua quase totalidade, vinculadas às áreas rurais e torna-se na maioria das vezes, a única opção ao sistema escolar de sujeitos que lutam para manter a escola em suas comunidades. Dessa forma, a organi- zação mulisseriada é vista como um arranjo, pois o lócus do terri- tório educacional da multisseriada está vinculado a, Uma representação social que as colocam em gradiente de inferiori- dade em relação às escolas urbanas seriadas. Inferioridade forjada pelo pressuposto de que a escola urbana seria hierarquicamente superior.” (DUARTE, TASCHETTO, 2014, p. 52). Nesta perspectiva, estas escolas são vistas muitas vezes, como “escolinhas”, cuja organização partiria única e exclusivamente do pressuposto da economicidade de professores e de espaço físico para as Secretarias de Educação. Na esteira dessa premissa não representaria, muitas vezes, para os órgãos educacionais, algo que se devesse considerar do ponto de vista pedagógico, seria somente um arranjo necessário para suprir uma necessidade devido à quan- tidade de alunos que se apresentam em algumas comunidades, muitas delas carentes, ou seja, a “única alternativa para os sujeitos estudarem nas comunidades rurais em que vivem” (HAGE, 2014, p.1173). Ademais, esta relação de inferioridade também é projetada por aquilo que, muitas vezes é entendido como o modelo ideal para a organização escolar, ou seja, o modelo seriado. Acompanhando o referencial que nós escolhemos, compre- endemos a seriação, pelo fato de distribuir as crianças por idade nas diferentes séries escolares, como um dispositivo. Segundo Foucault (2000) o dispositivo é:
- 78. 77 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O [...] um conjunto decididamente heterogêneo que engloba discursos, instituições, organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, morais, filantrópicas. Em suma, o dito e o não dito são os elementos do dispositivo. O dispositivo é a rede que se pode tecer entre estes elementos (Ibidem, 2000, p. 244) Assim, o Dispositivo da Seriação organizaria uma série de elementos diferentes, tais como: a arquitetura escolar que deve abrigar diferentes salas de aula, uma para cada ano escolar, o currículo escolar definido para cada faixa etária, os discursos de especialistas que afirmam as potencialidades e fragilidades de cada período da infância, entre outros. Dessa forma, o Dispositivo da Seriação dita as regras e exige certas configurações para afirmar como deve ser a organização das escolas. Pontuamos aqui, que o dispositivo se configura em um conjunto de elementos, que segundo Foucault (2008, p. 138) “[...] está sempre inscrito em um jogo de poder, estando sempre, no entanto, ligado a uma ou a configurações de saber que dele nascem, mas, que igualmente o condicionam”, ou seja, o dispositivo é como algo que disparasse uma malha cheia de entrecruzamentos, que dispara e faz com que certas coisas ocorram. No entanto, esta malha ao entrar em contato com o modelo multisseriado encontra algumas resistências. Dessa forma, compre- endemos que a multisseriação funciona como um contradispositivo que tende a exercer certa força que embaralha os códigos e fissura e ou atrita a ordem estabelecida pelo modelo da seriação. Como diz Mizoguchi (2016) o contradispositivo “opera de forma contrária ao estabelecido, rompe as estruturas criando novas linhas das prece- dentes escapa, enfim, as urgências diretivas e diretas do saber e do poder” (Ibidem, p.94). Na esteira destas premissas, desconfiamos que talvez algo ocorresse no currículo de matemática desenvol- vido nesta escola, tal des-confiança foi possível porque o conceito de currículo que perpassa nosso entendimento está ancorado na concepção de Corazza (2001) que o entende:
- 79. 78 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O [...] como uma linguagem, nele identificamos significantes, signi- ficados, sons, imagens, conceitos, falas, língua, posições discur- sivas, representações, metáforas, metonímias, ironias, invenções, fluxos, cortes.... Assim como o dotamos de um caráter eminente- mente construcionista. (Ibidem, p.9) Nessa perspectiva, o currículo é construído por linguagens de bases históricas e sociais e que por este motivo, é arbitrário e ficcional (CORAZZA, 2001), é pura inventividade. Fazemos uso das palavras da autora para pensar que o currículo se constitui por regras que, a partir das teorias de especialistas, justificam os obje- tivos que devem ser alcançados para cada etapa do ensino, viabili- zando a construção de determinados tipos de sujeitos. Sob a mesma perspectiva teórica, Tomaz Tadeu da Silva (2010) destaca que talvez o mais importante para destacar na definição de currículo “seja de saber quais questões uma “teoria” do currículo ou um discurso curricular busca responder”. (Ibidem, 2010, p.14). Corazza (2001) parece ter definido essa problemática por intermédio do provocativo título de seu livro que pergunta: “o que quer um currículo? ” A resposta já aparece de imediato indi- cando que o currículo tem fome de sujeito, quer forjar certos tipos de subjetividades. Por este motivo, pode-se inferir que o currículo é campo de luta, campo de exercício de poder, pois se trata de uma linguagem que “ao corporificar narrativas particulares sobre o indivíduo e a sociedade, nos constitui como sujeitos — e sujeitos também muito particulares”. (SILVA, 1998, p. 195) Nesta perspectiva, os “sons, imagens, conceitos, falas”, entre outros que compõem o currículo escolar, são construções contin- gentes e arbitrárias. Especificamente no que tange aos conceitos, os chamados conteúdos disciplinares, diríamos que estes se justi- ficam não somente pela lógica interna da área ao qual pertencem, mas principalmente nas articulações que possibilitam fazer com as exigências do campo social mais amplo (SARTORI, 2015). Sendo
- 80. 79 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O assim, o motivo pelo qual tal conteúdo é escolhido e outros não, se direcionam a outro questionamento, “o que eles ou elas devem ser? ” (SILVA, 2010, p. 15). Com essas premissas, se formam as estru- turas que definem a que um currículo se propõe, ou seja, o currí- culo é construído por parâmetros que estipulam o sujeito ideal para determinada sociedade, “o currículo é simplesmente uma mecâ- nica” (SILVA, 2010, p. 24) que movimenta a maquinaria que organiza as estruturas educacionais de acordo com padrões estabelecidos. É apenas uma contingência social e histórica que faz com que o currículo seja dividido em matérias ou disciplinas, que o currículo se distribua sequencialmente em intervalos de tempo determinado, que o currículo esteja organizado hierarquicamente. (SILVA, 2010, p.148) Pensando assim, especificamente no currículo de matemá- tica, Santos (2009) nos convida a problematizar esta matemática que ela denomina de “etapista”, ou seja, aquela que se desen- volve a partir de etapas hierárquicas bem definidas. A autora corroborando com a ideia de que o currículo está interessado na construção de determinados tipos de sujeitos, aponta para a neces- sidade de abrirmos a possibilidade para a “formação de outros “EUS” (SANTOS, 2009, p. 97) ”. Talvez sejam estes outros “EUS” que percebemos se configurando no modelo multisseriado, pois “não há na subjetividade uma forma única, aplicável a todos/as. Nela nada há de privado” (CORAZZA, 2001, p.62). Assim, tal organi- zação que agrupa idades e anos diferentes em um mesmo espaço/ tempo, acaba fissurando o que é estabelecido como “adequado” para aprender em cada etapa escolar. Frente a estas constatações que circundam a educação matemática é que julgamos pertinente a análise de possíveis fissuras, engendradas pelo modelo multis- seriado nas aulas de matemática. Assim, lançamos como hipótese que seria mais fácil identificar a existência ou não de rupturas em algo que nos parecia bastante demarcado.
- 81. 80 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O A “docência-sabot” fazendo artes/arteiras nas aulas de matemática Durante as idas a campo, percebemos a possibilidade de constituição de uma docência que pode propiciar o rompimento das relações de uma organização educacional hierarquizada, que se produz em um sistema pré-estabelecido com tendências homo- geneizadoras. Assim, o que muitas vezes foi percebido se configu- rava em uma docência que, com suas manobras tendia a bagunçar o estabelecido e mexer com o que estava programado, deixando rastros por onde passava através das suas metodologias desco- nectadas da linearidade e do homogêneo. Frente a essas propo- sições, julgamos que esta docência tendia ao novo, ao inusitado e desprendia inquietações sobre esta forma desconcertante de ser professor dentro de um sistema educacional hierarquizado. Nomeamos esta docência de: docência-sabot. Ao percorrer a origem etimológica da expressão “sabotagem”, verificamos que esta provém da língua francesa “sabot” que signi- fica “tamanco”. A articulação com o entendimento de sabotagem, enquanto ato proposital que danifica, que impede o funcionamento de certos mecanismos, que prejudica algo de forma voluntária está associado ao período da Revolução Industrial, especificamente ao ato de trabalhadores que, descontentes com suas condições labo- rais, colocavam seus tamancos nas máquinas das fábricas para causar-lhes danos e paralisações. Silvo Gallo (2003), ao reter a imagem de tais grevistas nos instiga a agir, no campo educacional, como “ludistas pós-modernos”1 , sua intenção com esta provo- cação é impedir a máquina de funcionar, danificar e estancar o automatismo das ações contra os efeitos de uma educação maior 1. Silvio Gallo (2003) busca inspiração no operário de uma fábrica têxtil Ned Ludd que destruiu totalmente os teares mecânicos de uma fábrica num sinal de revolta contra os efeitos da Revolução Industrial no início do século XIX.
- 82. 81 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O entendida como aquela baseada nos “[...] planos decenais e nas políticas públicas de educação, dos parâmetros e das diretrizes, aquela da constituição e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, pensada e produzida pelas cabeças bem-pensantes a serviço do poder”. (GALLO, 2003, p. 78). Assim, tal ato, quando pensado no âmbito da educação, nos remete à relação de forças no embate entre a educação maior e a educação menor1, pois as táticas da educação menor são bastante similares as dos grevistas que trabalhavam nas fábricas (GALLO, 2003). Neste sentido, acreditamos que talvez, uma das condições necessárias para pensarmos outro tipo de educação seja uma docência-sabot que se movimenta “fazendo arte-arteiramente” contra a maquinaria escolar. No limite, é uma docência que institui micro-revoluções “como aqueles sindicalistas norte-americanos do começo do século, que pegavam um trem para o Oeste e que, a cada estação atravessada, paravam para fundar uma célula, uma célula de luta” (NEGRI, 2001, p.24). Nossa hipótese é a de que esta docência que “emperra” a máquina ou que, minimamente, deforma a esteira de produção afirmando uma educação que, [...] não está subordinada à representação, à adequação da verdade, ao dado, antes disso, os instrumentos para pontuar os traços vitais para a Educação percorrem movimentos de forças, de resistências, que podem deformar a forma estabelecida por currí- culos escolares, saberes prontos, conhecimentos interpretados que desejam modulação universal. Com isso, seria possível compor cores novas e vibrantes ao novo corpo que deseja nascer, um corpo alegre, desejante [...] (BRITO, 2015, p. 57) Tal deformação poderia ser acionada por dois movimentos: primeiro aquele que estanca a maquinaria e segundo aquele que a faz ir diferindo de sua função calcada nas leis e interdições e que, 1. Segundo Silvio Gallo (2003, p. 78) “a educação menor é um ato de revolta de resistência. Revolta contra os fluxos instituídos, resistência às políticas impostas; sala de aula como trin- cheira, como a toca do rato, o buraco do cão.
- 83. 82 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O em efeito vai produzindo outras formas de subjetivação docente. Como diz Zordan (2013): A subjetivação produz as formas, embora seja um processo sem forma, visto que é substanciada por forças que perpassam as formas, dinamizando suas estruturas e estabelecendo relações de poder. Este processo pode ser coletivo ou individual, acontecendo sempre que a força se “dobra” sobre si mesma, fazendo com que o poder se exerça sobre “si”. (Ibidem, 2013, p. 1160) Nesta perspectiva, apostamos que uma sala de aula dife- renciada, a multisseriada, poderia se constituir em um território propício ao confronto do professor com as relações de força que o conformam a ser, pensar e agir dentro das normas estabelecidas pela seriação. Dito de outra forma, a existência de escolas/classes multisseriadas poderia ser tomada como uma condição propícia no sentido de ali se fazer germinar uma docência-sabot que reaja aos modelos totalitários e homogeneizantes, pois o docente vivenciaria embates cotidianos, visto que esta configuração “destitui a série como princípio ordenador e como fundamento para as ações peda- gógicas” (DUARTE; TASCHETTO, 2014, p.53) e provoca abalos em uma zona de conforto historicamente construída e naturalizada. Assim, a continuidade do trabalho de campo nos fez perceber micro movimentos, estas pequenas revoltas diárias de que nos fala Larrosa (2000), pois identificamos que, muitas vezes, os professores não separavam os alunos, apesar de a sala conter três diferentes anos escolares (o primeiro, o segundo e o terceiro anos). Nossa hipótese inicial era a de que os alunos seriam sepa- rados por fila: a fila do primeiro ano, do segundo, etc. No entanto, a racionalidade que imperava parecia não querer instituir classifi- cações e hierarquizações, como afirmou um professor: eu procuro nem fazer essa divisão na minha cabeça sabe? Porque eu sei que ela não vai dar certo! Ao questionar sobre este fato as respostas foram as seguintes:
- 84. 83 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O [...] eu não impeço eles de interagirem um com o outro, ou de certa forma, o Arthur no ano passado (segundo ano) e outro cole- guinha (terceiro ano), que às vezes eles estavam fazendo um problema de multiplicação e ele dizia: o fulano quanto que é, tanto vezes tanto? Há é tanto... [Grifos nossos] Aí professor posso tentar fazer aquela lá também? Claro pode tentar fazer... Eu não posso deixar de provocar ele, ou fazer com que ele em certo momento ajude aquele outro aluno a resolver aquele problema, porque ele também está aprendendo. [Grifos nossos] [...] nós somos uma turma, não interessa série, só que isso ainda é um vício do próprio professor, o segundo ano, terceiro ano, a fila ou alguma coisa assim, isso eu acho que as instituições têm que começarem a se organizarem, para que isso em uma multisseriada fique claro que é uma turma, a turma, e não são várias turmas que tenho ali. [Grifos nossos] Daí eu vi que ele sabia os nomes dos números, que ele sabia essa classificação de unidade, dezena centena e milhar ...então aquilo ali eu fui dando e fui vendo que ele sabia e fui e fui indo, recapitulei com o quinto, porque vou saber se o quinto ainda se lembra o que leu, se não ficou nada e aí fui indo, fui indo... o que dá certo dá, o que não dá eu volto, porque tem uns que, as vezes os do quinto, tem umas do quinto que as vezes precisam de mais atenção, eles conseguem trabalhar em grupo e desenhar todo mundo junto no mesmo cartaz, assim uns quatro, cinco. Eu não consigo assim, eu procuro nem fazer essa divisão na minha cabeça sabe? Porque eu sei que ela não vai dar certo. [Grifos nossos] Neste sentido, a hierarquização e os pré-requisitos que formam a estrutura do ensino de matemática, em algumas vezes, são fissurados pelos encontros que ocorrem dentro do processo de ensino e aprendizagem na sala de aula, pois o professor não coloca regras, ele apresenta o conteúdo e deixa os acontecimentos norte- arem o processo sem separações, ele vai seguindo na direção do que “dá certo, dá e o que não dá, volta”. Dessa forma, vez que outra, dentro deste processo de tatear até dar certo, sob o descuido do Dispositivo da Seriação, as aulas de matemática ensaiam fissuras na suposta linearidade e na necessidade de pré-requisitos para a efetivação das aprendizagens da matemática. Sendo assim, utili- zando a ideia de Foucault (2000) esta forma de aprender, “agita o
- 85. 84 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O que se percebia imóvel; ela fragmenta o que se pensava unido; ela mostra a heterogeneidade do que se imaginava em conformidade consigo mesmo” (Ibidem, p. 15). Dessa forma, os professores quando ensinavam matemática, pareciam minimizar a força da premissa que afirma que “a listagem dos conteúdos também tem o poder de determinar a ordem ou sequência em que esses conteúdos “devem” ser ensinados” (SCHMITZ, 2002, p.114). Pareceu-nos que a sequência e a ordem eram fissuradas pela metodologia do “tatear”, do “fui indo, fui indo”. [...] pedi que quatro meninos [do primeiro ano] pegassem, por exemplo; três pecinhas cada um e botassem dentro da caixa. Eles foram lá e contaram e observaram a contagem deles para ver se contaram certo e botaram na caixa e..... Fechei a caixa né, então perguntei para eles, tanto para o primeiro, segundo e terceiro, perguntava aleatoriamente, para ver o conhecimento deles, para eles darem a ideia de quanto teria dentro daquela caixa, só observando, então alguns iam dizendo os valores e no decorrer dessa atividade deu para observar que alguns já iam apontando para os colegas para ter a contagem do valor exato. [Quem respondeu ao ques- tionamento foi uma menina do primeiro ano, após fazer sua própria contagem mentalmente, explicando que tinha quatro meninos com três pecinhas... ou seja, três vezes quatro]. E assim, teve uma hora, deu para notar também que ela contou e ela achou o resultado e quando perguntei para os outros eles falaram que não era o resultado certo, aí ela começou a pensar e começou a contar de novo e disse assim: Professor é doze? Tipo assim ela contou e deu de novo o resultado dela, e era doze, mas como os outros falaram outro resultado ela ficou na dúvida. [...] Daí tu imagina, pode dizer não é para você aprender ainda só porque é multiplicação? [Grifos nossos] Entendemos que a desconfiança de que os cálculos feitos pela menina estivessem corretos, fazia parte de uma estratégia do Dispositivo da Seriação, pois pairava a dúvida de que uma menina do primeiro ano pudesse resolver situações matemáticas destinadas ao terceiro ano. Talvez o fato de presenciar, por diversas vezes, situações que envolviam o conceito de multiplicação tenha possi- bilitado a resolução da questão. Tal suposição advém também da
- 86. 85 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O leitura do texto “A Conversar com as Estátuas” de Duarte e Taschetto (2014, p.54) que afirma que no espaço multisseriado “não dá para tapar os ouvidos das crianças”, as crianças acabam se envolvendo em aprendizagens que a princípio não seriam destinadas a sua idade e ano escolar. Assim, o professor parecia proporcionar aos alunos a experiência de aprender, de vivenciar e de poder sentir as coisas, mesmo que tais crianças não se constituíssem nos “corretos destinatários”, dito de outro modo, tratava-se de uma docência que “não reduz o acontecimento, mas o sustenta como irredutível.” (LARROSA, 2011, p. 6). Uma docência-sabot. Assim, a interação, a provocação e o tatear o caminho “e fui e fui indo”, pareciam ser os alicerces de uma prática que se cons- tituía ao fazer-se. Parecia não existirem certezas, pontos exatos de chegada e a “não divisão”, instituía uma docência que, em meio a um caos, fazia sucumbir à relação de força que buscava estruturar a educação maior em idade/ano escolar. Ocorreria aí uma situação que movimentaria mais o devir em relação ao dever? Acreditamos que sim, pois o processo educativo parecia se movimentar em torno dos encontros, de uma educação sem imagens fixas, que é “retirada do campo das modelações para as modulações, variações, encon- tros, interseções [...]” (BRITO, 2015, p. 39). Não havia garantias do ponto de chegada, tratava-se de um movimento de ziguezaguear “e aí fui indo, fui indo... o que dá certo dá, o que não dá eu volto”, que seguia o fluxo determinado pelo instante em que se efetuava. Dito de outra forma, eram os movimentos instituídos no momento, os condicionantes para prosseguir caminhando e estas pequenas inci- sões/sabotagens na estrutura, parecia danificar os automatismos da maquinaria escolar que delimitava as aprendizagens em função da idade do aluno. Assim, a pretensão de classificações e hierarqui- zações encontravam obstáculos em uma turma multisseriada, pois havia encontros, interações e movimentos de classes que ora se agrupavam de uma determinada forma, ora de outra e o arrastar de cadeiras mostrava a intensidade de tais encontros.
- 87. 86 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O Assim, não encontramos em nossa investigação uma identi- dade de grupo: grupo do primeiro ano, do segundo ano, etc, mas encontros, afinidades que surgiam e se desfaziam, eram momentâ- neos. No entanto, às vezes o fluxo era contido, talvez uma artimanha do Dispositivo Seriado fazendo força para recuperar o seu lugar e retomar seu espaço. Tal afirmação se baseia no fato de que, em alguns momentos, o professor justificava a formação de grupos hete- rogêneos a partir de sua concepção de “níveis de aprendizagem”. [...] isso, aí vamos dizer assim, eu vou trabalhar com os números decimais, a partir de um jogo onde todos eles podem jogar o mesmo jogo, porém a cobrança deles vai ser em níveis diferentes, não interessa se ele é do primeiro, segundo ou terceiro, a partir do momento que ele conseguir realizar o objetivo ele vai partir para o outro, se eu vejo que ele não consegue, por exemplo, contar o jogo com os dados, ele não conseguiu contar o valor numérico, ele tem que continuar trabalhando aquele valor ali, só que dentro do jogo eu trabalho o valor, mas também tem que trocar a unidade por dezena, entendeu? De acordo com a pontuação que vai fazendo. [Grifos nossos] [...] o aluno que tem dificuldade, ele vai precisar de ajuda daqueles colegas [...] então o meu papel, os dos próprios alunos é ajudar ele a fazer junto com o grupo [...] ora por aproximação de níveis, ora por níveis diferenciados, porque eles terminam a atividade e perguntam: professor posso ajudar o outro colega? - Mas tu sabes como o professor pergunta as coisas para ele - há eu sei professor, então posso ajudar ele? Eles vão reproduzindo aquilo que eu ques- tiono com os próprios colegas, mas pensa nessa letra aqui, será que começa com ela? .... Vai ali no cartaz, será que é essa, será que não é? Então eles também não estão ali dando respostas... [Grifos nossos] Dessa forma, em alguns momentos o Dispositivo da Seriação fazia imperar situações cotidianas ao modelo seriado. Entendíamos que, de vez enquanto, pareciam ser colocados biombos, paredes imaginárias na sala que tentavam separar os anos escolares em níveis de aprendizagem. Como afirma Bauman (1999), a classifi- cação é o modo de evitar o desconforto da desordem, é propor- cionar ao mundo uma ordenação, é, “manipular suas probabilidades, tornar alguns eventos mais prováveis que outros, comportar-se
- 88. 87 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O como se os eventos não fossem casuais ou limitar ou eliminar sua casualidade” (Ibidem, 1999, p.9). Assim, a classificação por níveis parecia querer ordenar o espaço da aula e prover-lhe uma estrutura. No entanto, percebemos que estes arranjos, muitas vezes não se sustentavam, pois a docência-sabot buscava não distin- guir idades e ano escolar e simplesmente, disparava algo para que todos fizessem suas apropriações. Dessa forma, por mais que o Dispositivo Seriado agisse com força sobre os fazeres e saberes docentes identificamos várias situações em que os professores escapavam de tal força e propunham experiências outras. Bom, eu acho que até de repente tu já observou, sempre quando passo os conteúdos, na realidade eles estão sempre interli- gados, tento fazer de uma forma que um ajude o outro em determinados momentos, então esses alunos do primeiro ano eles estavam, vamos dizer assim, em uma atividade deles, contar o valor que eu tinha pedido para eles pegarem... há... sabe contar até quatro, beleza, eu estava aprendendo trabalhando o conteúdo e eu já estava trabalhando com o terceiro, eles tinham que prestar a atenção para ver se o colega tinha contado certo, então eles também estavam voltando ao conteúdo anterior lá deles, eles tinham que prestar a atenção e alertar os colegas que fizeram a contagem errada. [Grifos nossos] Vamos dizer, não posso passar um problema de multipli- cação mais complexa para um aluno de primeiro ano, mesmo sabendo que ele tem condições... Mas eu não posso deixar de provocar ele, ou fazer com que ele em certo momento ajude aquele outro aluno a resolver aquele problema, porque ele também está aprendendo. [Grifos nossos] Agora o pessoal... Aqui vão se reunir os do segundo ano e terceiro, eu divido, tu divides, mas como eu digo, mas ainda há inte- ração entre eles, eu não os impeço de interagirem um com o outro, ou de certa forma. [Grifos nossos] Dessa forma, o professor não distinguia de forma rígida, as proposições feitas sobre os conteúdos pertinentes a cada série nas aulas de matemática. Pareceu-nos, nas entrevistas, que ele às
- 89. 88 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O vezes, até tentava separar quando fazia seu planejamento, porém ao executá-lo, a movimentação e o arrastar das cadeiras, fazia com que ocorresse a anulação de uma possível separação. Mengali (2011), na sua dissertação de mestrado, desenvolveu estudos sobre o desafio de ensinar matemática em uma classe multisseriada e por intermédio de sua investigação, afirmou que neste processo, “uma boa tarefa é aquela que possibilita gerar, na sala de aula, momentos ricos de aprendizagem, marcados pela circulação e pela produção de significações matemáticas”. (Ibidem, 2011, p.157). Ademais, a autora ressalta que utilizar métodos em que os alunos têm a experi- ência de trabalhar em conjunto, exercitando o diálogo, com material concreto e fazendo trocas “rompe com a crença de que a melhor maneira de ensinar conceitos matemáticos é partir da explicação clara desses conceitos pelo professor, seguidos da prática deles em exercícios” (MENGALI, 2011, p.177). Em suas observações das aulas de matemática em uma multisseriada a autora sinaliza que: A construção, no ambiente de sala de aula, de uma comunidade de investigação matemática possibilitou estabelecer com os alunos uma relação de confiança capaz de incentivá-los a protagonizarem os seus próprios processos de aprendizagem, assumindo responsa- bilidades, ou seja, participando ativamente. (MENGALI, 2011, p.157) Para sintetizar as discussões empreendidas até aqui, buscamos neste estudo, identificar as formas que fazem germinar as criações e novos modos de fazer educação matemática na organi- zação escolar multisseriada, percebendo dessa forma, essas ações criativas como fissuras na linearidade do currículo de matemática e na organização seriada. Sinalizamos que essa discussão é ampla e complexa, pois as fissuras não se esgotam somente no que nosso olhar se deteve, provavelmente existem outras possibilidades, outras formas que levam os professores a constituir uma docência-sabot.
- 90. 89 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O Considerações Finais Este texto buscou pensar a seriação como um dispositivo que, ao separar as crianças em idade/ano escolar, acaba organi- zando uma série de elementos para se efetivar e a multisseriação, como um contradispositivo que tende a tensionar a forma de orga- nização de tais elementos. A fim de visibilizar esta tensão, eviden- ciamos algumas fissuras que ocorreram nas aulas de matemática em uma classe multisseriada, rupturas que foram propiciadas pelos efeitos da heterogeneidade presente no contexto multisseriado. Na pesquisa realizada, foram evidenciados atos inventivos dos docentes que, pautados na arte do “tatear”, vão construindo outros modos de pensarmos à docência e a educação, mais especi- ficamente a educação matemática. Constitui-se aquilo que denomi- namos de docência-sabot, uma docência que sabota as estruturas, que atrita as engrenagens da maquinaria escolar, que nos diz o que é válido ou não para o campo educativo. Observamos que o ensino da matemática é tensionado, pois uma concepção muito presente nesta área do conhecimento diz respeito à necessidade de um ensino linear e hierarquizado que respeita a premissa do mais simples ao mais complexo. No entanto, como a sala de aula é habitada por diferentes anos escolares, o professor disponibiliza para a turma (entendida por ele como única) os conteúdos e cada um, a sua maneira, vai se apro- priando daquilo que o professor oferece. Porém, durante as entrevistas, em vários momentos, os professores expressaram suas angustias frente à falta de uma formação específica para um trabalho pedagógico com turmas multisseriadas. Tal fato nos fez inferir que a invisibilidade de discus- sões, no âmbito dos cursos de licenciatura, tem propiciado a cons- trução de docência inventiva que se produz no exato momento em que se efetua. Dito de outro modo, a falta de manuais de instrução
- 91. 90 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O do “faça assim!” tem gerado diferentes experiências educativas que, impulsionadas por movimentos criativos, minimizam a força do Dispositivo da Seriação. Assim, tal lacuna abre espaço para os devires e para a constituição de uma “docência-sabot” que se efetua em um processo de resistência ao que é imposto, pois resistir é “enveredar para outros modos de subjetivação tomando atalhos por onde o discurso que determina a verdade do sujeito não entra”. (SOUZA, 2003, p.41). Poderíamos pensar que a docência- -sabot permite a configuração de brechas, de um processo educa- tivo ainda sem imagens, pois, [...] é possível pelas brechas, pelas fissuras em sala de aula, pelo entre lugar, pelo meio da ação educativa, promover processos inven- tivos e criadores e fazer a diferença escorrer, pois é nesse espaço da fronteira que se pode pensar uma educação em trânsito [...] (BRITO, 2015, p. 35). É no sentido de perceber esta educação em trânsito que nosso olhar para o campo foi mobilizado. Ao longo da pesquisa, fomos percebendo que a sala de aula multisseriada é um espaço de resistência, pois ela tende a romper com o estabelecido, fazendo com que emerjam movimentos que desestabilizam o que é naturalizado pela maquinaria educacional. Tal condição seria, em nosso entender, propícia para a configuração de novas subjetividades docentes, principalmente para uma docência-sabot que busca fazer arte-arteiramente e que, fazendo força sobre o Dispositivo da Seriação provoca algumas fissuras nas aulas de matemática. Tal condição pode ser propicia para a emergência de outras possibilidades de fazer educação, pareceu-nos existir um processo inventivo, que aberto pelos processos de invisibilização, estimula a criação e libera certos fluxos. Para finalizar, destacamos que provavelmente as tensões não sejam somente as que, neste trabalho identificamos, mas foi o que vimos, sentimos e interpretamos. Como últimas palavras,
- 92. 91 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O sinalizamos um desejo: Esperamos que as reflexões empreendidas possam contribuir para que se construam outras percepções sobre as classes multisseriadas, que com uma forma diferente de fazer educação, potencializam a multiplicidade e a diferença. Referências BAUMAN, Zygmunt. Modernidade e ambivalência / Zygmunt Bauman; tradução Marcus Penchel. — Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1999. BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: matemática / Secretaria de Educação Fundamental. – Brasília : MEC/SEF, 1997. BRITO, Maria dos Remédios de. Entre as linhas da Educação e da diferença. São Paulo: Editora Livraria da Física, 2015. CORAZZA, Sandra. O que Quer Um Currículo? Pesquisa Pós-Críticas e Educação. Editora Vozes. Petrópolis/ RJ. 2001. CORAZZA, Sandra Mara; TADEU, Tomaz. Composições. Belo Horizonte: Autêntica, 2003. DELEUZE, Gilles; PARNET, Claire. Diálogos. Trad. Eloísa Araújo Ribeiro. São Paulo: Escuta, 1998. DÍAS, Mario. Foucault, Docentes e Discursos Pedagógicos. Liberdades Reguladas: a pedagogia construtivista e outras formas de governo do eu / Tomaz Tadeu da Silva (org). – Petropólis, RJ: Vozes, 1998. DUARTE, Claudia Glavam, TASCHETTO, Leonidas Roberto. A Conversar com Estátuas. Currículo sem Fronteiras, v. 14, n. 1, p. 50-61, jan./abr. 2014b. ISSN 1645-1384 (online) www.curriculosemfronteiras.org. Último acesso em 8/03/2018. FISCHER, Rosa Maria Bueno. Foucault revoluciona a pesquisa em educação? Perspectiva. Florianópolis, v. 21, n. 2, 2003, p. 371-389. FOUCAULT, Michel. Microfísica do Poder. Rio de Janeiro: Graal, 2000. FOUCAULT, Michel. A arqueologia do saber. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2008.
- 93. 92 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O FOUCAULT, Michel. Theatrum Philosophicum. In: FOUCAULT, Michel. Ditos & Escritos II – Arqueologia das ciências e história dos sistemas de pensamento. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005. GALLO, S. Deleuze & Educação. Belo Horizonte: Autêntica, 2003. HAGE, Salomão. Transgressão do Paradigma da (multi)seriação como referência para a construção da escola pública do campo. Educ. Soc., Campinas, v. 35, nº. 129, p. 1165-1182, out.-dez., 2014. LARROSA, Jorge. Pedagogia Profana. Belo Horizonte. Profana. 2000. LARROSA, Jorge. Experiência e Alteridade em Educação. Revista Reflexão e Ação, Santa Cruz do Sul, v.19, n2, p.04-27, jul./dez. 2011. LOURO, Guacira Lopes. Conhecer, Pesquisar e Conhecer... Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) (Porto Alegre/Brasil). Educação, Sociedade & Culturas, nº 25, 2007, 235-24. MENGALI, B. L. S. A cultura da sala de aula numa perspectiva de resolução de problemas: o desafio de ensinar matemática numa sala multisseriada. 2011. 218 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade São Francisco, Itatiba, SP, 2011. MEYER, Dagmar Estermann, PRAÍSO, Marluci Alves. Metodologias de Pesquisas Pós-críticas ou sobre como fazemos nossas investigações. Dagmar Estermann Meyer Marlucy Alves Paraíso (organizadoras). Metodologias de Pesquisas Pós-críticas em educação. Belo Horizonte: Mazza Edições, 2012. MIZOGUCHI, Danichi Hausen. Amizades Contemporâneas: Inconclusas Modulações de Nós. Danichi Hausen Mizoguchi. Porto Alegre/RS. Sulina, Editora da UFRGS, 2016. NEGRI, A. Exílio. São Paulo: Iluminura, 2001. SANTOS, Suelen Assunção. Experiências Narradas no Ciberespaço: Um olhar para as formas de se pensar e ser professora que ensina matemática. Dissertação de Metrado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS. Porto Alegre, 2009. SARTORI, Alice Stephanie Tapia. O lúdico na educação matemática escolar: efeitos na constituição do sujeito infantil contemporâneo. 2015. 158 f. Dissertação (Mestrado em Educação Científica e Tecnológica - Programa de Pós-Graduação em Educação Científica e Tecnológica) - Universidade Federal de Santa Catarina, 2015.
- 94. 93 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O SCHMITZ, Carmen Cecília. Caracterizando a Matemática Escolar. Reflexão e ação: Revista do departamento de educação/UNISC. Vol. 10, n. 1 (jan/ jun. 2002) – Santa Cruz do Sul: EDUNISC. 2002. SILVA, Tomaz Tadeu. Documentos de Identidade: uma introdução as teorias do currículo. Tomaz Tadeu da Silva, terceira edição. Belo horizonte. Autêntica, 2010. SILVA, T. T. da. Currículo e Identidade. Social: Territórios Contestados. In: ___ (org.) Alienígenas na sala de aula. Petrópolis - RJ: Vozes, 1998. SOUZA, Pedro de. Resistir, a que Será que se resiste? O sujeito feito fora de si. In: Linguagem em (Dis)curso. Tubarão, v. 3, Número Especial, p. 37-54, 2003. Sua pesquisa ponto com. Portal de pesquisas temáticas e educacionais. Copyright © 2004 - 2017 Sua Pesquisa. Com Todos os direitos reservados. https://www.suapesquisa.com/historia/guerra_de_ troia.htm Último acesso em: 26/11/2017. ZORDAN, Paola. Subjetividade na Iniciação à Docência: Personas. Vigésimo segundo encontro anpap 2013. Ecossistemas Estéticos. Belém, Pará. Páginas: 1154 a 1168.
- 95. CAPÍTULO 4 OLIMPÍADA: O USO DA PALAVRA EM VÁRIOS CONTEXTOS Josaine de Moura 4 Olimpíada: ousodapalavra emvárioscontextos JosainedeMoura DOI: 10.31560/pimentacultural/2019.515.94-104
- 96. 95 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O Este capítulo apresenta um estudo dos múltiplos signi- ficados da palavra olimpíada em diversos períodos históricos, particularmente voltada para as olimpíadas de matemática. Os aportes teóricos que sustentam a investigação advêm do campo da Educação Matemática, vinculam-se às teorizações do segundo Wittgenstein, principalmente àquelas desenvolvidas em sua obra Investigações Filosóficas. Deixando meu pensamento fluir embalado por uma inquie- tude e examinando trajetórias traçadas para chegar até o estudo da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP), percebo a recorrência nos escritos de Alves (2010), Maciel (2008) e Peraino (2007), que um dos possíveis fatores que motivou a retomada da trajetória das olimpíadas foi o “significado” que a palavra “olimpíada” carrega. Dizendo de outra maneira, o caminho traçado nos estudos acima citados foi motivado pelo que a palavra “olimpíada” significa. Para realizar uma outra maneira de percorrer o possível percurso que a escolha da palavra olimpíada possui, metaforica- mente falando, no vagar desses caminhos, tomo para a navegação o mapa traçado seguindo a teoria de Wittgenstein e seus estudos sobre linguagem e o significado da palavra. Em Investigações Filosóficas, a direção apontada por Wittgenstein é bem diferente do que a indicada nos trabalhos refe- renciados anteriormente. Inspirada nos estudos desse filósofo, refuto a ideia de que o significado da palavra “olimpíada” carrega uma essência (carrega um único significado) e que, ao ser usada, independentemente da época e do contexto, essa palavra tem o mesmo significado. Para uma grande classe de casos – mesmo que não para todos – de utilização da palavra ‘significado’, pode-se explicar essa palavra do seguinte modo: o significado de uma palavra é seu uso na linguagem. E o significado de um nome se explica, muitas vezes, ao se apontar para seu portador. (WITTGENSTEIN, 2009, p. 38).
- 97. 96 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O Aliando-me a Wittgenstein (2009) quando esse destaca que o “significado de uma palavra é seu uso na linguagem”, destaco que a palavra “olimpíada” não possui um significado determinado e que sua significação está atrelada ao uso que é feito dela. Tomando o “uso” como a forma de dar significado à palavra “olimpíada”, busco suas possíveis significações, observando os diferentes contextos em que foi empregada e as situações em que esteve e está envolvida (Olimpíada da Era Antiga, Olimpíada Moderna e Olimpíada de Matemática) A significação da palavra, para Wittgenstein, não pode ser vista como coisa fixa, levando em consideração somente a semân- tica, mas sim estudada por meio de uma abordagem pragmática, presente no dia a dia, na qual o contexto determina e modifica a significação da palavra, torna-se necessário pensar que o uso da palavra é realizado respeitando-se as regras postas para sua utili- zação nesse cenário. A Olimpíada da Era Antiga, a Olimpíada Moderna e a Olimpíada de Matemática são jogos que privilegiam a competição e o bom desempenho almejado para ser um vencedor. Os múlti- plos usos da palavra “olimpíada” possuem aproximações por deno- tarem atividades regidas por regras, e não o conjunto de signos que possuem significação e relevância, por e em si mesmos. Passo agora a retomar e analisar, nesses jogos, caracterís- ticas presentes em cada um, relações entre eles e diferenças que ocorreram no próprio jogo (OBMEP). Esses jogos possuem pelo menos uma característica comum, mas não essencial: a compe- tição. Quando afirmo que não é essencial, estou querendo pontuar que, apesar de a palavra “competição” ser a mesma nos três jogos, ela não tem o mesmo significado. Considerando tais pressupostos, podemos observar que, para competir nos jogos olímpicos da Era Antiga, bastava satisfazer
- 98. 97 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O a condição necessária de ser de origem grega. Segundo o soció- logo Guttmann (2001), os competidores participavam das provas que compunham os jogos, que demarcavam uma festividade para demonstrar o vínculo religioso que possuíam e festejar a devoção aos deuses. O vencedor da olimpíada era aquele competidor, grosso modo, que chegasse ao final de todas as provas (o competidor não possuía uma única especialidade olímpica, ele participava de todas as provas), tendo vencido o maior número de adversários e com a melhor forma física ao final dos eventos, ou o que apresentasse menos escoriações, machucados e lesões. Em outras palavras, aquele que permanecesse vivo após participar de todas as provas. Nesse cenário, a competição era uma questão de chegar ao final de todas as provas com vida, vencendo algumas ou, ao menos, sobrevivendo. A vitória era suplantada pela participação. A Olimpíada Moderna é um jogo que se diferencia da Olimpíada da Era Antiga inicialmente por não possuir o vínculo reli- gioso, mas possui regras bem definidas para a participação dos competidores. Segundo Guttmann (1978), a Olimpíada Moderna apresenta características próprias da Modernidade: secularidade, igualdade, especialização, racionalização, burocracia, quantifi- cação e busca pela quebra de recordes. A secularização consiste na não vinculação do esporte com o terreno sagrado. [...] O esporte solicita, pelo menos teoricamente, que todos sejam admitidos por suas habilidades atléticas e que a regra seja igual para todos os competidores. [...] especialização pode ser entendida como o que hoje é conhecido por profissionalismo. [...] A racionalização se apresenta como a adoção de regras específicas e o uso de equipamentos tecnológicos. [...] A burocratização trata da organização institucional que estabelece e decide as regras e fisca- liza os jogos. Já a quantificação representa nos esportes modernos a vida cotidiana, um mundo de números que é extremamente enfa- tizado e mensurável no esporte moderno – como, por exemplo, as estatísticas exibidas nas partidas de futebol (chutes a gol, número de faltas, escanteios, tempo e percentual de posse de bola, etc.) [...] busca pela quebra de recordes refere-se à superação do superado. (LIMA; MARTINS; CAPRARO, 2009, p. 3-4).
- 99. 98 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O As características da Olimpíada Moderna citadas por Guttmann (1978) foram justificadas pelo pertencimento à Modernidade. Como a OlimpíadadeMatemáticatambémfoiinventadanessemesmocenário, observo que existem semelhanças entre ambos os jogos. As seme- lhanças são verificadas desde a primeira característica, com algumas não possuindo a mesma significação e outras desaparecendo. Examinando as Olimpíadas de Matemática, detectei a “secu- larização”, ou seja, a inexistência de um vínculo entre a matemática e a religião (crença religiosa), e a ausência de qualquer referência, nos documentos, a um terreno sagrado. Em relação à “igualdade”, a semelhança dessa característica em ambos os jogos se dá em função de que as regras do jogo são as mesmas para todos os competidores, porém são diferentes na Olimpíada Moderna e na Olimpíada de Matemática. Essa diferença nas regras é eviden- ciada de uma maneira muito incipiente, pois na Olimpíada Moderna a questão predominante é a habilidade física do competidor para desempenhar um esporte; já nas Olimpíadas de Matemática é a habilidade mental (matemática acadêmica1 ) para resolver problemas matemáticos. A “especialização” também apresenta significados diferentes nos dois jogos, visto que, na Olimpíada Moderna, há uma busca constante pelo aperfeiçoamento físico e, na Olimpíada de Matemática, há busca por mais conhecimento matemático. As características “racionalidade” e “burocratização” são as que mais se assemelham entre esses jogos. Nesse sentido, os dois jogos adotam regras específicas e usam equipamentos 1. Importa destacar que não é a intenção deste trabalho realizar discussões sobre a importância de reconhecer a existência de matemáticas, no plural, mas quero demarcar que a perspectiva à que me filio para embasar minha concordância com a legitimação de outras matemáticas que não apenas a matemática escolar (matemática ensinada na escola ou matemática acadêmica) é a teoria desenvolvida no campo da Etnomatemática, vertente da educação matemática cujo mentor é Ubiratan D’Ambrósio. Cabe ainda destacar as pesquisas desenvolvidas pelo Grupo Interinstitucional de Pesquisa em Educação Matemática e Sociedade GIPEMS – Unisinos, como as de: Knijnik (1996, 2003), Giongo (2001, 2008), Duarte (2003, 2009), Wanderer (2007), Oliveira (2011), Quartieri (2012), Schreirer (2012) e Junges (2012).
- 100. 99 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O tecnológicos. No entanto, quando analisamos particularmente as regras e os equipamentos, são totalmente diferentes entre eles. Por último, examinando a característica “quebra de recordes”, verifico que esta é marcante na Olimpíada Moderna, mas não é eviden- ciada na Olimpíada de Matemática. Buscando semelhanças entre os jogos (Olimpíada da Era Antiga, Olimpíada Moderna e Olimpíada de Matemática), ratifico que, em todos esses jogos, há semelhança em suas características por eles serem criados de maneira que, ao final da competição, seja possível determinar um vencedor. Voltando a atenção para as Olimpíadas de Matemática (IMO, OBMeOBMEP),observoqueelasapresentamsemelhança:oconhe- cimento a ser aferido na área da Matemática; ao mesmo tempo em que constituem “verdades” sobre o campo da Matemática, também são constituídas por verdades que circulam nesse campo. A característica que aparece com primazia, nas Olimpíadas de Matemática, é o conteúdo específico desenvolvido na área da Matemática. Em outras palavras, nas Olimpíadas de Matemática, mesmo observando que provas, premiações, regras, contextos, competidores, quase na sua maioria, são elementos diferenciados entre os jogos, o que é considerado, em todos esses jogos, no momento da escolha do vencedor, é o desempenho do competidor nas avaliações realizadas. As provas das Olimpíadas de Matemática, na sua totali- dade, são avaliações compostas de questões a serem resolvidas. A resolução está atrelada a um conhecimento cognitivo, específico da área da Matemática. Quando olhamos para as Olimpíadas de Matemática (OBM e OBMEP) como jogos que, ao fim e ao cabo, necessitam de um vencedor ou vencedores, as semelhanças parecem ter um parentesco mais evidente; em contrapartida, isso não ocorre quando realizamos essa análise nos jogos Olimpíada da Era Antiga, Olimpíada Moderna e Olimpíada de Matemática.
- 101. 100 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O Os jogos Olimpíadas de Matemática assemelham-se em muitos sentidos (competidores, avaliações, premiações, etc.). Mesmo considerando as semelhanças entre as Olimpíadas de Matemática (tipos de avaliações, tempo de prova, competidores, premiações), mais particularmente, a OBM e a OBMEP, os contrastes entre esses jogos são significativos. No que se refere à diferença primeira entre esses jogos, podemos apontar o público a que estão destinados. A OBM desti- na-se a todos os estudantes interessados em participar, desde que estejam no ensino fundamental, a partir do 6ª ano, no ensino médio ou universitário, de escolas públicas ou privadas de todo o Brasil. Já a OBMEP é dirigida apenas aos alunos de escolas públicas (municipais, estaduais e federais) do 6º ao 9º ano do ensino fundamental ou aos alunos do Ensino Médio. Considerando tais entendimentos, podemos apontar que os alunos das escolas públicas têm mais oportunidades de vencer, já que podem parti- cipar de mais de uma olimpíada. Cabe ainda destacar que o jogo ganha sentido no contexto. Assim, será examinada particularmente a OBMEP, inserida na socie- dade neoliberal brasileira. Considerando tais entendimentos, assinalo que essa competição ganha um novo significado. Trata-se, portanto, não apenas de uma competição que busca um vencedor, mas que tem a intenção de colocar todos os alunos (das escolas públicas) no jogo. Além disso, podemos pensar na intencionalidade do Governo de possuir mais um aliado para sua campanha de “Educação para Todos”. Isso foi pensado de maneira a incluir alunos que participavam das competições de matemática existentes, mas que
- 102. 101 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O não conseguiam ser premiados1 , o que é um imperativo do jogo neoliberal: a inclusão. Temos aí, uma das principais regras do jogo neoliberal. Foucault (2008, p. 277-278) destaca que [...] a sociedade inteira deve ser permeada por esse jogo econômico e o Estado tem por função essencial definir as regras econômicas do jogo e garantir que sejam efetivamente bem aplicadas. [...] cabe à regra do jogo imposta pelo Estado fazer que ninguém seja excluído desse jogo. O Governo apresenta outra significação, da palavra “olim- píada”, junto à sociedade e à comunidade escolar, que é uma rede de táticas que permite tornar visível o desempenho dos alunos das escolas públicas brasileiras em matemática, vigiando-os, hierarqui- zando-os de acordo com as notas que eles obtêm nas provas que avaliam conhecimentos matemáticos; ainda, pode-se pensar que uma das táticas utilizadas pelo Governo para que alunos obtenham bom desempenho em matemática é serem competitivos. Tomando as discussões realizadas sobre “olimpíada” como jogo e observando as semelhanças entre os jogos (várias olimpí- adas), volto a olhar para o contexto em que a OBMEP está inserida, imerso no cenário contemporâneo – e, na ordem do discurso dessa conjuntura, está a inclusão. Esse jogo só é possível em virtude de seus jogadores conhe- cerem como jogar e saberem quem pode tomar parte no jogo, já que se sabe que somente (até o ano de 2018) alunos de escolas públicas podem participar da OBMEP. Esse outro significado de 1. Segundo a professora Ana Catarina Hellmeister (uma das coordenadoras regionais da OBMEP, do estado de SP), em uma entrevista dada ao R7.com, a Paulo Amorin, no ano de 2010, a OBMEP foi criada a pedido do então presidente da república Luiz Inácio Lula da Silva para a presidente da SBM (Sociedade Brasileira de Matemática), a professora Suely Druck. Esse fato ocorreu quando o presidente Lula, que estava participando da premiação dos medalhistas de ouro da Olimpíada Brasileira de Matemática (OBM) questionou à presidente da SBM: “entre esses medalhistas, existe algum moleque de escola pública?”. E a resposta de Suely foi que “infelizmente, não havia nenhum”. Esse foi o fato que impulsionou os idealizadores da OBMEP, na sua grande maioria, os que já haviam criado a OBM, a criarem a competição.
- 103. 102 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O um conhecimento prévio, ou seja, o uso da palavra, está vinculado com a realidade que está inserida a OBMEP. A significação é dife- rente das produzidas anteriormente para e pelas Olimpíadas de Matemática. E é com essa nova significação a OBMEP pode ser inventada como uma rede de táticas de governamento dos alunos para que obtenham um bom desempenho em avaliações (interna e externa). Essa rede de governamento hierarquiza alunos e escolas do Brasil mensurando o conhecimento matemático desses indiví- duos. A OBMEP se inseriu nas escolas (particularmente no CMPA). O exercício analítico efetivado sobre os deslocamentos da palavra olimpíada e seus significados mostrou que a olimpíada de matemática se distancia da olimpíada moderna, pois a primeira prioriza o cognitivo e a segunda, o físico. Nessa direção, apontamos que existem aproximações sendo esses presentes nas caracterís- ticas de “racionalidade” e de “burocratização” presentes tanto nas olimpíadas de matemática quando nas olimpíadas modernas. Referências ALVES, Washington José Santos. O impacto da olimpíada de matemática em alunos da escola pública. 2010. 92f. Dissertação (mestrado profissionalizante em Ensino de Matemática) -- Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC-SPL, São Paulo, 2010. DUARTE, Claudia Glavam. A “realidade” nas tramas discursivas da educação matemática escolar. 2009. Tese (Doutorado em Educação) – Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade do Vale do Rio dos Sinos, São Leopoldo, 2009. DUARTE, Claudia Glavam. Etnomatemática, currículo e práticas sociais do “mundo da construção civil”. 2003. Dissertação (Mestrado em Educação) – Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade do Vale do Rio dos Sinos, São Leopoldo, 2003. FOUCAULT, Michel. Nascimento da biopolítica. Curso no Collége de France, 1978-1979. São Paulo: Martins Fontes, 2008
- 104. 103 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O GIONGO, Ieda Maria. Educação e produção do calçado em tempos de globalização: um estudo etnomatemático. 2001. Dissertação (Mestrado em Educação). Programa de Pós- Graduação em Educação. UNISINOS, São Leopoldo, 2001. GIONGO, Ieda Maria. Educação matemática e disciplinamento de corpos e saberes: um estudo sobre a Escola Estadual Técnica Agrícola Guaporé. 2008. Tese (Doutorado em Educação) -- Programa de Pós-Graduação, Universidade do Vale do Rio dos Sinos - Unisinos, São Leopoldo, 2008. GUTTMANN, A. From ritual to record: the nature of modern sports. New York: Columbia University, 1978. GUTTMANN, A.; THOMPSON, L. B. Japanese sports: a history. Hawaii: University of Hawaii, 2001. JUNGES, Débora de Lima Velho. Família, escola e educação matemática: um estudo em uma localidade de colonização alemã do vale do rio dos sinos - RS. 2012. Dissertação (Mestrado em Educação) -- Programa de Pós- Graduação em Educação, Universidade do Vale do Rio dos Sinos – Unisinos, São Leopoldo, 2012. KNIJNIK, Gelsa. Exclusão e resistência: educação matemática e legitimidade cultural. Porto Alegre: Artes Médicas, 1996. KNIJNIK, Gelsa. Currículo, etnomatemática e educação popular: um estudo em um assentamento sem terra. Currículo Sem Fronteiras, [S.l.], v. 3, n. 1, p. 96-110, jan./jun. 2003. LIMA, Mariza Antunes de; MARTINS, Clóvis J. ; CAPRARO, André Mendes. Olimpíadas modernas: a história de uma tradição inventada. In: PENSAR a prática. Goiânia: Universidade Federal de Goiás – UFG, 2009. p. 1-11, v.12. MACIEL, Marcos Vinícius Milan. GEMath – A criação de um grupo de estudos segundo fundamentos da educação da matemática crítica: uma proposta de Educação Inclusiva. 2008. 135 f. Dissertação (mestrado em Educação Matemática) - - Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS, Porto Alegre, 2008. OLIVEIRA, Sabrina Silveira de. Matemáticas de formas de vida de agricultores do município de Santo Antônio da Patrulha. 2011. Dissertação (Mestrado em Educação) -- Programa de Pós- Graduação em Educação, Universidade do Vale do Rio dos Sinos – Unisinos, São Leopoldo, 2011. PERAINO, Mariangela Alonso Capasso. Adolescente com altas habilidades-superdotação de um assentamento rural: um estudo de caso.
- 105. 104 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O 2007. 104 f. Dissertação (Mestrado em Psicologia) -- Universidade Católica Dom Bosco – UCDB, Campo Grande, 2007. QUARTIERI, Marli. Jogos de linguagem e educação matemática em Curso de Tecnologia em Gestão. 2012. Tese (Doutorado em Educação) - Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Gelsa Knijnik. SCHREIBER, Juliana Menegalli. Jogos de linguagem e educação matemática em Curso de Tecnologia em Gestão. 2012. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós Graduação Em Educação) - Universidade do Vale do Rio dos Sinos, capes. Orientador: Gelsa Knijnik. WANDERER, Fernanda. Escola e matemática escolar: mecanismos de regulação sobre sujeitos escolares de uma localidade rural de colonização alemã do Rio Grande do Sul. 2007. Tese (Doutorado em Programa de Pós Graduação Em Educação) - Universidade do Vale do Rio dos Sinos, São Leopoldo. Orientador: Gelsa Knijnik. WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações filosóficas. Tradução de Marcos G. Montagnoli. Petrópolis: Vozes, 2009.
- 106. CAPÍTULO 5 MATEMÁTICA ESCOLAR COMO TÁTICA DE GOVERNAMENTO EM UM ESPAÇO INCLUSIVO Guilherme Franklin Lauxen Neto Josaine de Moura 5 Matemáticaescolar comotática degovernamento emumespaço inclusivo GuilhermeFranklinLauxenNeto JosainedeMoura DOI: 10.31560/pimentacultural/2019.515.105-126
- 107. 106 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O O capítulo discute sobre qual(is) é/são a(s) matemática(s) encontradas nas análises das enunciações que circulam no meio institucional do GerAção/POA. O GerAção/POA atua na cidade de Porto Alegre/RS e é um espaço que promove a inclusão psicosso- cial pelo trabalho e autonomia financeira de pessoas que possuem sofrimento psíquico grave ou persistente. Estudou-se o tipo de conhecimento matemático esperado para ensinar os usuários a serem “protagonistas da própria vida”. O material empírico foi composto por quatro entrevistas semiestruturadas realizadas com profissionais da saúde que atuam no GerAção/POA, página oficial do GerAção/POA no Facebook, atas do Projeto Agenda e obser- vações das oficinas. As lentes teóricas utilizadas para a realização do estudo tiveram inspiração na perspectiva pós-estruturalista, em especial nas teorizações de Michel Foucault. Em ambientes de aprendizagem escolares e não escolares, na contemporaneidade, circulam perquirições que convergem para: O que é ser um sujeito normal? O que define um sujeito como anormal? Estas perquirições são pertinentes e legitimadas, uma vez que a inclusão está na ordem do discurso da sociedade em que vivemos. Nessa direção inferimos que o indivíduo denominado “normal” é o que permite ser assujeitado e, pelas relações de poder, se conduz para a normatização da disciplina. Em outras palavras, constitui-se um sujeito disciplinado, normalizado e “moldado” segundo práticas discursivas e não-discursivas produzidas por uma sociedade que governa e é governada e produtoras dessa mesma sociedade. 1) A norma refere os atos e as condutas dos indivíduos a um domínio que é, ao mesmo tempo, um campo de comparação, de diferenciação e de regra a seguir (a média das condutas e dos comportamentos). 2) A norma diferencia os indivíduos em relação a esse domínio, considerado como um umbral, como uma média, como um optimum que deve ser alcançado.
- 108. 107 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O 3) A norma mede em termos quantitativos e hierarquiza em termos de valor a capacidade dos indivíduos. 4) A norma, a partir da valorização das condutas, impõe uma confor- midade que se deve alcançar; busca homogeneizar. 5) A norma, finalmente traça a fronteira do que é exterior (a diferença com respeito a todas as diferenças), a anormalidade. (CASTRO, 2009, p. 310). Atualizando a compreensão de norma para ambientes esco- lares, Coutinho (2010), enfatiza que a produção dos escolares anor- mais está baseada sobre a concepção de que norma é estabelecida arbitrariamente e que “está envolvida na histórica transformação dos processos de individualização dos sujeitos” (Idem, p.21). (...) os indivíduos são classificados como normais ou anormais, sendo a norma a finalidade a ser alcançada por todos da população. Aqueles que são anormais são examinados e colocados em cons- tante correção até que alcancem a normalidade ou pelo menos se aproximem o máximo da normalidade, que é o padrão instituído pela norma. (PINHEIRO, 2014, p. 50). Na contemporaneidade, os que se consideram normais decidem sobre a vida dos anormais, estabelecendo meios e métodos de correção para que os anormais sejam aproximados o máximo possível da norma normal. “Percebe-se, pois, que a versão moderna da dicotomia normal/anormal não foi construída e operada para funcionar num campo de pura oposição, mas de graduação do anormal para o normal.” (COUTINHO, 2010, p. 27). Visto que esta graduação ocorre, corrobora pensar que o sujeito dito anormal já está inserido na norma, porém distante de um ideal da mesma. Para Coutinho (2010) a escola pode ser tomada como uma produtora de seus sujeitos inadaptados, e para Bauman (1998), talvez os inadaptados de Coutinho (2010) se aproximem dos estranhos. E tanto os inadaptados quanto os estranhos, se diferen- ciam dos normais e anormais por estarem
- 109. 108 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O na exterioridade selvagem: sobre esses últimos não há saberes. Nesse sentido, uma vez detectados os estranhos, faz-se necessário operar com sistemas de saberes capazes de trazer os estranhos para dentro da norma: primeiro como anormais, depois, se possível, como normais. (COUTINHO, 2010, p. 27) Uma das redes discursivas que produzem o anormal emerge das políticas de inclusão escolar, visto que, como estratégia de capturar os estranhos, produz discursos que categorizam indivíduos e assim fazem com que eles, muitas vezes, cheguem aos espaços escolares com um pertencimento a uma categoria já definida - normal ou anormal -impedindo-os de ser outra coisa - estranho. Esse emaranhado de práticas discursivas pode ser compreen- dido como uma rede de táticas para esmaecer as diferenças, e cons- tituir a inclusão, vista anteriormente como um problema, não mais de responsabilidade do estado, e sim de responsabilidade do sujeito que é o diferente, ou ainda, do sujeito da diferença. Observa-se que de forma silenciosa e com intenções contraditórias o estado inclui, mas adota um currículo unitário e homogeneizante, portanto exclui. Não exijam da política que ela restabeleça os ‘direitos’ do indivíduo tal como a filosofia os definiu. O indivíduo é produto do poder. O que é preciso é ‘desindividualizar’ pela multiplicação e o deslocamento, o agenciamento de combinações diferentes. O grupo não deve ser o liame orgânico que une indivíduos hierarquizados, mas um cons- tante gerador de ‘desindividualização’. (FOUCAULT, 1991, p.2). Esta forma velada e indiferente de inclusão pode ser conside- rada uma inclusão fascista, visto que ainda estigmatiza, discrimina e segrega o sujeito da diferença. Entende-se por fascismo não somente o fascismo histórico de Hitler e Mussolini — que soube tão bem mobilizar e utilizar o desejo das massas —, mas também o fascismo que está em todos nós, que ronda nossos espíritos e nossas condutas cotidianas, o fascismo que nos faz gostar do poder, desejar essa coisa mesma que nos domina e explora. (Idem, p.2).
- 110. 109 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O Esta inclusão, mais próxima de uma segregação, se utiliza da matemática como uma das táticas de governamento. Segundo Pinheiro esta é uma tática de uma sociedade neoliberal em que os sujeitos não precisam ser iguais aos outros e são respeitadas suas limitações, mas dos quais se espera flexibilidade na formação, para realizar as adequa- ções necessárias às demandas do mercado. (2014, p.32). Nessa lógica complexa de in/exclusão é que se questiona o papel da Matemática nos ambientes de aprendizagem e nas políticas de inclusão, particularmente, no projeto GerAção/POA. Desenvolvido no município de Porto Alegre, o projeto tem como escopo a inclusão psicossocial pelo trabalho, direcionando-se a pessoas que possuem um sofrimento psíquico grave ou persistente, as quais nesse meio recebem uma denominação específica, a de usuários. (...) um novo conceito de educação especial, a Política enseja novas práticas de ensino, com vistas a atender as especificidades dos alunos que constituem seu público alvo e garantir o direito à educação a todos. Aponta para a necessidade de se subverter a hegemonia de uma cultura escolar segregadora e para a possibilidade de se rein- ventar seus princípios e práticas escolares. (ROPOLI, 2010, p.6). O direito de receber oportunidades de ensino, dentro de suas peculiaridades, deve ser a premissa para qualquer proposta que tenha como foco a inclusão, pois sujeitos da diferença não podem receber o mesmo ensino de sujeitos categorizados como normais, ou seja, esses sujeitos necessitam receber um ensino adequado às suas demandas. Em outras palavras, “liberem a ação política de toda forma de paranoia unitária e totalizante” (FOUCAULT, 1991, p.2). Neste estudo, procura-se descrever e analisar enuncia- ções que circulam no meio institucional do GerAção/POA sobre Matemática(s) necessária(s) para os usuários serem protagonistas da própria vida e “façam crescer a ação, o pensamento e os desejos por proliferação, justaposição e disjunção, e não por subdivisão e hierarquização piramidal” (Idem, p.2). Discursos sobre inclusão de
- 111. 110 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O sujeitos que são tomados como anormais, na contemporaneidade, e que é o público do projeto GerAção/POA, mediante a capacitação para que sejam integrados na sociedade por meio de indepen- dência financeira, capturaram-nos e impulsionaram este estudo. Os usuários são tomados em uma matriz balizada pelo pensamento ocidental, no qual impera o negativo, mas problematiza-se esse pensamento para que livrem-se das velhas categorias do Negativo (a lei, o limite, as castra- ções, a falta, a lacuna) que por tanto tempo o pensamento ocidental considerou sagradas, enquanto forma de poder e modo de acesso à realidade. Prefiram o que é positivo, múltiplo, a diferença à unifor- midade, os fluxos às unidades, os agenciamentos móveis aos sistemas. Considerem que o que é produtivo não é sedentário, mas nômade. (Idem, p.2). Aqui, busca-se escrutinar os materiais das oficinas oferecidas pelo projeto, de maneira a trazer para a visibilidade as Matemáticas presentes, e analisar se estas são potentes para reverenciar o posi- tivo ou seguem legitimando o negativo. Para empreender o estudo, realizou-se quatro entrevistas semiestruturadas com membros da equipe de funcionários do GerAção/POA, sendo os sujeitos três terapeutas ocupacionais e uma psicóloga, analisou-se a página oficial do GerAção/POA no Facebook, atas do Projeto Agenda e observou-se as oficinas minis- tradas para os usuários. Os indivíduos entrevistados foram esco- lhidos por terem envolvimento diário com as oficinas desenvolvidas e disponibilidade de participação na pesquisa. As entrevistas cons- tituíram o material de pesquisa, o qual foi analisado utilizando-se Análise do Discurso, a partir das teorizações de Michel Foucault, segundo as quais os discursos produzidos são analisados buscan- do-se ler o que está escrito, ou seja, reconhecendo-se o que o sujeito quer dizer, sem a pretensão de interpretar o que está escrito.
- 112. 111 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O Com essa forma de tomar os documentos de análise da pesquisa, penso ser pertinente colocar em evidência o que entendo quando me refiro a discurso no sentido tomado por Foucault, distanciado do significado da palavra no campo da linguística. O autor rejeita a ideia de discurso como uma expressão de fala do sujeito produtor de significados, indicando que, quando menciona discurso, está se referindo às práticas do sujeito, estas que estabelecem hierarquias, distinções, que configuram as possibilidades de outros discursos serem considerados verdades, articulando o dizível e o visível. (PINHEIRO, 2014, p.41). Portanto, analisou-se o que está escrito a partir de recorrên- cias dos ditos. GerAção/POA O projeto GerAção/POA, é parte integrante da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) do município de Porto Alegre. Nesta seção, apresenta-se brevemente um histórico e o funcionamento dessa rede, com o intuito de justificar a importância de projetos como o GerAção/POA no contexto da saúde mental. A partir da Reforma Sanitária, foi criada a Rede de Atenção Psicossocial, na qual no centro se encontra o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS). O CAPS configura-se como uma das princi- pais ferramentas das políticas que reestruturam a atenção em saúde mental. Deve articular redes de saúde e de promoção de vida comu- nitária e autonomia dos usuários. Para cada usuário é construído um Plano Terapêutico Singular, um conjunto de propostas terapêuticas articuladas em discussão coletiva interdisciplinar que tem por meta a reabilitação psicossocial. Dentre as propostas terapêuticas, desta- cam-se as oficinas terapêuticas, divididas em oficinas expressivas e oficinas de geração de renda. As oficinas podem ser propostas por qualquer profissional do CAPS de nível médio ou superior e devem promover ações em saúde, trabalho, educação e inclusão.
- 113. 112 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O Vinculado à Secretaria Municipal da Saúde, o GerAção/POA caracteriza-se como um projeto que possibilita, a usuários dos CAPS, vivências de trabalho e trocas sociais e solidárias por meio das oficinas terapêuticas, sendo considerado como uma das ações psicossociais que compõem a rede de saúde mental do município de Porto Alegre. No ano de 2015, o projeto atendeu um público de cerca de 180 usuários que se encontravam, em sua maioria, em sofrimento psíquico grave ou persistente e afastados do trabalho. A equipe de profissionais desenvolve atividades balizadas pelo objetivo de integrar o usuário com a comunidade à qual pertence, mas com foco na inclusão social. O GerAção/POA desempenha uma função específica dentro da Rede de Atenção Psicossocial, pois, dentre as atividades ofere- cidas, cabe à geração de renda desenvolver ações para a reinserção do usuário no trabalho formal ou informal. Assim sendo, compõe-se um conjunto de oficinas, em um total de nove, das quais, desta- ca-se: Serigrafia, Papel Reciclado, Costura, Velas e Projeto Agenda, que são as relacionadas com geração de renda e trabalho. Em cada uma dessas oficinas, procurou-se conteúdos da Matemática escolar que pudessem ser utilizados para facilitar o trabalho dos usuários e capacitá-los para serem competentes na gerência dos seus recursos financeiros. Oficinas de Geração de Renda As oficinas do GerAção/POA são diversas, de maneira a abarcar o maior número de usuários e de acordo com o interesse e a viabilidade de trazer um retorno financeiro para os sujeitos que necessitam. Destaca-se alguns aspectos que são relevantes e conteúdos matemáticos que apareceram em nossas análises,
- 114. 113 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O garimpados e descritos a partir de conhecimentos que se possui sobre o tema e das descrições de cada ação. As oficinas são: a) Serigrafia: os usuários customizam vestimentas em geral, bolsas e materiais para eventos. Nessa oficina, a geometria poderia ser útil, pois o usuário precisa localizar o ponto central do objeto a ser “customizado”. Além disso, a exploração de formas geomé- tricas, verificando-se a área e o perímetro de cada uma, ajudaria na estimativa da quantidade de tinta que será utilizada e do valor gasto com o material. Para determinar o preço final do produto, o usuário necessita de cálculos básicos (soma, subtração, multiplicação e divisão) e matemática financeira (porcentagem e conceitos de valor bruto e valor líquido). b) Papel Reciclado: o papel pode ser produzido a partir de receitas quando há uma encomenda específica ou produzido de forma aleatória. Nessa oficina, são produzidos artesanatos, tais como: blocos, pastas, agendas, álbuns, marcadores de páginas, cartões e folhas. Para a produção de agendas e álbuns, os usuários também trabalham com cartonagem. Na produção de papel, pode-se perceber a utilização dos conceitos de razão e porcentagem, uma vez que são utilizadas receitas, nas quais são empregados os conceitos de unidades de massa e volume. Na cartonagem, a principal ferramenta utilizada é a régua e, por conse- quência, as unidades de medida. A geometria é usada no cálculo de áreas e de aproveitamento máximo de papel, bem como no cálculo de sobras e abas para a realização da colagem. Na determinação do preço final, são utilizados conceitos de matemática financeira (porcentagem, valor bruto e líquido, lucro). Para a compra de mate- riais, são necessários a ideia de aproveitamento de papel para evitar desperdício e o planejamento de compra (quanto comprar e preço). c) Costura: atividade em que os usuários costuram vestuários diversos que são comercializados em feiras e no próprio ambiente
- 115. 114 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O do GerAção/POA. A geometria pode ser reconhecida em processos como: medida de um tecido, reconhecimento das formas geomé- tricas, cálculo de área e de aproveitamento máximo de um tecido, cálculo de sobras e abas para a realização da costura, visualização espacial para a adequação do tecido ao corpo (conceitos de altura, largura, silhueta), entre outros que podem não ter sido observados. d) Velas: nesta oficina, a matemática pode ser observada prin- cipalmente na compra dos materiais necessários para a produção (parafina, pavio, corantes e essências). São também utilizados os conceitos de massa e temperatura, empregando-se unidades de massa e o termômetro para o manuseio da parafina. e) Projeto Agenda: é uma das principais atividades da GerAção/POA, sendo resultado do trabalho coletivo dos usuários- -trabalhadores, que se responsabilizam por todas as suas etapas: processo criativo; pesquisa; planejamento; gerenciamento de custos; produção; comercialização e administração da renda. In/exclusão × matemática escolar A escola, pelo seu conservadorismo, está afastando alunos. A educação escolar deve atender à demanda dos alunos, aceitando os seus anseios e respeitando as suas diferenças. A massificação leva à exclusão. Incluir é respeitar as diferenças. (Entrevista com funcionária do GerAção/POA) No material de análise, busca-se nos discursos produzidos pelos componentes da equipe técnica do GerAção/POA as possí- veis Matemáticas que seriam necessárias para os usuários serem protagonistas da própria vida. Além disso, questionou-se sobre como a Matemática poderia ajudar no processo de inclusão por meio da
- 116. 115 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O capacitação dos usuários, de maneira a tornarem-se autônomos, gerirem suas escolhas e, consequentemente, governarem sua vida. A inclusão não pode ser entendida apenas como resultado de pres- sões internacionais, culminando em políticas públicas voltadas a uma educação de qualidade para todos, mais humana e democrática. Ela deve ser vista como resultado de práticas sociais que têm como obje- tivo conhecer e controlar os sujeitos anormais através de diferentes formas de poder. Ela é uma invenção que objetiva a normalização do indivíduo e da população (EIDELWEIN, 2012, p. 60). O Ministério da Educação aponta que a proposta de inclusão deveria ser constituída por uma “equipe interdisciplinar, que permita pensar o trabalho educativo desde os diversos campos do conhe- cimento” (BRASIL, 2005, p. 9). Nesse emaranhado de discursos produzidos nos diversos campos específicos que tratam a inclusão, o professor está rodeado por diagnósticos clínicos, psicológicos e pedagógicos. São diagnósticos que legitimam verdades sobre sujeitos mediante descrições dos comportamentos e das dificul- dades de aprendizagem que esses sujeitos possuem no olhar de cada profissional, restringindo e precarizando o papel da escola, que necessita encaminhar os sujeitos para outros serviços. Isso só reforça a individualização do problema e, portanto, pode provocar um processo de exclusão. Alguns discursos sobre inclusão são naturalizados no contexto escolar, estando permeados pelos jogos discursivos de inclusão, que funcionam na perspectiva da in/exclusão escolar. Refere-se particularmente aos relacionados com as metodologias que propõem a individualização do ensino por meio de planos específicos de aprendizagem para o aluno de inclusão, concepção que tem como justificativa a diferença entre os alunos e o respeito à diversidade. Essa prática pode ser entendida como um processo de exclusão, uma vez que a construção desse currículo paralelo coloca o aluno de inclusão à margem do grupo em questão.
- 117. 116 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O Outro discurso naturalizado é o da inclusão escolar com enfoque na integração social, um contexto de estar junto em um mesmo espaço. Fazer parte de um grupo implica compartilhar interesses e aprendiza- gens, portanto, separar os objetivos de natureza acadêmica e os obje- tivos sociais pode ser mais uma estratégia perversa de exclusão, visto que não garante condições de aprendizagem aos sujeitos de inclusão, satisfazendo-se apenas com a socialização. A inclusão que reduz o processo de integração ao simples estar junto em um mesmo espaço físico ou que reduz o estar junto à socializa- ção, é muito mais perversa que o seu outro a exclusão, é uma inclusão excludente. Não quero dizer com isso que a escola não deva propor- cionar espaços de socialização, mas ela não pode ser reduzida ao papel de socializadora esquecendo-se da exigência do conhecimento e de outras funções que lhe cabe. (LOPES, 2008, p.2). Pensando na dificuldade de abranger tudo, de ensinar tudo a todos e nos contextos educacionais e estruturais das escolas, resta ao professor tentar mudar o olhar sobre a diferença e flexibilizar o currí- culo para assim efetivamente garantir ao aluno o processo de inclusão. Nesse contexto, o flexibilizar está direcionado ao currículo, pois neste se pode considerar a formação do grupo de alunos e nele contemplar a diversidade que o compõe. Porém Traversini, Balem e Costa (2007) alertam para que a flexibilidade do currículo e o significado da palavra aprendizagem não sejam mal interpretados, visto que há uma “banalização” do termo aprendizagem, ou seja, qual- quer atividade proposta pelo professor atinge o objetivo espe- rado: aprender algo, mesmo que seja, aprender a não “bagunçar” ocupando o tempo da aula com qualquer coisa. Ou então, situar como aprendizagem qualquer ação do aluno em relação a atividade proposta, tendo em vista uma das crenças difundidas pelo discurso construtivista que a aprendizagem ocorre a partir da iniciativa e da ação do aluno (2007, p. 8). A inclusão pode ser entendida como uma estratégia de gover- namento, uma vez que incluir possibilita aproximar o sujeito da escola. Utilizando-se de mecanismos reguladores, a inclusão, ao aproximar o sujeito, controla-o, governa-o e aproxima-o ao máximo da norma.
- 118. 117 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O Quando me refiro à estratégia, entendo-a na ordem do planeja- mento, da trajetória a ser tomada; e “por táticas entendo as ações/ praticas micropolíticas que conduzem as condutas dos sujeitos, encaminhando para formas específicas de governamento das subjetividades” (SILVA, 2008, p. 71, apud, PINHEIRO, 2014, p. 33) Esta estratégia de governamento está atrelada à sociedade neoliberal em que os sujeitos não precisam ser iguais aos outros e são respeitadas suas limitações, mas dos quais se espera flexi- bilidade na formação, para realizar as adequações necessárias às demandas do mercado. Percebe-se que os discursos de inclusão atendem a uma privatização da educação, ao sujeito da diferença cabe uma adequação à lógica neoliberal em que, como diz na fachada de uma biblioteca nos Estados Unidos, “Knowledge is power” [Conhecimento é poder]. Discursos de inclusão e exclusão são postos pelo jogo econô- mico de um Estado neoliberal no qual, segundo Lopes (2009), é possível apontar três regras: “manter-se sempre em atividade” (p. 109), “todos devem estar incluídos” (p. 110) e “desejar permanecer no jogo” (p. 111). Nessa lógica, um dos imperativos é: “o currí- culo torna-se flexível para adaptar os sujeitos às novas exigências” (KLEIN, 2009, p. 157). Exigências que enfatizam as “capacidades que estão ligadas à autocorreção e à autoavaliação” (p. 156) de um sistema que preconiza o consumo desenfreado e “a seleção dos melhores, homogeneizando e, ao mesmo tempo, individualizando os sujeitos ao celebrar as diferenças.” (p. 157) Cabe ressaltar que o impulsionador das problematizações inferidas neste estudo foram as reflexões sobre inclusão e verdades naturalizadas sobre a Matemática, tais como, a mãe de todas as ciên- cias, a disciplina que está presente em tudo o que vemos, ou ainda (...) “para aprender matemática o aluno deve ter raciocínio lógico” (GUIMARÃES, 2009), “aprender matemática é difícil” (SILVA, 2008), “a modelagem matemática utiliza o interesse do aluno para ensinar matemática” (QUARTIERI, 2012), “a importância de trabalhar com a
- 119. 118 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O “realidade” para ensinar matemática” (DUARTE, 2009) e “a impor- tância do uso do material concreto nas aulas de matemática” (KNIJNIK; WANDERER, 2007). (PINHEIRO, 2014, p.15). Esses discursos reforçam a posição hegemônica da Matemática; tenciona-se uma discussão frente à Matemática escolar e à possibilidade de esta assumir um papel de destaque na in/exclusão escolar dos sujeitos (usuários) do GerAção/POA, parti- cularmente nas Oficinas de Geração de Renda. Essa Matemática considerada universal, inquestionável, neutra e isenta de valores, cujos conteúdos são vistos como inde- pendentes, assumindo o status de os únicos corretos, sem rela- ções com o contexto social, cultural e político, “ocupa o lugar das disciplinas que mais reprova o aluno na escola” (SILVEIRA, 2000, p. 1). Nesse sentido, a Matemática já é excludente, pois, se assu- mirmos esses discursos como verdades imutáveis, admitiremos o discurso de que a Matemática é para poucos ou de que quem sabe Matemática é inteligente. Com esse olhar, naturaliza-se o lugar de destaque que a mate- mática ocupa e não só porque tem base na razão, mas também por ser [...] tida como indispensável para o desenvolvimento da sociedade com uma racionalidade ocidental. O sujeito deve primar pela ordem, pela racionalidade, pela resolução de problemas utilizando-se de métodos, os quais devem ser criados a partir das “partes de um todo”, ou seja, ter uma racionalidade, e o sujeito deve ser o da razão. (PINHEIRO, 2014, p. 76) Com esse olhar, procurou-se, nos discursos produzidos pelos funcionários do GerAção/POA, se as matemáticas necessárias para os usuários serem protagonistas da própria vida, poderiam propor- cionar ferramentas para que os usuários possam analisar o mundo de maneira a não serem refém de discursos massificadores e, que esses sujeitos “não se apaixonem pelo poder” (FOUCAULT, 1991, p.2). Isso porque se reconhece a possibilidade de uma Matemática
- 120. 119 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O cujo currículo possa ser flexibilizado a ponto de reconhecer no sujeito a necessidade/demanda, tomando o cuidado para que não haja a valorização de apenas um tipo de conhecimento. O projeto GerAção/POA constitui-se como um espaço de aprendizagem, integração e inclusão psicossocial por meio de oficinas de trabalho e geração de renda; toma-se esse lugar como o cenário de uma problematização frente aos conteúdos conside- rados oficiais e os conteúdos considerados relevantes aos usuários nas práticas de inclusão nesse ambiente. Considerações Finais Observando a descrição das oficinas, pontua-se que os conteúdos matemáticos recorrentes são oriundos da geometria e da matemática financeira. A geometria é utilizada no cálculo de áreas para determinar o aproveitamento máximo do material, o que também pode ser considerado um trabalho de educação financeira. Já a matemática financeira é observada no processo de compra, na determinação dos produtos a serem produzidos, no aproveitamento de materiais, no cálculo do valor final de um produto, no controle do caixa, na divisão de renda e na destinação de recursos para o caixa reserva para a compra de materiais. Esses elementos são importantes, uma vez que trabalham a autogestão dos recursos financeiros. A autogestão exige conscien- tização, disciplina, planejamento e informação; o usuário precisa ter consciência dos gastos e entradas no orçamento. Os usuários utilizam o conceito de razão no cálculo de sua renda mensal. Buscando no currículo escolar, observa-se que o ensino desse conceito é realizado a partir de problemas de cálculo
- 121. 120 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O de quantidade de alunos de uma escola, quantidade de gols de um campeonato, comprimentos de lados de figuras geométricas, etc., o que vai de encontro ao interesse do sujeito que necessita um conhecimento matemático significativo. Muito provavelmente, os usuários não sabem definir o conceito de razão, mas conseguem aplicar esse conhecimento na prática. No currículo da maioria das escolas, consta o conteúdo de razão no 7º ano do Ensino Fundamental. Porém, o que deveria balizar o ensino de sujeitos da diferença em uma escola é que o aluno deve saber (conteúdo), deve ter competência (saber fazer, aplicar) e deve conviver (ter valores). Essa ideia de saber aplicar e no que aplicar é mencionada por uma das entrevistadas. In/exclusão escolar é um tema que há algum tempo já vem sendo discutido no meio acadêmico. Alguns discursos já estão natu- ralizados na escola e têm gerado mudanças nas formas de ensinar, porém, como se observa nas falas dos sujeitos da pesquisa, que trabalham diretamente com sujeitos da diferença, muitas questões ainda precisam ser pensadas, por exemplo: o currículo escolar ainda é tradicional e, por ser tradicional, dificulta a inclusão de alunos que não são normais por não estarem na norma imposta por práticas/ discursos que governam. Uma das entrevistadas relaciona a Matemática com o afasta- mento dos alunos do ambiente escolar. A profissional já adiantava um dos questionamentos da pesquisa, que tinha a finalidade de verificar como a Matemática é reconhecida pelos profissionais do GerAção/POA no processo de in/exclusão e a possibilidade de ela ocupar uma posição de evasão desses sujeitos da diferença. Excerto 1 Algumas vezes, acredito que sim, conforme a metodologia que é usada, quando fica distante da realidade e/ou dificulta o entendimento mais prático.
- 122. 121 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O Excerto 2 Apesar de ser uma disciplina em que várias pessoas apre- sentam dificuldades, pela abstração do conteúdo, avaliamos que esta questão possa ter relação com a forma pedagógica com que este é abordado. Excerto 3 Uma das questões que nos suscitam esta pesquisa é perceber que nem sempre a matemática ensinada em âmbito escolar deixa visível a sua aplicabilidade na vida cotidiana. Segundo as entrevistadas, a Matemática pode dificultar o processo de inclusão no ambiente escolar. Analisando os excertos apresentados, pode-se observar que é recorrente a problemati- zação das metodologias adotadas no ensino da Matemática e o distanciamento entre esta e a realidade de um sujeito da inclusão. Atualmente, em nossa sociedade, discursos que legitimam o que deve ser aprendido na escola estão direcionados a ferramentas que ajudem a resolver problemas rapidamente e de maneira eficaz. Conteúdos que parecem ter pouca aplicação passam a ser consi- derados desnecessários de serem aprendidos frente aos conheci- mentos produzidos e aplicados ao nosso dia a dia. Buscar, cada vez mais, minimizar a distância entre a realidade e o conhecimento matemático parece uma maneira de tornar a Matemática mais atra- ente, o que pode ajudar a minimizar o problema da exclusão pelo não-aprendizado de Matemática na escola. É necessário problematizar sobre qual(is) Matemática(s) poderiam ser ensinada(s) na escola para sujeitos de inclusão, de forma que proporcione inúmeras alternativas que não somente possibilitem aos alunos a abstração de conceitos, mas que os levem a desenvolver o pensamento com criticidade e, ao mesmo
- 123. 122 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O tempo, com criatividade. Assim, entende-se que as matemáticas do cotidiano talvez não estejam sendo contempladas no livro didático ou apostila, mas na vivência diária e na necessidade. Cabe ao professor, portanto, a realização de investigações em suas aulas, a fim de promover um espaço propício para que a curiosidade seja incentivada nos alunos e que ela o leve à descoberta. A vivência de uma Matemática prática e aplicável gera possi- bilidade de aprendizado para os usuários do GerAção/POA, mesmo que de forma incipiente. Essa possibilidade de vivência com a Matemática num espaço escolar poderia ser proporcionada se o currículo pudesse ser flexível a mudanças, tornando a Matemática mais próxima do sujeito e com menos probabilidade de ser mais um fator de exclusão. Para que a Matemática possa tornar-se prática e aplicável, o professor deve estar disposto a reconhecer as necessidades do aluno. Com o intuito de perfilar algumas necessidades dos usuá- rios do projeto, os membros da equipe de profissionais foram inda- gados sobre como os usuários gerenciam as suas finanças e se estes sentem a necessidade de aprender uma Matemática mais voltada para as suas demandas. Refletindo sobre o processo de inclusão e considerando o atual contexto da sociedade neoliberal, é mais interessante o aluno ter um currículo que realiza a abordagem de uma matemática finan- ceira, de forma a capacitá-lo para viver no universo da economia. Assim como ocorre o processo de reabilitação social no GerAção/ POA que visa a incluir novamente os usuários na sociedade, oferecendo oficinas que proporcionam o contexto do trabalho e a gerência de finanças, o currículo escolar poderia ser flexibilizado a tal ponto que permitisse trabalhar a matemática financeira e a educação financeira, utilizando-se de ferramentas pedagógicas de forma a proporcionar momentos de aprendizagem.
- 124. 123 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O Observa-se nos discursos que a equipe reconhece a neces- sidade de ensinar uma Matemática mais voltada às necessidades dos sujeitos da diferença e entende que um conhecimento dessa Matemática poderia mudar a forma como os usuários gerenciam o seu dinheiro, tornando-os mais autônomos. Uma vez que reconheceram a importância de ensinar a Matemática aos usuários, as entrevistadas foram indagadas sobre a existência de um profissional preparado para auxiliar os usuários nas suas finanças e sobre a necessidade de um profissional da área nas oficinas. Uma das entrevistadas diz que não há equipe específica para coordenar as finanças, pois não há regras para essa gerência, ou seja, em grupo é que se define a gestão do dinheiro. Contudo, apesar de não existir uma equipe especializada que atue no projeto, utilizam-se parceiros que desenvolvem atividades para a aprendi- zagem do conceito e aplicação nas oficinas. Mesmo assim, quando as entrevistadas são indagadas sobre a necessidade de aprender Matemática, reconhecem a importância de desenvolverem espaços de aprendizagem de Matemática, pois assim os usuários pode- riam possuir mais uma ferramenta para sua autogestão, podendo executar o aprendizado também na sua vida pessoal. Não imaginem que seja preciso ser triste para ser militante, mesmo se o que se combate é abominável. É a ligação do desejo com a realidade (e não sua fuga nas formas da representação) que possui uma força revolucionária. (FOUCAULT, 1991, p.2) Ressalto a necessidade de um currículo flexibilizado que contemple a realidade social e financeira, a fim de preparar o usuário para a sociedade. Um currículo que pense em ações práticas que possibilitem ensinar o usuário a: consumir e a poupar de modo consciente e responsável, tomar decisões autônomas baseadas em mudança de atitude, compreender a linguagem do mundo
- 125. 124 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O financeiro, planejar em curto, médio e longo prazo, proporcionar possibilidades de mudança da condição atual. Tudo isso a partir de conhecimentos e competências de um ensino prático pautado na educação financeira. Criando algumas relações entre inclusão, saúde mental e matemática escolar, pode-se apresentar uma das muitas “verdades” que poderiam ser legitimadas, a de que a matemática ensinada na escola do jeito que é, única, universalizante, racional, homogeneiza- dora, para alunos de inclusão é mais um obstáculo para eles serem incluídos. O ensino da matemática focando a geometria e a parte financeira e respeitando as peculiaridades que os sujeitos desse projeto possuírem poderia ser olhada como mais uma estratégia para que os usuários possam construir sua trajetória de inclusão pelo projeto GerAção/POA. Para finalizar, a partir das análises do material empírico, e em meio a complexidade de relações que formam a rede discur- siva que constitui o GerAção/POA, infere-se que um dos elementos necessários para que os usuários sejam “protagonistas da própria vida” é o ensino de uma matemática diferente da Matemática Escolar, mais especificamente, uma matemática que se reinventa utilizando conhecimentos das áreas de Geometria e de Matemática Financeira. A matemática que é ensinada emerge de uma vontade/ necessidade de verdade não como maquinaria de exclusão, mas como ferramenta de pensar o impensável, de problematizar e não meramente buscar soluções, estabelecer ligação com uma prática e engajamento com a atualidade. Referências BAUMAN, Zygmunt. O mal-estar da Pós-Modernidade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998.
- 126. 125 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O BRASIL, Ministério da Educação. Documento subsidiário à política de inclusão. Brasília, 2005. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/seesp/ arquivos/pdf/livro%20educacao%20inclusiva.pdf >. Acesso em: 27 jul. 2018. CASTRO, Edgardo. Vocabulário de Foucault: um percurso pelos seus temas, conceitos e autores. Belo Horizonte: Autêntica, 2009. COUTINHO, Karyne Dias. Psicopedagogia e a produção dos escolares contemporâneos. In: SARAIVA, Karla; SANTOS, Iolanda Montano dos (Orgs.). Educação Contemporânea & artes de governar. Canoas: Editora da ULBRA, 2010. DUARTE, Claudia Glavam. A “realidade” nas tramas discursivas da educação matemática escolar. 2009. Tese (Doutorado em Educação) – Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade do Vale do Rio dos Sinos, São Leopoldo, 2009. EIDELWEIN, Monica Pagel. O jogo discursivo da inclusão: práticas avaliativas de in/exclusão na Matemática Escolar. Tese de Doutorado, PPGEDU/UFRGS, 2012. FOUCAULT, Michel. Anti-Édipo: introdução à vida não-facista. In: DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. Anti-Édipo. Rio de Janeiro: Hólon Editorial, 1991. Disponível em: <https://pimentalab.milharal.org/files/2012/05/foucault_ anti_ edipo.pdf>. Acesso em: 01 jul. 2018. GUIMARÃES, Joelma. Matemática escolar, raciocínio lógico e a constituição do bom aluno em matemática. 2009. Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade do Vale do Rio dos Sinos, São Leopoldo, 2009. KLEIN, Rejane Ramos. Reprovação escolar: prática que governa. In: LOPES, Maura Corcini; HATTGE, Morgana Domênica (Orgs.). Inclusão escolar: Conjunto de práticas que governam. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2009. KNIJNIK, Gelsa; WANDERER, Fernanda; DUARTE, Claudia Glavam. Das invenções pedagógicas: a importância do uso de materiais concretos na educação matemática. 2008. (Texto digitado). LOPES, Maura Corcini. Inclusão como prática política de governamentalidade. In: LOPES, Maura Corcini; HATTGE, Morgana Domênica (Orgs.). Inclusão escolar: Conjunto de práticas que governam. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2009. LOPES, Maura Corcini. Inclusão: A invenção dos alunos na Escola. In: RECHIO, Cinara Franco; FORTES, Vanessa Gadelha. A educação e a inclusão na contemporaneidade. Boa vista: Editora da UFRR, 2008.
- 127. 126 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O PINHEIRO, Josaine de Moura. Estudantes forjados nas arcadas do Colégio Militar de Porto Alegre (CMPA): “novos talentos” da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP). 2014. 228 f. Tese (Doutorado em Educação) – Programa de Pós-Graduação em Educação - UNISINOS. Universidade do Vale do Rio dos Sinos, São Leopoldo-RS. QUARTIERI, Marli. Jogos de linguagem e educação matemática em Curso de Tecnologia em Gestão. 2012. Tese (Doutorado em Educação) - Universidade do Vale do Rio dos Sinos, São Leopoldo, 2012. ROPOLI, Edilene Aparecida, [et.al.]. A Educação Especial na Perspectiva da Inclusão Escolar: a escola comum inclusiva. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Especial; [Fortaleza]: Universidade Federal do Ceará, 2010. v. 1. (Coleção A Educação Especial na Perspectiva da Inclusão Escolar). SILVA, Roberto Rafael Dias da. Universitários S/A: estudantes universitários nas tramas de vestibular/ZH. São Leopoldo: UNISINOS, 2008. Dissertação, Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade do Vale do Rio dos Sinos, São Leopoldo, 2008. SILVEIRA, Marisa Rosâni Abreu da. “Matemática é difícil”: um sentido pré-construído evidenciado na fala dos alunos. Disponível em: <www.25reuniao.anped.org.br/marisarosaniabreusilveirat19.rtf>. Acesso em: 24 jul. 18. TRAVERSINI, C. S.; BALEM, N.; COSTA, Z. Que discursos pedagógicos escolares são validados por professores ao tratar de metodologias de ensino? In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO UNISINOS: PEDAGOGIAS (ENTRE) LUGARES E SABERES, 5., São Leopoldo, 2007. Anais. São Leopoldo: Casa Leria, 2007.
- 128. PARTE II EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS ParteII EDUCAÇÃOEMCIÊNCIAS
- 129. CAPÍTULO 6 COLETIVOS, BANDOS, MATILHAS: DEVIRES DE UMA PESQUISA SOBRE UM CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO DO CAMPO. Veronica de Lima Mittmann Claudia Glavam Duarte 6 Coletivos,bandos,matilhas: deviresdeumapesquisa sobreumcursodeLicenciatura emEducaçãodoCampo VeronicadeLimaMittmann ClaudiaGlavamDuarte DOI: 10.31560/pimentacultural/2019.515.128-147
- 130. 129 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O Uivar introduções... A suprema disciplina, que me impus, consistiu exatamente em negar-me a mim mesmo toda obstinação. Eu, macaco livre, aceitei esse jugo; mas, por isso mesmo, as recordações foram-se apagando em mim cada vez mais. Se bem que, se os homens o tivessem querido, eu teria podido retornar livremente, no começo, pela porta total que o céu forma sobre a terra, esta foi estreitan- do-se cada vez mais, à medida que minha evolução se ativava a poder de chicotadas: mais recluso, e melhor me sentia no mundo dos homens: a tempestade, que vinha do meu passado, soprava atrás de mim, foi-se acalmando: hoje, é apenas uma corrente de ar que me refresca os calcanhares. (KAFKA, 1977, p. 144). Iniciamos o artigo com a epígrafe por entendermos que faz referência ao nosso processo de humanização, que teria se dado pelo esquecimento de nossa “animalidade”, ou ainda, de uma humanização que se deu pela obediência às normas que, inven- tadas, esqueceram-se de que os são. Assim, este texto propõe-se a pensar em devires, ou seja, aquilo que ainda não somos, mas que temos potência para sermos. É neste exercício de sermos o que ainda não somos que escrevemos estas linhas. Acreditamos que escrever possibilita encontros com o desconhecido e destes encontros surgem devires que oportunizam ser diferente, pois, “se o escritor é um feiticeiro é porque escrever é um devir, escrever é atra- vessado por estranhos devires que não são devires escritor, mas devires-rato, devires-inseto, devires-lobo”. (DELEUZE; GUATTARI, 2012, p. 20). E por falar em encontros, ressaltamos que somos inte- grantes do Geemco (Grupo de Estudos em Educação Matemática e Contemporaneidade), ou seja, um bando constituído por diferentes membros, que tem o intuito de colocar como centro de nosso pensar a educação na contemporaneidade, especificamente a educação matemática, mas que não deixa, também, de abrigar investigações em diferentes áreas da educação, como por exemplo as Ciências
- 131. 130 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O da Natureza. Assim, também é crédito do grupo os pensamentos que circulam neste ensaio, pois são desfechos de problematiza- ções produzidas nos encontros, afinal “como cada um de nós era vários, já era muita gente” (DELEUZE; GUATTARI, 1995, p.17). Consideramos que escrever viabiliza transformar-se pelas linhas que se cria, ou como diria Mia Couto “dentro de mim, vão nascendo palavras líquidas num idioma que desconheço e me vai inundando todo inteiro. ” (COUTO, 2009, p. 98), deixamo-nos inundar pelas multiplicidades destas páginas e pelos seus devires. Neste sentido, não acreditamos em uma “essência” animal guar- dada em nossa humanidade que pudesse ser resgatada, mas na potência do devir-animal no humano e do devir-humano no animal, sem que o homem se transforme em animal e o animal em humano. Feitas as considerações iniciais, intencionamos com este ensaio1 problematizar a expressão “coletividade”, utilizada recorrentemente por autores que são referências nos cursos de Licenciatura em Educação do Campo, ao justificarem a necessidade de um currículo por área de conhecimento na perspectiva da interdisciplinaridade. Nosso objetivo foi o de pensar os agrupamentos humanos à luz da Pedagogia da Diferença e, assim, dar outros contornos aos conceitos de bando (DELEUZE; GUATTARI) e de povo (FOUCAULT), para pensarmos talvez, em povo-matilha, povo- bando, povo-enxame. Cabe ressaltar ainda que escolhemos Kafka para compor nossa escrita, pela visceralidade de suas produções, muitas vezes inconclusas e surpreendentes. Assim, fomos arrastadas 1. Para Larrosa (2003), o ensaio seria uma forma menor de escrita, ou seja, uma forma derrotada, hibrida e impura. Uma escrita que enamorar a vida, que é trama de sensações, que é orgânica e se desfaz ao tempo, ou seja, não tem pretensão de eternidade. O ensaio borra a fronteira entre filosofia e literatura; entre ciência, conhecimento, racionalidade e arte, imaginação e irracionali- dade. Assim, o ensaísta seria aquele que sente as palavras, que se surpreende com as leituras e que escreve com as vísceras, com o corpo, com medos e alegrias, com riso e lágrima. Além disso, o ensaísta ensaia a leitura cada vez que lê e ensaia a escrita quando escreve, isto é, se inventa pelos textos que produz e se compõe com os textos que lê.
- 132. 131 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O para os porões de nossa humanidade, para sentir a animalidade que espreita, que rosna, que salta, que arranha, que morde, e que nos atravessa e nos faz mais sensíveis, talvez. Metamorfosear o olhar... Certa manhã, ao despertar de sonhos intranquilos, Gregor Samsa encontrou-se em sua cama metamorfoseado num inseto mons- truoso. Estava deitado sobre suas costas duras como couraça, e, quando levantou um pouco a cabeça, viu seu ventre abaulado, marrom, dividido em segmentos arqueados, sobre o qual a coberta, prestes a deslizar de vez, apenas se mantinha com dificuldade. Suas muitas pernas, lamentavelmente finas em comparação com o volume do resto de seu corpo, vibravam desamparadas ante seus olhos. (KAFKA, 2008, p. 13). Quebrar as lentes! Criar fissuras na forma como olhamos o mundo e, assim, deixar-se arrebatar por outros sentires ou pelas linhas de fuga que nos atravessam para, quem sabe, devir-bicho, devir-inseto, devir-monstro. Neste sentido, com a intenção de meta- morfosear o olhar, para possibilitar formas estrangeiras de enxergar o mundo e as coisas conhecidas, utilizamos algumas ferramentas foucaultianas como os conceitos de discurso, enunciado e verdade para operar com as enunciações que analisamos. Cabe destacar que discurso nesta perspectiva é compreendido não apenas como produto das subjetividades humanas, mas também como produtor de formas de vida, assim: Dado que cada um de nós nasce num mundo que já é de linguagem, num mundo em que os discursos já estão há muito tempo circu- lando, nós nos tornamos sujeitos derivados desses discursos. Para Foucault, o sujeito de um discurso não é a origem individual e autô- noma de um ato que traz à luz os enunciados desse discurso; ele não é o dono de uma intenção comunicativa, como se fosse capaz de se posicionar fora desse discurso para sobre ele falar. (VEIGA- NETO, 2014, p. 91).
- 133. 132 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O Já enunciado seria compreendido como aquilo que atra- vessa as falas e os escritos, mas que não seria nem as falas nem os escritos, ou seja, enunciado seria o que possibilita a existência de uma língua, haja visto, que “a língua só existe a título de sistema de construção para enunciados possíveis; mas, por outro lado, ela só existe a título de descrição (mais ou menos exaustiva) obtida a partir de um conjunto de enunciados reais. ” (FOUCAULT, 2008, p. 96). Com isso, um enunciado seria raro, ou seja, é menos do que os atos de fala ou de escrita. Um enunciado também seria raro, pelo fato de ser em menor número do que a combinação possível de signos existentes, ou seja: [...] poucas coisas, em suma, podem ser ditas, explicam que os enunciados não sejam, como o ar que respiramos, uma transpa- rência infinita; mas sim coisas que se transmitem e se conservam, que têm um valor, e das quais procuramos nos apropriar; que repe- timos, reproduzimos e transformamos. (FOUCAULT, 2008, p. 136). Cabe também destacar que trabalhamos na exterioridade do dito, ou seja, nosso trabalho se assemelha ao do arqueólogo que procura no terreno diferentes objetos que contribuirão para contar uma história. Com isto, quando encontra os diferentes artefatos, não se interessa em abri-los para procurar o que há dentro deles, mas procura na superfície destes vestígios, pistas que ajudarão a entender um pouco a população que ali viveu. Assim, não procu- ramos interpretar o que nos foi dito, nem pensávamos que algo estivesse sendo-nos ocultado, mas trabalhamos na superfície dos enunciados, entendendo que “não há texto embaixo, portanto nenhuma pletora. O domínio enunciativo está, inteiro, em sua própria superfície. Cada enunciado ocupa aí um lugar que só a ele pertence. ” (FOUCAULT, 2008, p. 135). Um enunciado teria, ainda, algumas características que lhes são próprias, como o grau de remanência, os fenômenos de recorrência e a forma de aditividade própria do enunciado. O grau
- 134. 133 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O de remanência de um enunciado tratar-se-ia dos suportes que um enunciado utiliza para sua conservação, ou seja, livros, bibliotecas. Com isso, “a remanência pertence, de pleno direito, ao enunciado; o esquecimento e a destruição são apenas, de certa forma, o grau zero da remanência.”. (FOUCAULT, 2008, p. 140). Já os fenômenos de recorrência seriam o “campo de elementos antecedentes em relação aos quais se situa [um enunciado], mas que tem o poder de reorganizar e de redistribuir segundo relações novas” (FOUCAULT, 2008, p. 140), ou seja, a recorrência seria os enunciados que já estão em circulação e que sustentam a emergência de outros enun- ciados. Por último, um enunciado teria ainda uma forma de aditi- vidade, que seria a maneira específica que diferentes discursos têm de “se compor, de se anular, de se excluir, de se completar, de formar grupos mais ou menos indissociáveis e dotados de proprie- dades singulares”. (FOUCAULT, 2008, p. 140). Além dos conceitos acima, que nos ajudaram a construir outros olhares para o material que emergiu, também entendemos a verdade como invenção, ou seja, “a verdade é deste mundo; ela é produzida nele graças a múltiplas coerções e nele produz efeitos regulamentados de poder”. (FOUCAULT, 2016, p. 52). Com isto, não existiria uma verdade absoluta ou uma verdade a priori, ou seja, cada sociedade e cada época elegem os procedimentos neces- sários para a obtenção da verdade, e quais conhecimentos serão considerados verdadeiros. Neste sentido, poderíamos propor que, na atualidade, os conhecimentos pertencentes ao campo científico são compreendidos como “verdades contemporâneas”. Farejar o local... Ao retroceder no tempo começo a lembrar-me de quando ainda era um membro da comunidade canina, partilhando suas preo- cupações, um cão entre cães e após um exame mais minucioso
- 135. 134 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O descubro que desde o início percebi alguma discrepância, alguns pequenos desajustamentos, causando uma ligeira sensação de mal-estar [...]. (KAFKA, 1998, p. 7). Devir-cão para farejar o lugar, sentir seus odores e seus sons. Tornar-se aquilo que ainda não se é; experimentar sensações outras e intuições selvagens. Deixar-se surpreender pelo inesperado e pela imprevisibilidade dos momentos e dos encontros. E assim, não como um cão doméstico, mas quem sabe, como uma alcateia, nos aventuramos por lugares que nos eram desconhecidos. E, como lobos nômades que não cobiçavam dominar espaços, mas criar alguns contornos transitórios, nos propomos a pesquisar o território do curso de Licenciatura em Educação do Campo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul- Campus Litoral Norte. Cabe destacar que os cursos de Licenciatura em Educação do Campo surgem a partir da publicação do Edital nº 2, de 23 de abril de 2008, da SESU/SETEC/SECADI/MEC como parte integrante do Programa de Apoio à Formação Superior em Licenciatura em Educação do Campo – PROCAMPO. Neste edital foi realizada uma chamada pública para as Universidades Federais interessadas em oferecer tal curso, sendo o critério de seleção a avaliação dos PPCs (Projeto Pedagógico de Curso) apresentados pelas instituições proponentes. Estes deveriam contemplar duas especificidades: a Pedagogia da Alternância e a organização curricular por áreas de conhecimento. Além disso, era especificada a necessidade de conhecer a realidade da comunidade que seria contemplada com o curso. Neste edital foram selecionadas 04 Universidades. Posterior a este, foram publicados o Edital nº 9, de 20 de abril de 2009 e o Edital nº 2, de 05/09/2012 que contemplou 45 Universidades. Assim, a Pedagogia da Alternância, a organização dos conte- údos por área de conhecimento e a interdisciplinaridade são espe- cificidades deste curso. Isto posto, procuramos entender porque a
- 136. 135 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O interdisciplinaridade1 foi escolhida como perspectiva que estrutu- raria o currículo dos cursos de Licenciatura em Educação do Campo no Brasil e nos deparamos com a recorrência da expressão “coleti- vidade” nas enunciações dos autores do referido curso (FERREIRA (2014); MOLINA (2014); LOPES (2014); BIZERRIL (2014); LOPES (2014). Deste modo, pareceu-nos que, para estes autores, a cole- tividade seria estruturante para a Educação do Campo e se cons- tituiria em uma das condições de possibilidade para a construção de um currículo interdisciplinar, por área do conhecimento. Isto pode ser observado no trecho abaixo, quando Ferreira e Molina (2014) afirmam que o trabalho coletivo seria tão importante para a Educação do Campo que deveria acontecer já na construção dos projetos pedagógicos. [...] o trabalho coletivo, conjunto, em parceria e comunhão entre docentes e entre docentes e educandos representa um espaço singular e profícuo para a materialidade do projeto político pedagó- gico escolar. (FERREIRA; MOLINA, 2014, p. 146). Além disso, a formação por área de conhecimento possibilitaria também, repensar os Planos de Estudos e, deste modo, assegurar uma construção conjunta do currículo, que contemplasse o diálogo entre as diferentes áreas do conhecimento pelo “trabalho coletivo de educadores”, conforme é possível perceber no trecho abaixo: A formação por área de conhecimento objetiva contribuir com a trans- formação dos Planos de Estudos dos cursos, possibilitando novas estratégias de seleção de conteúdos, aproximando-os tanto quanto possível da realidade, bem como objetiva fomentar e promover o trabalho coletivo dos educadores […] (MOLINA, 2014, p. 17). Desta forma, percebemos que a construção coletiva de um Projeto Pedagógico e de um Plano de Estudos, seriam, para 1. A discussão sobre interdisciplinaridade pode ser consultada na dissertação de mestrado intitu- lada “Tudo é rede, conexão e simultaneidade! Problematizações foucaultianas sobre a interdisci- plinaridade: um campo interdisciplinar de enunciabilidades disciplinares. Disponível em: https:// lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/172124/001057096.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- 137. 136 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O os autores (FERREIRA (2014); MOLINA (2014); LOPES (2014); BIZERRIL (2014); LOPES (2014), a possibilidade de “pensar cole- tivamente” desde a construção do curso. Neste sentido, o trabalho coletivo, para estes autores, seria possibilitado tanto pelo diálogo entre os professores das diferentes áreas do conhecimento, na busca por metodologias que possibilitassem uma visão mais ampla da realidade, quanto por aproximações entre diferentes disciplinas, com a intenção de romper com as fronteiras do conhecimento, o que estabeleceria relações menos hegemônicas entre os diferentes componentes curriculares. Neste sentido, não se desprezaria a indi- vidualidade dos diferentes atores educacionais e nem as peculiari- dades das diferentes áreas do conhecimento, pois acreditar-se-ia que um trabalho conjunto poderia se beneficiar dos diferentes “olhares”, a fim de possibilitar a compreensão dos diferentes mean- dros da realidade, como é possível perceber nos trechos abaixo: Um dos maiores desafios diz respeito à tensão enfrentada pelo cole- tivo de educadores que atuam nestas Licenciaturas para selecionar os conteúdos que devem ser ensinados, considerando-se não somente a perspectiva dos desafios inerentes à proposta formativa organizada a partir da interdisciplinaridade, […]. (MOLINA, 2014, p. 18) [...]a ser realizado no coletivo dos docentes, discentes e instituição como totalidade para que se estabeleça uma construção coletiva das finalidades, conhecimento/conteúdo tratados nos processos forma- tivos dos Educadores do Campo. (FERREIRA; MOLINA, 2014, p. 139). […] o diálogo realizado entre as diferentes áreas do conhecimento caracteriza-se pela interdisciplinaridade que buscou superar a fragmentação do conhecimento acadêmico, as ações isoladas na formação dos estudantes, assim como na construção coletiva do currículo[...] (VASCONCELOS; SCALABRIN, 2014, p. 159). […] os educadores, em planejamento coletivo, selecionam quais conhecimentos/conteúdos de sua área serão necessários para a compreensão do(s) tema(s) em estudo. (VASCONCELOS; SCALABRIN, 2014, p. 167). [...] buscamos motivar os docentes que participaram do processo de formação realizado pelo Seminário das Áreas a registrar os passos que têm sido dados para enfrentar estes desafios, buscando, cole- tivamente, caminhos para sua superação. (MOLINA, 2014, p. 18).
- 138. 137 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O […] os trabalhos se orientam pela formação continuada e o planeja- mento coletivo, possibilitando implementar o currículo interdisciplinar via tema gerador, [...] (VASCONCELOS, SCALABRIN, 2014, p. 176). […] considerar a interdisciplinaridade por meio de comunicação e planejamento coletivo por profissionais ligados às ciências da natu- reza[…]. (MORENO, 2014, p. 194). […] o trabalho coletivo e integrado de educadores dedicados propi- ciaram concretamente caminhos para o trabalho interdisciplinar. (LOPES; BIZERRIL, 2014, p. 226). Também é importante salientar que a busca por relações menos hegemônicas não se daria apenas na escolha das disci- plinas e entre os professores dos diferentes componentes curricu- lares, mas entre todos os envolvidos na construção do curso, que não seriam apenas os professores e a equipe pedagógica, mas também a comunidade. Assim, o “trabalho coletivo” deveria primar pela participação de todos, de maneira que se acredita igualitária, em prol do que se percebe como um bem comum. Com isto, os autores entendem que “o coletivo” possibilitaria a construção de relações mais justas e mais “humanas”. E o reflexo deste “pensar” coletivo ocorreria na sala de aula, onde os alunos teriam “voz ativa” em seu processo de aprendizagem, e assim, se estabeleceriam relações menos hierarquizadas entre professores e alunos. […] na Educação do Campo é o trabalho coletivo e integrado que rege muitas das relações em sala de aula. (LOPES; BIZERRIL, 2014, p. 206). Os autores ainda acreditam que um currículo interdisciplinar, por área de conhecimento, favoreceria a formação de sujeitos cons- cientes e críticos, pois conhecendo a realidade em sua “totalidade”, poderiam perceber como se engendram os processos sociais, e assim, estariam aptos a lutar “coletivamente” por mudanças, na busca por uma sociedade mais justa. Neste sentido, o “pensar cole- tivo” poderia ser potencializado por um currículo interdisciplinar e este ser ferramenta de luta por melhores condições de vida para os sujeitos do campo.
- 139. 138 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O Por isso [a interdisciplinaridade] ela é tão essencial aos processos que visam à leitura da realidade e sua transformação, pois o espe- cialista, com a sua visão restrita, muitas vezes não carrega consigo a disponibilidade de abrir-se para novas possibilidades que surgem a partir de pensar coletivo e integrado. (LOPES; BIZERRIL, 2014, p. 207). […] o currículo é uma prática social exercida pelos sujeitos em um coletivo de trabalho e de estudo, ou como nos antecipa Freire (2004), prática social exercida pelos sujeitos em comunhão mediatizados pelo mundo. (FERREIRA; MOLINA, 2014, p. 139). Conforme o exposto acima, percebemos que o “coletivo” é recorrente nas enunciações e não se limitaria a um “trabalho cole- tivo”, mas também se almejaria um “pensar coletivo” viabilizado por um “planejamento coletivo”. À vista disso, nos propomos a proble- matizar a recorrência do enunciado que trata da importância da cole- tividade para os sujeitos do campo, nas enunciações dos autores da Licenciatura em Educação do Campo, e para tal problemati- zação, nos aventuramos nos conceitos de: povo (FOUCAULT, 2008) e de manada, bando, enxame, cardume (DELEUZE; GUATTARI, 2000) para pensar em devires-animais no curso de Licenciatura em Educação do Campo. Mordiscar sentidos... - Ah! - Disse o camundongo-, o mundo se torna mais estreito a cada dia. Primeiro ele era tão vasto que eu tinha medo, andava um pouco e me alegrava por finalmente ver à distância paredes à direita e à esquerda, mas essas longas paredes correm tão rapidamente uma em direção à outra que já estou no último aposento, e ali no canto está a armadilha para a qual me dirijo. (KAFKA, 2010, p.92). Afastar um pouco as paredes para tornar o mundo um pouco mais vasto e expandir os sentires. Neste sentido, entendemos que o devir-animal seria a possibilidade de sentir de outros modos, pela ação de deixar-se povoar por outros paladares, por outros tatos e odores, para experimentar sensações outras, e se surpreender
- 140. 139 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O com a vida. O devir seria o exercício que possibilita ouvir de outros modos e falar outras línguas, que ainda não foram nem mesmo criadas; ou ainda “gaguejar a própria língua, fazendo funcionar novas possibilidades. ” (GALLO; FIGUEIREDO, 2015, p. 36). Com isto, o devir seria movimentos de desterritorialização, que viabilizam atingir intensidades puras, onde aquilo que nos acontece ainda não pode ser significado; o que possibilita, talvez, uma invenção de si mesmo, por experiências outras de existir. Os devires-animais não são sonhos nem fantasmas. Eles são perfei- tamente reais. Mas de que realidade se trata? Pois se o devir animal não consiste em se fazer de animal ou imitá-lo, é evidente também que o homem não devém “realmente” animal, como tampouco o animal devém “realmente” outra coisa. O devir não produz outra coisa senão ele próprio. É uma falsa alternativa que nos faz dizer: ou imitamos, ou somos. O que é real é o próprio devir, o bloco devir, e não os termos supostamente fixos pelos quais passaria aquele que devém. O devir pode e deve ser qualificado como devir-animal sem ter um termo que seria o animal devindo. O devir-animal do homem é real, sem que seja real o animal que ele devém; e simultanea- mente, o devir-outro do animal é real sem que esse outro seja real. (DELEUZE; GUATTARI, 2012, p. 19). Assim, por ser um transformar-se animal ou uma metamor- fose-animal, o devir-animal não deve ser confundido com metá- foras, ou seja, o devir-animal não se trata de um sentido figurado da linguagem, nem de uma semelhança que haveria entre o homem e o animal, ou de um comportamento do animal que se parece com o comportamento do humano. Com isto, o devir-animal seria uma metamorfose, que desterritorializa tanto o animal quanto o homem, ou seja, o devir se trata de experimentações que não foram fixadas pelos significantes, pois: O animal não fala “como” um homem, mas extrai da linguagem tonalidades sem significação; as palavras mesmas não são “como” animais, mas trepam por sua conta, latem, pululam, sendo cães propriamente linguísticos, insetos e camundongos. Fazer vibrar sequencias, abrir a palavra sobre intensidades interiores inauditas, em suma, um uso intensivo assignificante da língua. (DELEUZE; GUATTARI, 2014, p. 45).
- 141. 140 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O Nesta perspectiva, o devir seria minoritário, isto é, há devi- res-animal, devires-mulher, devires-criança, mas não haveria um devir-homem, haja vista ser o homem, branco, macho e europeu um estado de dominação, ou seja, o modelo instituído. Neste sentido, o devir seria aquilo que foge ao padrão e afirma a diferença e também a multiplicidade: matilha, bando, cardume, enxame, multidão, ou seja, uma “composição de velocidades e de afectos entre indivíduos inteiramente diferentes” (Ibidem, p. 46). Sendo o devir, multidão, o “devir lobo”, não seria devir um único lobo, mas um devir “matilha”. Assim, a multiplicidade residiria no próprio devir, pois seria este um povoamento da diferença. Neste sentido, entendemos que para os devires, seriam necessários múltiplos agenciamentos, pois: [...] um agenciamento põe em conexão certas multiplicidades tomadas em cada uma destas ordens, de tal maneira que um livro não tem sua continuação no livro seguinte, nem seu objeto no mundo nem seu sujeito em um ou em vários autores. Resumindo, parece-nos que a escrita nunca se fará suficientemente em nome de um fora. O fora não tem imagem, nem significação, nem subjeti- vidade. O livro, agenciamento com o fora contra o livro-imagem do mundo. (DELEUZE; GUATTARI, 1995, p. 33). Com isto, devires menores ou minorias não se referem a números, ou seja, não seriam minorias por haver menos membros, mas por serem aquilo que foge ao modelo ou que rompe com a norma. Assim, as minorias são o devir, a invenção, enquanto a maioria seria o instituído, isto é, o dominante. Com isto, por não ser o padrão, mas a fissura do modelo, a potência dos devires menores está na inventividade. Para pensar minorias, pensamos em devir- -animal, que não seria um “imitar animal”, mas um transformar-se, ou seja, tornar-se não um animal, ou um determinado animal, mas tornar-se também animal. Desta forma, o devir não seria o resultado, mas o movimento. Devir-animal é precisamente fazer o movimento, traçar a linha de fuga em toda a positividade, ultrapassar um limiar, atingir um conti- nuum de intensidades que só valem por si mesmas, encontrar um
- 142. 141 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O mundo de intensidades puras, em que todas as formas se desfazem, todas as significações também, significantes e significados, em proveito de uma matéria não formada, de fluxos desterritorializados, de signos assignificantes. (DELEUZE; GUATTARI, 2014, p. 27). Pensar em devires menores nos instiga a pensar em línguas e em literaturas menores. Segundo Gallo e Figueiredo (2015) haveria uma “língua maior” e uma “língua menor”. A língua maior seria a dos dominantes e por isso, entende como necessário a homogeneidade e a organização. Seria a língua maior, o modelo, que preza pela “pureza” e pela norma; enquanto a língua menor seria heterogênea, múltipla, diversa, ou seja, seria devir e multiplicidade. Segundo Deleuze e Guattari (2014) uma língua ou ainda, uma literatura menor teria como característica ser revolucionária em relação a uma língua ou a uma literatura maior, pois propõe a “desterritorialização da língua, a ligação do individual no imediato-político e o agenciamento coletivo de enunciação”. (Ibidem, p. 39). Nesta mesma lógica, por entender que existem línguas maiores e línguas menores e que, em geral, as línguas que utilizamos são as línguas dos colonizadores e por isso, línguas maiores; Deleuze e Guattari nos propõem criar línguas menores na nossa própria língua, ou ainda desterritorializar a língua-maior de nosso idioma. Pois: Quantas pessoas hoje vivem em uma língua que não é a sua? Ou então não conhecem mesmo mais a sua, ou não ainda, conhecem mal a língua maior de que são forçados a se servir? Problema dos imigrados, e sobretudo de seus filhos. Problema das minorias. Problema de uma literatura menor, mas também para nós todos: como arrancar de sua própria língua uma literatura menor, capaz de escavar a linguagem, e de fazê-la escoar seguindo uma linha revo- lucionária sóbria? Como devir o nômade e o imigrante e o cigano de sua própria língua? Kafka diz: roubar a criança no berço, dançar sobre a corda bamba. (DELEUZE; GUATTARI, 2014, p. 40-41). Para isto, “[...] aspiramos regressar a essa condição em que estivemos tão fora de um idioma que todas as línguas eram nossas[...]” (COUTO, 2011, p. 8), a fim de estranhar hábitos, que nos aprisionam numa existência “já vivida” e que impossibilita
- 143. 142 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O experimentar outros devires, ou a vida de outros modos. Acreditamos que as coisas que aprendemos nos sãos úteis, pois possibilitam percorrer caminhos já traçados, mas, por ora, acreditamos ser insti- gante, desconhecer, para ter a ousadia de, quem sabe, se surpre- ender novamente com a vida. Neste sentido, um dos contrapontos entre o conceito de “devir-animal” e o conceito de “coletividade” defendido pelos autores do curso de Licenciatura em Educação do Campo, se daria pela própria organização que propõe. Enquanto o coletivo entende como necessário a “massa”, o “devir-animal” propõe agen- ciamentos e metamorfoses. Assim, entendemos ser importante diferenciar massa de matilha. Massa remeteria à “divisibilidade e à igualdade dos membros, à concentração, à sociabilidade do conjunto, à unicidade da direção hierárquica, à organização de terri- torialização, à emissão de signos.” (DELEUZE; GUATTARI, 2000, p. 45). Com isto, “a essência das massas é a indiferença: todas as diferenças são submersas e afogadas nas massas”. (HARDT; NEGRI, 2005, p. 12). Já a matilha remeteria à diferença, à multipli- cidade de devires e agenciamentos. Neste sentido, a matilha seria composta por inúmeras diferenças que não poderiam ser contem- pladas por uma “identidade” como ocorre na massa. Assim, não haveria a intenção de se construir modelos ou homogeneidades na matilha, nem mesmo haveria relações hierárquicas entre os seus diferentes membros, mas experimentações e desterritorializações. Entre os caracteres de matilha, a exigüidade ou a restrição do número, a dispersão, as distâncias variáveis indecomponíveis, as metamor- foses qualitativas, as desigualdades como restos ou ultrapassagens, a impossibilidade de uma totalização ou de uma hierarquização fixas, a variedade browniana das direções, as linhas de desterritorialização, a projeção de partículas. (DELEUZE; GUATTARI, 2000, p. 45). Com isto, a coletividade estaria mais ligada ao conceito de massa do que ao conceito de matilha, pois pressupõe acordos cole- tivos, em prol de um bem comum, igualdade entre os membros, e
- 144. 143 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O até mesmo, a constituição de uma identidade. Outro conceito que poderia ser utilizado para pensar o coletivo, seria o de população que se contrapõe ao conceito de povo. Para Foucault (2008) haveria dife- rença entre povo e população, ou seja, povo seria aquele que ainda não foi normatizado, ou seja, é o selvagem enquanto a população seriam os sujeitos disciplinados, ou seja, que já se enquadraram às normas. Assim, população seria o sujeito coletivo, ou seja, que abdica de seus instintos e desejos, em nome do grupo. No entanto: [...] o povo aparece como sendo, de uma maneira geral, aquele que resiste a regulação da população, que tenta escapar desse dispo- sitivo pelo qual a população existe, se mantém, subsiste, e subsiste num nível ótimo. (FOUCAULT, 2008, p. 58). Assim, poderíamos pensar num bando-povo (GALLO; FIGUEIREDO, 2015), para viabilizar a invenção de outros “modos de vida”, ou talvez re-criar “pequenas” humanidades, que combi- nariam diferentes devires-menores. Deste modo, ao invés de disci- plinar para o enquadramento, poderíamos tentar perceber potências no diferente, onde não haveria a dominação de um “modelo” de humano (homem, branco, macho, europeu), mas diferentes experi- mentações da humanidade/animalidade. Não somente existem bandos humanos, como também, entre eles, alguns particularmente refinados: a “mundanidade” distin- gue-se da “socialidade” porque está mais próxima de uma matilha, e o homem social tem do mundano uma certa imagem invejosa e errônea, porque desconhece as posições e as hierarquias próprias, as relações de força, as ambições e os projetos bastante especiais. (DELEUZE; GUATTARI, 2000, p. 46). Os conceitos de povo de Foucault e de devir-animal de Deleuze e Guattari nos instigam a pensar quais seriam os devires menores da Educação do Campo e assim, poder criar fissuras na Educação-maior, ou seja, nas formas de ensinar que dominam o ensino na atualidade e que impedem a criação de outras maneiras de aprender, que sejam mais instintivas e instigantes. Neste sentido,
- 145. 144 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O a Educação do Campo, por ser compreendida como uma “educa- ção-menor”, seria espaço de inventividade e produção do diferente. Com isto, acreditamos na potencialidade da Educação do Campo como promotora de experimentações e de vivências outras. Digerir conceitos... Durante horas posso me esgueirar pelos meus corredores, sem ouvir outra coisa senão, algumas vezes, o zunido de algum bicho pequeno, que eu logo sossego entre os meus dentes, ou o escorrer da terra, que me aponta a necessidade de alguma reforma; de resto, tudo quieto. (KAFKA, 1998, p. 66). Nestas linhas, procuramos por “uma só e mesma paixão por escrever, mas não a mesma”. (DELEUZE; GUATTARI, 2014, p. 76) para experimentar na pele a crueldade da vida, que não a define nem como má, nem como perversa, mas como indomável e instin- tiva. Assim, pensar em devires-animais, aguça-nos para sensações viscerais de uma escrita feita de olfatos, de dentes e de garras. E com isto, arrancados de nossas convicções, tivemos que farejar outras percepções para experimentar a vida de outros modos. Ao ir finalizando este ensaio, entendemos que escrevemos estas linhas “só para falar de coisas miúdas, as grandezas do ínfimo” (BARROS, 2017, p. 7), do que nos é corriqueiro, do já tão acostumado que deixamos de pensar que poderiam ser diferentes. Com isto, pensar em devir-animal para a Educação do Campo pres- supõe pensar em uma educação que expanda nossos sentires, que seja criativa e que ao invés de nos dividir em grupos ou classes, seja potente para transformações. Uma educação que nos possibi- lite composições diversas, para sermos um pouco mais povo, isto é, “necessita-se ao mesmo tempo de criação e povo”. (DELEUZE, 1992, p. 218), ou seja, um ensino que não intencione homogeneizar, mas que contemple o que temos de “mundano”. E talvez, um pouco
- 146. 145 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O menos domesticados, possamos trazer elementos outros para os nossos bandos e, com isto, arranhar certezas e verdades, para quem sabe, poder produzir outros uivos na sociedade atual. Referências BAUMAN, Zygmunt. A ética é possível em um mundo de consumidores? Rio de Janeiro: Zahar, 2008. BARROS, Manoel de. O guardador de águas. Rio de Janeiro: Alfaguara, 2017. COUTO, Mia. O fio das missangas. São Paulo: Companhia das Letras, 2009. COUTO, Mia. E se Obama fosse africano? e outras interinvenções. São Paulo: Companhia das Letras, 2011. DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. Kafka: por uma literatura menor. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2014. DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. Mil Platôs: capitalismo e esquizofrenia, v.1. Rio de Janeiro: Editora 34, 1995. DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. Mil Platôs: capitalismo e esquizofrenia, v.4. Rio de Janeiro: Editora 34, 2012. DELEUZE, Gilles. Conversações. São Paulo: Editora 34, 1992. FERREIRA, Maria Jucilene Lima; MOLINA, Mônica Castagna. Desafios à formação de educadores do Campo: tecendo algumas relações entre os pensamentos de Pistrak e Paulo Freire. In: MOLINA, Mônica Castagna (Org.). Licenciaturas em Educação do Campo e o ensino de Ciências Naturais: desafios à promoção do trabalho docente interdisciplinar. Brasília: MDA, 2014. p. 127-154. FONSECA, Márcio Alves. Michel Foucault e a constituição do sujeito. São Paulo: EDUC, 1995. FOUCAULT, Michel. A arqueologia do saber. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2008. FOUCAULT, Michel. Segurança, território, população: curso dado no Collège de France (1977-1978). São Paulo: Martins Fontes, 2008b. FOUCAULT, Michel. Estratégia, poder-saber. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2006. (Ditos e Escritos IV).
- 147. 146 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O FOUCAULT, Michel. Microfísica do Poder. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2016. FOUCAULT, Michel. A verdade e as formas jurídicas. Rio de Janeiro: Nau, 1999. GALLO, S.; SILVA, Glaúcia Maria Figueiredo. Entre maioridade e menoridade: as regiões de fronteira no cotidiano escolar. Aprender - Caderno de Filosofia e Psicologia da Educação, v. 14, p. 25-51, 2015. HARDT, Michael. A sociedade mundial de controle. In: ALLIEZ, Éric. Gilles Deleuze: uma vida filosófica. São Paulo: Ed 34, 2000. P. 357-372. HARDT, Michael; NEGRI, Antonio. Multidão: Guerra e Democracia na Era do Império. Rio de janeiro: Record, 2005. KAFKA, Franz. Um Artista da fome e a Construção. São Paulo: Companhia das Letras, 1998. KAFKA, Franz. A Grande Muralha da China. São Paulo: Nova Época Editorial Ltda, S/A. KAFKA, Franz. Josefina, a Cantora. São Paulo: Clube do Livro, 1977. KAFKA, Franz. A metamorfose e o Veredito. Porto Alegre: L&PM, 2008. KAFKA, Franz. Oportunidade para um pequeno desespero. São Paulo: Martins Martins Fontes, 2010. LARROSA, Jorge. O ensaio e a escrita acadêmica. Revista Educação e Realidade, Porto Alegre, v. 28, n.2, p. 101-115, jul./dez. 2003. LOPES, Eloisa Assunção de Melo; BIZERRIL, Marcelo Ximenes A. Video e Educação do Campo: novas tecnologias favorecendo o Ensino de Ciências Interdisciplinar. In: MOLINA, Mônica Castagna (Org.). Licenciaturas em Educação do Campo e o ensino de Ciências Naturais: desafios à promoção do trabalho docente interdisciplinar. Brasília: MDA, 2014, p. 200-229. MORENO, Glaucia de Sousa. Ensino de Ciências da Natureza, Interdisciplinaridade e Educação do Campo. In: MOLINA, Mônica Castagna (Org.). Licenciaturas em Educação do Campo e o ensino de Ciências Naturais: desafios à promoção do trabalho docente interdisciplinar. Brasília: MDA, 2014. p. 181-200. MOLINA, Mônica Castagna (Org.). Licenciaturas em Educação do Campo e o ensino de Ciências Naturais: desafios à promoção do trabalho docente interdisciplinar. Brasília: MDA, 2014. 268p SARAIVA, Karla; VEIGA-NETO, Alfredo. Modernida Líquida, Capitalismo Cognitivo e Educação. Revista Educação e Realidade, Porto Alegre, v. 34, n. 2, p. 187-201, mai./ago. 2009.
- 148. 147 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O SERRES, Michel. Polegarzinha: uma nova forma de viver em harmonia, de pensar as instituições, de ser e de saber. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2013. SILVA, Penha Souza; AUAREK, Wagner Ahmad. Pensando a formação continuada de Educadores do Campo: o diálogo no ensino da Ciências da Natureza e da Matemática nas Escolas do Campo. In: MOLINA, Mônica Castagna (Org.). Licenciaturas em Educação do Campo e o ensino de Ciências Naturais: desafios à promoção do trabalho docente interdisciplinar. Brasília: MDA, 2014, p. 231-241. VASCONCELOS, Vanilda de Magalhães Martins; SCALABRIN, Rosemeri. Ensino interdisciplinar na área de Ciência da Natureza e Matemática em um contexto agroecológico. In: MOLINA, Mônica Castagna (Org.). Licenciaturas em Educação do Campo e o ensino de Ciências Naturais: desafios à promoção do trabalho docente interdisciplinar. Brasília: MDA, 2014, p. 154-179. VEIGA-NETO, Alfredo. Foucault e a educação. Belo Horizonte: Autêntica, 2014.
- 149. CAPÍTULO 7 PRÁTICAS CONSTRUTORAS DE SUBJETIVIDADE CRISTÃ EM UMA ESCOLA PÚBLICA Graciela Bernardi Horn 7 PráticasConstrutoras deSubjetividadeCristã emumaEscolaPública GracielaBernardiHorn DOI: 10.31560/pimentacultural/2019.515.148-165
- 150. 149 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O Introdução O trabalho que aqui apresento é fruto de um recorte da tese de doutorado que se encontra em andamento. Para tal, realizei observações em uma Escola do Campo (com turmas multisse- riadas), em um município do litoral norte do Rio Grande do Sul, para pensar em como é construído o sujeito escolar oriundo da educação do campo. Escola do Campo é aquela situada em área rural ou em área urbana, desde que atenda predominantemente a populações do campo (BRASIL, 2010). É uma escola pública esta- dual que atende as séries iniciais e finais do Ensino Fundamental. A partir da leitura de filósofos Pós-Estruturalistas – como Michel Foucault –, entendo que a produção da subjetividade está imbricada às relações de poder que circulam em dado tempo e local (FOUCAULT, 2003; FOUCAULT, 2008; FOUCAULT, 2013). Pensando dessa maneira, entendo que também o currículo escolar (conte- údos, metodologias, avaliações escolares) resulta do embate entre muitos discursos. Nesse embate, um conjunto discursivo emerge e ganha visibilidade, sendo justamente o que se destaca como operante e legítimo na construção de subjetividades. O currículo escolar, portanto, não é neutro, mas resultado de disputas discursivas que subjetivam sobre quais os sentidos deve-se dar às coisas do mundo. A força que movimenta o processo de ensinar são as relações de poder, que elegem quais conhecimentos são eleitos como válidos e verdadeiros a esculpirem um determinado sujeito (SILVA, 2002). Essa operação é anterior à vontade individual de construir e de ver, já que um sujeito é um objeto que aparece conforme um discurso que o faz emergir (FOUCAULT, 1986). A partir de minhas observações e registros, o que chegou aos meus olhos foi um conjunto constituído de coisas, palavras, enuncia
- 151. 150 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O ções, rituais, ações, etc. que constroi e ilumina a silhueta de deter- minado tipo de sujeito. A iluminação dada por esse conjunto de práticas torna possível, aceitável e legítimo ver e falar, na escola, determinadas coisas e não outras no que tange à educação. O problema, pois, que surgiu ao longo do processo pesquisador foi entender como múltiplos e díspares elementos encontrados na escola analisada se articulam e funcionam, através de relações flexí- veis de saber-poder, como um dispositivo construtor de certo tipo de subjetividade No presente trabalho busco pensar sobre como alguns elementos (coisas, palavras, enunciações, rituais, sujeitos, etc) esti- veram reunidos e operantes no currículo escolar de uma escola, localizada no litoral norte do Rio Grande do Sul, na construção de um determinado tipo de subjetividade do corpo escolar. Dentre vários os elementos que compõem o seu currículo, analiso apenas um conjunto, considerando que este tenha “saltado aos meus olhos” ao longo do trabalho em campo. Local do estudo O trabalho foi realizado em uma escola de pequena locali- dade com aproximadamente cerca de mil moradores. Essa locali- dade é um bairro rural de um município do Rio Grande do Sul, e foi colonizado por colonos italianos, alemães e portugueses. A colonização do litoral norte do Rio Grande do Sul provavel- mente trouxe consigo a racionalidade cristã do mundo europeu. O cristianismo chegou ao litoral sul do Brasil provavelmente com os padres jesuítas João Lobato e Jerônimo Rodrigues, em excursão missionária entre 1605 e 1607, para catequisar índios Carijó da região (RUSCHEL; DELAI, 1996; RUSCHEL, 2004). A organização
- 152. 151 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O dos primeiros núcleos de assentamentos religiosos jesuíticos buscava a proximidade de cursos d´água e elevações do terreno que permitissem a vigilância do entorno, tendo a igreja e a escola como organizadores do rudimentar núcleo urbano (OLIVEIRA, 1988). Por volta de 1820 chegaram cerca de 15 famílias de imigrantes açorianos ao município onde se localiza a escola e, após cerca de seis anos, viriam ainda imigrantes de origem alemã e italiana. Especificamente na localidade do estudo, foi em 1883 que chegaram as primeiras famílias italianas a formarem uma Colônia, na época, denominada “Júlio de Castilhos”, tendo sido construída a primeira igreja em 1893 (RUSCHEL, DELAI, 1996; RUSCHEL, 2004). A maior concentração de casas dessa pequena localidade está localizada em um vale cercado pelos morros da Serra Geral. A alta altitude e a proximidade a um curso d´água provavelmente foram decisivos para a determinação do local onde o povoado iria se estabelecer. Além disso, a construção da igreja, apenas cerca de dez anos após a chegada das primeiras famílias italianas à então Colônia, talvez tenha sido crucial à agregação daquelas pessoas naquela circunstância. As colônias eram espaços estrangeiros dentro do Brasil que, talvez, vissem no cristianismo o ponto que congregava afinidades e sentimentos de solidariedade uns com os outros. Em meio ao mundo desconhecido e inseguro de colônias recém-formadas, “instituições como igreja, a escola e a família tinham a função de manter vivos os laços de origem através da religião, da língua e da ancestralidade comum” (VALDUGA, 2008, p. 19-20). Os seus moradores desde a época em que lá chegaram até os dias de hoje, desenvolvem a economia local baseada no trabalho na terra, na agricultura, com a força braçal que suplanta a vegetação nativa para dar lugar a monoculturas (banana, maracujá, milho, cana, hortifrúti e eucalipto). As atividades agrícolas deram
- 153. 152 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O abertura também ao turismo rural, que se desenvolve em algumas moradias longe da praça central da localidade. Essa atividade tem descentralizado a atenção de alguns moradores em relação à praça com a igreja, e, por isso, não tem sido bem recebida por todos os moradores de da região, que temem que a entrada de estranhos (turistas) trazendo consigo costumes (danças e modos de vestir e falar) não bem-vindos à comunidade, uma vez que ferem os valores tradicionais prezados pela moral dominante (cristã). Modo de fazer a pesquisa A escola é uma instituição pública estadual que atende as séries iniciais e finais do Ensino Fundamental, com cerca de cem alunos. De março a setembro de 2017, passei a visitar a escola escolhida com certa regularidade: uma ou duas vezes por semana, durante toda a manhã e/ou tarde. Assim, minha presença na escola tornou-se corriqueira, de modo que pude acompanhar as aulas de todas as turmas e disciplinas. O modo de fazer a pesquisa tem cunho etnográfico, como observações, fotografias e entrevistas registradas no Diário de Campo. Em todos os momentos possíveis, fotografias e anotações foram sendo registradas a fim de que a composição delas pudesse dizer algo sobre a discursividade que controi o currículo escolar. A cada semana, observava coisas diferentes (o recreio, a sala de informática, o prédio escolar, as ruas da escola, a praça central da localidade, os alunos e professores, as aulas, etc.). A partir de reite- radas observações e registros, as fotografias e os meus registros no diário me convidaram a um olhar mais demorado sobre as coisas, forçando a pensar sobre elas.
- 154. 153 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O Um conjunto de elementos construtores A partir de minhas observações, percebi que o discurso cristão fez parte do currículo escolar, direta ou indiretamente, especialmente a partir da presença de elementos. Entendo como “elementos”, neste trabalho, um conjunto formado por coisas, pala- vras, enunciações, rituais, ações, filmes, sujeitos, etc. que falam discursivamente construindo subjetividades. Os elementos constru- tores de subjetividade cristã são práticas que falam, constroem/são contruídos por um dispositivo. Tais elementos demarcam um terri- tório discursivo cristão que, balizado pela moralidade cristã, produz/ regula condutas, pensamentos, motivações, formas de ver, falar e se relacionar com os outros e consigo mesmo. Abaixo, menciono alguns exemplos de tais elementos constitutivos desse dispositivo (ressaltados em modo cursivo itálico): “Coisas” – Foram registrados vários objetos cristãos dentro da escola, tais como crucifixos, quadros de parede com imagens de Jesus Cristo, cartazes e mensagens nas paredes com palavras ou frases de chamadas a homenagens religiosas cristãs ou frases de efeito moral. Além disso, alguns alunos das séries finais do ensino fundamental dessa escola costumam usar camisetas com imagens cristãs, que são aceitas pela escola como substitutas do uniforme escolar oficial (aquele que contém o nome da instituição). “Palavras e enunciações” – Entrevistei a maioria dos profes- sores da escola, mas apresento apenas dois exemplos em que a discursividade cristã se manifestou de modo mais saliente. Uma das entrevistas foi com a professora de Ciências, que ministra também as aulas de Ensino Religioso. Segundo ela, que é formada em Ciências Biológicas e que trabalha nessa escola desde 1998, os conteúdos abordados nas aulas de Ensino Religioso falam sobre os valores
- 155. 154 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O morais prezados pela instituição escolar. No entanto, percebi que a moral ensinada nas atividades desse componente curricular é a moral cristã. No primeiro semestre de 2017, em uma entrevista com essa professora, ela mencionou sobre a importância do cristianismo na função educativa da pequena comunidade, desde o primeiro ano em que trabalha lá. Segundo ela, a escola já esteve muito mais envolvida em atividades ligadas a rituais cristãos, assim como maior quantidade de objetos dentro da escola em referência ao cristia- nismo. A entrevista me mostrou a hegemonia da discursividade cristã sobre outras religiões. A professora, embora reconhecendo a existência de outras vertentes religiosas na escola, desconhece seus nomes e informações atinentes. Foi somente durante a entrevista em questão é que ela passou a pensar na possibilidade de desen- volver debate também sobre outras religiões, que não somente a católica. Segue abaixo um trecho dessa entrevista: Professora - A nossa escola já foi mais participativa em relação à reli- gião, até na comunidade, todos os eventos que tinham relacionados à religião, aqui, à igreja, a gente estava sempre envolvido, quando eu cheguei aqui. A gente participava de Corpus Christi, a gente partici- pava das festas da igreja, a escola estava sempre representada por alguma coisa, era muito integrado. O que a gente visualiza de uns anos para cá: várias outras religiões entraram. As (crianças) que eram mais católicas foram saindo e foram vindo outras de outras religiões. Pesquisadora - Tu sabes quais são essas outras religiões? Professora - Não, não sei de quais são. Nomes por nomes, assim, não. Mas nós temos assim, em todas as salas, crianças de outras religiões. Por isso que, assim, ó, cada vez que eu trabalho ensino religioso é sempre relacionado à ética, princípios, moral, essas coisas, [sobre] o certo, como que tu deve agir na sociedade para ser aceito,... Ainda dei o texto de ética, como que a gente deve agir na sociedade,... Ainda comentei com eles, quando a gente vai para uma entrevista de emprego, quando a gente vai pedir um serviço em algum lugar, eles sempre perguntam: tu é de onde? Quem é o teu pai? Porque eles sabem que conforme a família, a pessoa tende a ser guiado, geralmente é assim, né? Teria que ser assim, né? Alguns se desvirtuam, enfim, né? Mas os princípios que os pais passam para eles, eles afloram neles, né? E daí como tem essas várias reli- giões, a gente trabalha relacionado a isso, mas eles, cada um na
- 156. 155 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O sua religião, eu vejo eles bem participativos. Eles [os alunos] são [bem participativos], eles vão na igreja, tem uns que vão uns [certos] dias na igreja e não podem ir para outro lugar, então tem coisas assim como [por exemplo], acho que é na sexta-feira, que tem uma religião que depois que o sol se põe eles não podem fazer nenhuma atividade, só rezam, então, tem várias crianças aqui... Isso até seria uma coisa interessante de a gente até trabalhar, de repente fazer um trabalho relacionado às religiões para eles conhecerem as religiões dos colegas, porque eles só sabem que eles [os “outros”] não são católicos, são de outra, mas qual é a outra? O que é a outra? Isso aqui me fez eu pensar nisso agora. Pensei em fazer algo sobre isso agora, [mas] não sei se vai dar tempo esse ano. “Rituais” – Outro exemplo que trago é o ritual da reza no início da aula. Em entrevista com outra professora, a que ministra aulas para a turma que contempla alunos de quatro e cinco anos de idade, ela mencionou a importância de iniciar os trabalhos da tarde convidando seus alunos a ficarem em silêncio e pedirem a proteção de Deus, para assegurar o bem estar, a paz e a tranquilidade da escola e da família. A professora alega não se tratar de um ritual ligado a alguma religião específica, mas apenas um momento de reflexão para despertar bons costumes. “Filmes” – Os ensinamentos cristãos são reforçados também através de filmes. Em uma das aulas de Ensino Religioso, o filme “Deus não está morto” foi passado para as séries finais do ensino fundamental. Esse filme glorifica o cristianismo, mostrando ateus e pessoas de outras religiões como arrogantes e nocivas à cons- tituição de sujeitos bons, enquanto os personagens cristãos como sendo calmos, serenos, simpáticos e humildes. Algumas passa- gens do filme foram aqui escritas para destacar enunciações cristãs que circulam dentro da escola: O universo sempre existiu. Por 2500 anos a Bíblia esteve certa e a ciência esteve errada./Eu vejo Jesus como meu amigo. É filho de Deus. Não quero decepcioná-lo./Fez você a imagem e semelhança Dele, o que significa que Ele gosta de você./Para os cristãos, o ponto fixo da moralidade, o que constitui o certo e o errado, é uma linha reta que leva direto a Deus./Precisamos um Deus para sermos
- 157. 156 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O morais, a moral ateísta é uma impossibilidade./Sem um Deus não existe um motivo real para ser moral./Se Deus não existe então tudo é permitido./Tudo se resume a crer ou não crer. Se não crer, nada tem sentido./Às vezes o Diabo deixa as pessoas viverem sem problemas porque ele não quer que as pessoas recorram a Deus. Seu pecado é como uma cadeia, tudo é lindo e confortável, não há necessidade de sair, a porta esta aberta até que um dia o tempo se esgota e a porta da cela se tranca./Deus dá um manual de instrução que é da onde tiramos nossa força, onde encontramos a esperança. “Sujeitos” – A presença do padre é comum na escola, sempre convidado pela Direção para que venha dar palestras e aconselha- mentos que orientem a boa conduta da comunidade. Abaixo, trago um exemplo de fragmento de meu diário de campo: O recreio havia acabado. Segundos após o sinal, a bola voou para fora dos limites do pátio da escola. Os guris foram buscá-la. Deixaram o pátio da escola e se perderam entre a vegetação. A diretora ficou braba: “Já bateu o sinal”, “vocês não ouviram?”. “O padre já está esperando”, diziam atordoadas as professoras. Vozes adultas, aqui e ali, elas repetiam que já estavam atrasados para a fala do padre. Entramos na pequena sala onde o padre teria apenas 45 minutos para cantar, tocar violão e falar da Páscoa, de Meio Ambiente, de fé e de como ser um bom ser humano. Seus olhos raramente fitavam alguém. Aqui e ali, lançava perguntas, os alunos respondiam, mas pouca ou nenhuma atenção era dada às contribuições que chegavam. Explicou que há duas coisas aos quais os humanos são escravos. Perguntou quais eram. Um menina arriscou: “Jesus?” O padre, aflito, depressa corrigiu que as duas coisas eram: “pecar e morrer”. Perguntou, então, o que é pecar. Um dos meninos disse: “é a internet?” Outro disse: “são os jogos, os games?” O padre conti- nuou falando, dessa vez sobre a importância da escola em conscien- tizar sobre como ser um bom cidadão para que o mundo possa ser salvo. (Registros de observações na escola – 06/04/2017). Discussão O conjunto de elementos cristãos parece fazer parte do currí- culo escolar operando como um dispositivo e caminhando com valores majoritariamente cristãos. Esse dispositivo cristão, atrelado à moralidade cristã, aciona modos de reconhecimento de si/dos
- 158. 157 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O outros/do mundo a partir de práticas que são postas a circular e que orientam/regulam o modo de falar, vestir, brincar, se relacionar, etc. dos sujeitos ali formados. Nesse sentido, práticas cristãs agem como práticas pedagó- gicas que afirmam o cristianismo com “vontade de verdade” cujos valores se pretendem a si próprios como superiores e verdadeiros. Então, penso ser importante problematizar a moralidade cristã como parte organizativa do currículo e dos saberes escolares da escola, uma vez que ela opera na construção de um tipo de subjetividade. Embora seja uma instituição pública, à qual estaria vedada autodeclarar-se seguidora de qualquer matriz religiosa específica, esta escola se constitui como um espaço que cria condições para a construção de uma subjetividade cristã para aquém da qual, supos- tamente, estariam alojadas as más condutas, o mal, o afastamento do homem em relação a uma essência humana natural e verdadeira- mente boa. O discurso cristão parece ser justificado na região onde está inserida a escola devido a que a maioria dos moradores segue essa matriz religiosa, que passa, então, como “tradição cultural” e “ação moral corretiva”, a orientar a conduta, os costumes, os estilos de vida dessa comunidade. Ainda que crucifixos, santos e capelas sejam encontrados também em outras instituições públicas (como universidades, hospitais, tribunais e parlamentos), algumas situações são levadas à apreciação jurídica, uma vez que tais coisas não são simples ornamentos de ambientes (LEITE; GORDILHO; MOURA, 2017). No Brasil, a resposabilidade por definir os conteúdos curriculares e requisitos docentes para a disciplina de ensino religioso nas escolas públicas (cuja oferta está garantida pela Constituição Federal/1988) foi delegada às unidades da federação (GIUMEBELLI, 2011). Como no Brasil vigora a norma do ensino religioso enquanto disciplina, um ponto controverso é a oposição entre o que seriam dois “modelos”, o confessional e o não confessional. As Constituições de 1934 e
- 159. 158 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O 1946 determinavam ensino religioso confessional, enquanto apenas a partir da Constituição de 1967 é que a disciplina passa a ser não confessional, apontando o ensino religioso como de matrícula facul- tativa e o estudo como transversal e abrangente no que diz respeito à diversidade religiosa do país. O modelo confessional e modelos não confessional se referem ao seguinte: No primeiro, as diferentes religiões assumidas pelos alunos – ou por seus responsáveis – serviriam como critério para a definição de conteúdos curriculares e de requisitos docentes. No segundo, procurar-se-ia contemplar a diversidade religiosa por meio de um conteúdo comum, que serviria de referência para o trabalho dos professores (GIUMBELLI, 2011, p. 262). Ou seja, o confessional solicita o ensino de acordo com a crença da maioria dos alunos ou dos pais/responsáveis, e as aulas ficariam sob a responsabilidade de professores próximos àquela determinada religião hegemônica, enquanto que o não confessional possui como característica o diálogo entre as diversas religiões e que os professores de ensino religioso não sejam representantes de uma determinada religião (ZANIRATI, 2018). Assim, o modelo confessional abre espaço ao proselitismo cristão, uma vez que, segundo o Censo Demográfico de 2010, embora tenha ocorrido crescimento da diversi- dade de grupos religiosos, a matriz cristã segue majoritária. A presença de um conjunto formado por coisas, palavras, enunciações, rituais, ações, filmes, sujeitos, etc. que falam discur- sivamente como práticas em espaço público afirma o cristianismo com “vontade de verdade”, isto é, com valores que pretendem a si próprios como superiores e neutros que buscam de modo definitivo responder a questões existenciais do homem. Questões sobre por que existe o mal em um mundo criado por um Deus bom sempre foram centrais nas discussões no cristianismo (MARCONDES, 2007). O cristianismo parte da premissa cristã de que a moral cristã é universal e natural ao mundo:
- 160. 159 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O A mensagem cristã não se dirige apenas a um povo escolhido, mas é universal, dirigida a todos os homens (Mateus, 28, 19), pois todos foram criados à imagem e semelhança de Deus (Gênesis 1, 26). E esta é uma diferença básica em relação ao judaísmo e às demais religiões da época, todas elas religiões de um povo ou de uma cultura, sem a pretensão de se difundir, de evangelizar ou converter outros povos (MARCONDES, 2010, p.108). Para Nietzsche, no entanto, a vontade de verdade é uma potência negativa, uma vez que a superestimação da verdade para o impetuoso desejo de certeza designa o desejo de querer a fixidez, a estabilidade, a constância, a homogeneidade, a conser- vação de convicções absolutas e definitivas (NIETZSCHE, 2017a; NIETZSCHE, 2017b; MACHADO, 1999). Em sua análise genealógica da moral, Nietzsche, questio- nando o valor dos valores dominantes em uma dada sociedade, afirma ser preciso conhecer as condições e circunstâncias em que os valores surgem, pois os considera frutos de produções históricas e sociais e, portanto, não são eternos, imutáveis ou inquestionáveis, como pretendido pelo cristianismo (NIETZSCHE, 2017a). Para ele, a sociedade não tem valores morais inatos: os juízos de valor dependem das condições de vida e variam com elas. Isso significa que os juízos de valor não têm valor em si mesmos, não são eternos, imutáveis ou ligados a movimentos contínuos e regulares em direção a um aprimoramento, mas são históricos e resultados de uma produção humana (NIETZSCHE, 2017a). Para Nietzsche, os saberes são resultado de uma convenção construída, uma vez que não há como buscarmos o que é verdadeiramente verdadeiro. Então, o que nos cabe como pesquisadores é analisar os efeitos daquilo em que a sociedade de determinado tempo e lugar deposita valor superior e verdadeiro e que constroem determi- nados sujeitos e subjetividades.
- 161. 160 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O Assim, pensando a partir de Nietzsche, entendo que a base moral cristã orienta a existência de um tipo de subjetividade ligada à liturgia, à confissão, à culpa, ao medo e à presença de elementos cristãos como organizadores e construtores do saber escolar. Essas práticas podem interditar ou dificultar a percepção de outras discur- sividades e outros modos de ser e pensar. À maneira Nietzsche de pensar, poderíamos dizer que, nesse caso, à escola caberia apenas a função de corrigir, desacelerar, frear, amassar a vida dentro de um pequeno compartimento, cujas paredes limitadoras são constituídas pela moral cristã. Nessa perspectiva, essa função é de meramente conservar a vida, mas não de expandi-la criativamente. A vida, então, é lapidada, amaciada, disciplinada, modelada e punitiva, a fim de que sirva como ponte para outra vida, um mundo suprassensível. Para Nietzsche, o cristianismo gera uma vontade de potência fraca, decadente e nociva às forças que possibilitam a expansão: ela apaga qualquer fagulha ou brilho potencializador da existência, porque se manifesta contra os instintos da vida, isto é, contra a vontade afirmativa de potência (NIETZSCHE, 2017a; NIETZSCHE, 2017b). Para se situar além do bem e do mal, apoiada em Nietzsche, penso que, talvez, seja importante relativizar a categórica e impe- rativa moral cristã que funciona regulando o conhecimento, inter- ditando certas falas e gestos, organizando práticas que produzem formas de ver e dizer, instituindo modos de pensar e agir canoni- zados pelo discurso cristão. Tentando pensar em possibilidades de atitudes para que um leque de outras possibilidades de singulares modos de vida pudessem a se abrir, penso que considerar o conhecimento em sua multiplicidade e instantes de sua gênese – e não no “produto final” –, significa valorizar o seu processo de vir a ser, os seus escapes, a recombinação de cores para novos e infinitos pensamentos que levem os alunos a tantos outros lugares quanto forem possíveis. O corpo vivo, o corpo nobre “(...) terá de ser a vontade de potência
- 162. 161 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O encarnada, deverá empenhar-se em crescer, em expandir-se, atrair para si e adquirir ascendência – não devido a uma moralidade ou imoralidade qualquer, mas porque vive e porque a vida é precisa- mente a vontade de potência” (NIETZSCHE, 2015, § 259, p. 191). Dedilhando critérios estéticos e valores artísticos para construir o conhecimento, o corpo nobre tem vontade afirmativa de potência para fazer de sua vida uma obra de arte, ou seja, com abundância de intensas experiências ético-estéticas singulares enobrecedoras de si. A vontade positiva de potência impulsionaria os instintos à criação de novas formas de vida artista que inventam outras possi- bilidades de existência. A vida como obra de arte é a experiência trágica dionisíaca, bruta e selvagem, como fenômeno ético e esté- tico de consentir a vida em sua totalidade, sem nada negar. Então, tentando pensar à maneira de Nietzsche, mais interessante seria enaltecer também outros saberes como uma tentativa de desocupar o lugar exclusivo reservado ao cristianismo para, a partir disso, afirmar outras racionalidades que agitem forças ativas, altivas, intensas, indóceis, indomesticáveis, criadoras e potencializadoras da vida. Tendo em mente que, conforme DELEUZE (2018), nas relações de poder exercidas umas sobre as outras, as forças em relação materializam efeitos, poderíamos experimentar os efeitos de uma escola que – ao invés de estimular e direcionar os alunos a um determinado objetivo – abrisse espaços à potência criadora dos alunos. No meu ponto de vista, a escola, quando direciona a formação hegemônica de um tipo de sujeito consonante apenas com a moral cristã, age como um cone convergente, isto é, aquele que tenta capturar a multiplicidade para domesticá-la a um Uno (“o verdadeiro”, “o desejável sujeito cristão”). No entanto, o que se provoca aqui, é pensar na possibilidade da escola funcionar como um cone divergente, ou seja, aquele que abre espaços que, tomados como desafiadores, valorizassem a multiplicidade e a dife- rença como motes ao desenvolvimento enobrecedor de um sujeito singular em constante formação.
- 163. 162 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O O espírito livre daí oriundo é aquele que pensa de modo diverso das opiniões que predominam em seu tempo, pois o que quer é se libertar da tradição para pensar em outros caminhos possíveis. Ensina algo à sociedade: ele encontra energia e vitali- dade selvagem para compor com genialidade novas e potentes formas de vida. Ensina, assim, que não existe educação milagrosa. O que existe são espíritos fecundos que, em situação adversa, exer- citam destreza em criar caminhos em terreno ora intransponível. O espírito livre constrói autenticamente seu caminho para dar nobre valor à sua existência, e nessa construção de si cria seus valores segundo sua própria medida de valor. O que quer, em meio a aridez e agruras da vida, é criar novos valores éticos, pensar de modo diverso das opiniões que predominam em seu tempo, se libertar da moral e da tradição escrava para pensar outros caminhos possíveis (NIETZSCHE, 2000). A transvaloração de todos os valores implica perder a fé apática na lei do consenso, rejeitar a integridade da moral vigente e recusar o conforto de pertencer à massa disciplinada que segue as regras morais do rebanho, para ousar experimentar a insegurança dos saberes instintivos. A transvaloração leva à alegria da loucura – não como fuga do mundo –, mas como (...) “o surgimento do que é aleatório no sentimento, na visão e na audição, o desfrute da indis- ciplina da mente, a alegria com a irracionalidade humana (...)”, pois “O oposto do mundo da loucura não é a verdade e a certeza, mas a universalidade de uma crença e o comprometimento total com ela, em suma, o não aleatório nos julgamentos” (NIETZSCHE, 2016, §76, p. 138) [grifos meus]. Tranvalorar é tornar a vida singular, única, afirmativa, “em favor da exceção, com a condição de que nunca queira se trans- formar em regra” (NIETZSCHE, 2016). É preciso ser leve para que o andarilho possa plainar acima de seu tempo, se elevar, se movi- mentar, se distanciar com autenticidade e liberdade. Para isso, é preciso perguntar:
- 164. 163 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O (...) [S]e de fato conseguimos subir até lá. Isso pode depender de diversas condições, mas principalmente em que medida somos leves ou pesados, enfim, a questão do nosso ‘peso específico’. precisamos ser muito leves, para impulsionar nossa vontade de conhecimento até essa distância e também para além de nosso tempo, para criarmos olhos capazes de uma visão panorâmica sobre os milênios, e ainda por cima termos um céu puro nesses olhos! Precisamos estar livres de muita coisa, que justamente nos oprime, reprime, abafa e nos torna pesados, a nós, europeus de hoje. A pessoa de tal além, que quer ter a visão das mais elevadas medidas de valor do seu tempo, precisa, em primeiro lugar, ‘superar’ esse tempo em si mesma – é a prova de sua força – e, consequen- temente, não apenas o seu tempo, mas também o seu mau humor e a sua revolta contra esse tempo, o seu sofrimento por causa desse tempo, a sua desconformidade com ele, o seu romantismo... (NIETZSCHE, 2016, §380, p. 424-425) [grifos do autor]. Assim, tentando finalizar esse artigo, busco problematizar se uma escola construtora de subjetividade cristã fomenta a vida, expressando força plenitude e altivez, ou se a reprime, acovarda e empobrece. Mais uma vez procurando exercitar um modo Nietzsche de pensar, considero pertinente perguntar se, uma escola que abrisse e desdobrasse cada vez mais heterogêneas possibilidades de expe- riências, não fomentaria novas combinações de modos de pensar e agir. Nesse sentido, talvez os sujeitos daí formados constituiriam formas autenticamente diferentes para trilhar caminhos enobrece- dores a uma existência singular. Sujeitos que vestem o “gorro de guizos” se desamarram do consenso, se fortalecem em toda arte petulante, flutuante, dançante e zombeteira para não perder a liber- dade de se colocar acima das coisas, acima da moral, sem a rigidez medrosa daquele que receia resvalar e cair a todo momento, mas sim flutuar e brincar acima dela (NIETZSCHE, 2016, § 107, p. 190). Esse tipo de educação, talvez seja um processo que não pretende chegar a um ponto final ideal, mas, sim, fomentar estilísticas e experimenta- ções, isto é, singularidades que superem a moral escrava para dar espaço à criação de novos valores. Significa superar o idealismo, a metafísica, a covardia, a passividade, o niilismo, as convicções abso- lutas para dar espaço à expansão criativa de viver.
- 165. 164 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O Referências BRASIL. Decreto n° 7.352, de 04 de novembro de 2010. Dispõe sobre a política de educação do campo e o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária – PRONERA, Brasília/DF, novembro, 2010. Disponível em http://portal.mec.gov.br/docman/marco-2012-pdf/10199-8-decreto-7352- de4-de-novembro-de-2010/file, acessado em 23 de junho de 2018. DELEUZE, Gilles. Nietzsche e a filosofia. Tradução de Mariana de Toledo Barbosa e Ovídio de Abreu Filho – São Paulo: n-1, 2018. FOUCAULT, Michel. A arqueologia do saber. Rio de Janeiro: Forense, 1986. FOUCAULT, Michel. Estratégias, poder-saber. Organização e seleção de textos de Manoel Barros da Motta; tradução de Vera Lúcia Avellar Ribeiro. – Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2003. FOUCAULT, Michel. Segurança, território e população – curso dado no Collège de France (1977-1978). Edição estabelecida por Michel Senellart sob a direção de François Ewald e Alessandro Fontana; tradução de Eduardo Brandão. – São Paulo: Martins Fontes, 2008. FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão. Tradução de Raquel Ramalhete. Petrópolis, RJ: Vozes, 2013. GIUMBELLI, Emerson. Ensino religioso e assistência religiosa no Rio Grande do Sul: quadros exploratórios. Civitas, Porto Alegre, v. 11, n. 2, p. 259-283, maio-ago., 2011. LEITE, Flávia Piva Almeida; GORDILHO, Heron José de Santana; MOURA, Benedita Ferreira da Silva MacCrorie da Graça. VII Encontro Internacional do Conpedi/Braga – Portugal. Direitos e Garantias Fundamentais II. Florianópolis/Brasil: CONPEDI, 2017. Versão on-line: file:///C:/Users/M/ Downloads/cruz%20na%20sala%20de%20aula.pdf, acessado em 08/06/2018. NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm. Humano demasiado humano: um livro para espíritos livres. Tradução: Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm. Além do bem e do mal. Tradução de Carlos Duarte e Anna Duarte. – São Paulo: Martin Claret, 2015. NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm. A gaia ciência. Tradução e notas de Inês A. Lohbauer. – São Paulo: Martin Claret, 2016.
- 166. 165 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm. Genealogia da moral. Tradução e notas de Inês A. Lohbauer. – São Paulo: Martin Claret, 2017a. NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm. O anticristo: maldição contra o cristianismo. Tradução, notas e apresentação de Renato Zwick. – Porto Alegre, RS: L&PM, 2017b. MACHADO, Roberto Cabral de Melo. Nietzsche e a verdade. – São Paulo: Paz e Terra, 1999. MARCONDES, Danilo. Textos básicos de filosofia: dos pré-socráticos a Wittgenstein. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2007. MARCONDES, Danilo. Iniciação à história da filosofia: dos pré-socráticos a Wittgenstein. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2010. OLIVEIRA, Beatriz Santos de. Espaço e estratégia: considerações sobre a arquitetura dos jesuítas no Brasil. – Rio de Janeiro: José Olympio; Uberlândia: Prefeitura Municipal, 1988. RUSCHEL, Ruy Ruben. Torres tem história. – Porto Alegre: EST, 2004. RUSCHEL, Ruy Ruben; Pe. DELAI, Rizzieri. Três Cachoeiras e suas comunidades. Edição própria. 1996. SILVA, Tomaz Tadeu da. Dr. Nietzsche, curriculista - com uma pequena ajuda do professor Deleuze. In: MOREIRA, Antônio Flávio; MACEDO, Elizabeth Fernandes de. Currículo, práticas pedagógicas e identidades. Porto: Porto, 2002. VALDUGA, Gustavo. Paz, Itália, Jesus: uma identidade para imigrantes italianos e seus descendentes – o papel do jornal Correio Riograndense (1930-1945). – Porto Alegre: EDIPUCRS, 2008. ZANIRATI, Giovani. Ensino religioso em escolas públicas de Porto Alegre: modelos gerais e práticas específicas. Monografia de Bacharelado em Ciências Sociais, pelo Departamento de Antropologia do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre/RS, 2018.
- 167. CAPÍTULO 8 O PODER UBUESCO E SUAS RESSONÂNCIAS PARA AS CATEGORIAS DE PODER PASTORAL, SOBERANO E DISCIPLINAR1 Isabel Cristina Dalmoro Suelen Assunção Santos 1. Uma versão desse artigo foi apresentada no III Seminário Internacional Michel Foucault: por uma vida não fascista, ocorrido no mês de julho de 2018 na cidade de Pelotas (RS). 8 Opoderubuesco esuasressonâncias paraascategorias depoderpastoral, soberanoedisciplinar1 1. Uma versão desse artigo foi apresentada no III Seminário Internacional Michel Foucault: por uma vida não fascista, ocorrido no mês de julho de 2018 na cidade de Pelotas (RS). IsabelCristinaDalmoro SuelenAssunçãoSantos DOI: 10.31560/pimentacultural/2019.515.166-188
- 168. 167 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O Apresentação Esse capítulo integra um estudo de Mestrado que teve por objetivo examinar como o conceito de poder ubuesco pode servir para lançar outros olhares sobre a Educação Ambiental. O refe- rido Mestrado está vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências: Química da Vida e Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Sul – PPGEC/UFRGS, e pertence à Linha de Pesquisa que investiga como os efeitos dos discursos e das práticas sociais processadas em diferentes instâncias atuam na produção de verdades e de sujeitos, tendo como base a pers- pectiva pós-estruturalista. O intuito do presente texto é apresentar o conceito de poder ubuesco – mencionado nas aulas que integram a obra Os Anormais (1974 - 1975) – e mostrar como esse conceito se constituiu em ferramenta de análise histórico-política para a pesquisa realizada. Acerca do termo ubuesco, há de se dizer que se trata de um adjetivo derivado da peça de Alfred Jarry (1873 - 1907), intitulada Ubu-roi1 (1986). Essa peça é composta por cinco atos que contam as peripécias de Pai Ubu que, junto com a esposa Mãe Ubu e seus súditos, trama e executa o assassinato do soberano da Polônia, rei Venceslau. Ao assumir o trono por meio deste assassinato, Pai Ubu se proclama rei Ubu. Logo depois de ter assumido o cargo que não era seu por direito, os mandos e desmandos do rei Ubu são marcados pela tirania acentuada pelo terror imposto aos seus súditos e pela covardia do personagem. Além disso, por conta das suas falas, Pai Ubu carrega um tipo de humor às avessas, forte- mente lembrado pelo tom sarcástico e grosseiro. 1. Rei Ubu ou Ubu rei.
- 169. 168 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O De acordo com Leme (2018), o conceito de poder ubuesco surgiu para dar resposta ao seguinte problema: por que razão é corrente encontrar imbecis em lugares de liderança? Por que é que o lugar estatutário do poder pode ser ocupado por figuras medío- cres, nulas, imbecis? Por conta disso, segundo o autor, o principal desafio de sua análise consiste na forma de combatê-lo. Isso porque se trata de um mecanismo que recorre à despolitização e à exas- peração que “começam pela autodesqualificação do governante e terminam com o desespero dos governados, seja na forma do riso resignado, seja na forma de desistência” (LEME, 2018, p. 185). Tomando como base o método da Cartografia, pelo qual buscamos acompanhar os modos de expressão do poder ubuesco, revisitamos a obra foucaultiana Os Anormais (1974 - 1975) para uma nova imersão nas onze aulas que a constituem. Para tanto, dividimos o artigo em três seções. Na primeira delas mapeamos os sentidos do poder ubuesco apresentadas pelo professor Foucault. Na segunda seção trazemos à tona os elementos ressonantes do referido conceito para as categorias de poder, conforme caracterizadas por Veiga-Neto (2016), quais sejam, poder pastoral, soberano e disciplinar. Por fim, apresen- tamos algumas ressonâncias do poder ubuesco sobre questões pertinentes ao campo da Educação Ambiental que possibilitam o fortalecimento de seus regimes de verdade. As onze aulas do curso Os Anormais (1974 - 1975) [...] não sou um escritor, um filósofo nem uma grande figura da vida intelectual: sou um professor [...] (FOUCAULT, 20171 ). 1. Trecho da entrevista concedida na Universidade de Vermont (EUA) em 25 de outubro de 1982 (FOUCAULT, 2017).
- 170. 169 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O Em 08 de janeiro de 1975, o professor Foucault inicia a primeira aula do curso com a leitura de três relatórios elaborados por peritos psiquiatras em matéria penal contendo descrições acerca dos réus. Essas descrições são realizadas a partir de hipó- teses criadas pelos referidos peritos para justificar os crimes come- tidos pelos acusados. Nelas constam termos que apelam para o grosseiro, uma vez que os réus são descritos como “medíocres”, “imorais” ou “cínicos”. Outros exemplos são descrições do tipo: “[...] tanto mais que, morrendo o pai, viu-se sozinho com a mãe, mulher de situação duvidosa [...]” e “[...] a maior característica de seu caráter parece ser uma preguiça cujo tamanho nenhum qualita- tivo seria capaz de dar ideia” (FOUCAULT, 2010, p. 4-6). Por conta do uso de expressões como as acima descritas, Foucault (2010, p. 6) chama a atenção para o discurso presente nos relatórios lidos, “[...] porque, afinal de contas, na verdade são raros, numa sociedade como a nossa, os discursos que possuem a uma só vez três propriedades”. As três propriedades que Foucault se refere são: i) o poder de determinar, direta ou indiretamente, a liberdade ou a detenção de um homem (no limite disso, o poder de vida e de morte); ii) o poder de verdade (no caso, qualificado pela instituição judiciária e com estatuto cientifico) e iii) o poder de fazer rir. Ressaltamos que o poder de fazer rir mencionado é o do riso que suscita a ironia. Isso porque é um riso oriundo de um humor sarcástico, rude. Além disso, os discursos que contêm essas três propriedades, segundo Foucault (idem), “merecem um pouco de atenção”. Para mais, são conside- rados como grotescos. Em suas palavras: [...] – e quando digo “grotesco” gostaria de empregar a palavra num sentido, se não absolutamente estrito, pelo menos um pouco rígido ou sério. Chamarei de “grotesco” o fato, para um discurso ou para um indivíduo, de deter por estatuto efeitos de poder de que sua qualidade intrínseca deveria privá-los. O grotesco, ou se quiserem, o “ubuesco” não é simplesmente uma categoria de injúrias, não é um epíteto injurioso, e eu não queria empregá-lo nesse sentido (FOUCAULT, 2010, p. 11).
- 171. 170 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O Ainda, a categoria do ubuesco poderia ser pensada como uma “categoria precisa da análise histórico-política” e integraria a instância da soberania arbitrária desqualificada pelo odioso, pelo infame, pelo ridículo. Nesse sentido: [...] o terror ubuesco, a soberania grotesca ou, em termos mais austeros, a maximização dos efeitos do poder a partir da desqua- lificação de quem os produz: isso, creio eu, não é um acidente na história do poder, não é uma falha mecânica (FOUCAULT, 2010, p. 11). Desse modo, a categoria do ubuesco é “uma das engrena- gens que são parte inerente dos mecanismos de poder” (idem), considerada como algo costumeiro no funcionamento político das nossas sociedades, ou ainda, como algo inerente à burocracia aplicada. Em vista disso, Foucault descreve a figura do “Ubu buro- crata” como o grotesco administrativo, interpretado pelo funcionário da administração pública que é, ao mesmo tempo, medíocre, nulo, imbecil ... Também apresenta a figura do “Ubu douto”, incorporado pela instituição judiciária e que fala doutamente. Além disso, chama a atenção para o discurso do perito psiquiatra em matéria penal por conter um dobramento do delito, uma vez que nos relatórios elaborados percebe-se a ocorrência não só do ato criminoso, mas de uma série de comportamentos dos réus que seriam a causa ou o ponto de partida do delito, fazendo com que a punição dada ao réu não seja pelo crime propriamente dito, mas pela “outra coisa que não a infração” (idem, p. 17). Diante disso, Foucault o descreve como o “Ubu psiquiátrico-penal” (idem, p. 14). Contudo, declara: Não tenho nem força, nem coragem, nem tempo para consagrar meu curso deste ano a esse tema. Mas gostaria pelo menos de retomar o problema do grotesco a propósito dos textos que acabo de ler para vocês (FOUCAULT, 2010, p. 13). A partir disso, se propõe a estudar “os efeitos de poder que são produzidos, na realidade, por um discurso que é, ao mesmo tempo, estatutário e desqualificado” (idem) e elenca o que se pode nomear de objetivo do curso iniciado, qual seja: “identificar, analisar
- 172. 171 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O a tecnologia de poder que utiliza esses discursos e tenta fazê-los funcionar” (idem, p. 14). Anuncia, então, o que pretende estudar no curso: a emergência do poder de normalização. No início da segunda aula do curso, Foucault relembra os rela- tórios lidos na aula anterior, e sobre o caráter ubuesco presente nas leituras realizadas, quando os peritos psiquiatras em matéria penal se valem de expressões que fazem menção ao grotesco. Leia-se: Para voltar pela última vez a Ubu (vamos abandoná-lo aqui), se se admitir – como tentei lhes mostrar da última vez – que Ubu é o exercício do poder através da desqualificação explícita de quem o exerce, se o grotesco político é a anulação do detentor do poder pelo próprio ritual que manifesta esse poder e esse detentor, vocês hão de convir que o perito psiquiatra na verdade não pode deixar de ser a própria personagem Ubu (FOUCAULT, 2010, p. 31). Isso ocorre porque o discurso do perito psiquiatra em matéria penal se caracteriza como um discurso infantil, que o desqualifica e o ridiculariza como campo científico pelo qual foi convocado. Dado que o relatório elaborado diz respeito a um discurso que provoca o medo e pretende a moralização do indivíduo criminoso. Além do mais, é na costura entre o judiciário e o médico, enunciada pela junção realizada pelo perito psiquiatra, que se constitui a instância do controle do anormal. Nos momentos iniciais da terceira aula, Foucault apresenta uma breve descrição de cada uma das três figuras que integram o domínio da anomalia: o monstro humano, o indivíduo a ser corrigido e a criança masturbadora (onanista). Lançando mão do que chamou de genealogia da anomalia humana como método para o curso, apresenta a noção jurídico-biológico de monstro humano compre- endido a partir “não apenas da violação das leis da sociedade, mas uma violação das leis da natureza” (FOUCAULT, 2010, p. 47). Essa figura do monstro humano (apresentada como possuidora de equí- vocos – uma vez que ao mesmo tempo em que viola a lei, a deixa
- 173. 172 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O sem voz – por conta de sua força e capacidade de inquietação) se encontra dentro da problemática da anomalia. Recorda, então, seus ouvintes sobre os relatórios lidos nas duas aulas anteriores: Digamos numa palavra que o anormal (e isso até o fim do século XIX, talvez XX; lembrem-se dos exames que li para vocês no início) é no fundo um monstro cotidiano, um monstro banalizado (FOUCAULT, 2010, p. 49). Valendo-se de exemplos como o caso de um natimorto, um caso de irmãos siameses ou ainda casos sobre os hermafroditas, Foucault (2010, p. 57) faz alusão aos diagnósticos médicos acerca desses últimos, em que a justificativa para o fato de serem herma- froditas se encontra na descrição que afirma “[...] só podia possuir dois sexos porque tivera relações com Satanás [...]”. Notamos a presença do grotesco no parecer médico comentado por Foucault. A aula prossegue com o professor apresentando outros casos envol- vendo pessoas hermafroditas. Por vezes, menciona os discursos médicos elaborados contendo nas descrições os contextos e as semelhanças acerca destes casos, ressaltando que neles sobrevém “a atribuição de uma monstruosidade que não é mais jurídico-na- tural, mas jurídico-moral” (FOUCAULT, 2010, p. 62). Aqui notamos o dobramento do delito, tal como descrito na segunda aula do curso. A quarta aula inicia com Foucault (2010, p. 70) discorrendo sobre a monstruosidade apresentando indícios da criminalidade. Recorda que “crime” era considerado como um dano voluntário aos direitos e a vontade do soberano e não somente “uma lesão e um dano aos interesses da sociedade inteira”. Por conseguinte, o crime atingia a força do soberano. Na punição do crime cometido, havia a vingança do soberano, sua revanche e a volta da sua força. Nesse sentido, no castigo imputado ao criminoso deveria haver a “intimidação de todo crime futuro” (idem, p. 71). Essa intimidação acontecia pela manifestação excessiva do terror, dada por uma ceri- mônia do poder de punir, utilizada como uma estratégia do poder.
- 174. 173 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O No que considera como a transformação dos mecanismos do poder, Foucault (2010, p. 73) menciona textos que ressaltam a economia de poder punitivo, em que cabe ao juiz e não mais ao soberano buscar saber, por meio da confissão do criminoso, se o crime havia sido cometido ou não. Por economia de poder punitivo entendemos não somente a economia gerada pelas despesas financeiras, mas a economia que diminui as possibilidades de resistência, de descon- tentamento, de revolta que o poder monárquico poderia suscitar. Crime, então, passa a ser o que tem uma natureza e o criminoso é, em vista disso, um ser natural caracterizado por sua criminali- dade. Nesse sentido, só serão punidos indivíduos após serem julgados como criminosos, porém avaliados, apreciados, medidos em termos de normal e patológico. De acordo com Foucault, essa transformação dos mecanismos do poder assinala a história do surgimento do monstro moral, em que ocorre a patologização do crime. E apresenta o primeiro monstro moral: o monstro político (também nomeado pelo autor como criminoso político). Descreve-o dessa maneira: O criminoso [político] é aquele que, rompendo o pacto que subs- crevera, prefere seu interesse às leis que regem a sociedade de que é membro. [...] o criminoso é sempre, de certo modo, um déspota, que faz valer, como despotismo e em seu nível próprio, seu interesse pessoal. [...] quanto mais despótico for o poder, mais numerosos serão os criminosos (FOUCAULT, 2010, p. 78). Para mais, Foucault caracteriza o criminoso político como “o indivíduo que impõe sua violência, seus caprichos, sua não razão, como lei geral ou como razão de Estado” (idem, p. 80). A aula termina com o professor comentando sobre a problematização em torno da figura do rei, elencado por ele como o primeiro monstro moral. Para tanto, cita como exemplo as figuras do rei Luís XVI e de Maria Antonieta. Nessa aula, o poder ubuesco está subtendido na descrição do princípio do terror do poder soberano. Uma vez que em sua formação encontramos a característica de provocar o medo,
- 175. 174 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O conforme comentado sobre os relatórios dos peritos psiquiatras em matéria penal (ver segunda aula). A quinta aula foi dedicada para falar sobre a passagem que vai da figura do monstro ao anormal. Foucault comenta sobre três crimes que não apresentaram boas razões para serem come- tidos e que acabam fundando a psiquiatria criminal. Nisso acon- tece o encontro entre o poder médico e o poder judiciário para tentar resolver/explicar os crimes sem razão. Ou seja, “[...] o crime sem razão é o embaraço absoluto para o sistema penal. Não se pode, diante de um crime sem razão, exercer o poder de punir” (FOUCAULT, 2010, p. 104). Por outro lado, “[...] o crime sem razão, se se consegue identificá-lo e analisá-lo é a prova de força da psiquiatria, é a prova de seu saber, é a justificativa de seu poder” (idem). Um exemplo pelo qual se pode perceber os dois meca- nismos em ação é o caso de Henriette Cornier que após ter cortado a cabeça de uma criança comenta como única explicação para o ato cometido de que “[...] foi uma ideia” (idem, p. 96). Em um dos relatórios mencionados por Foucault sobre o caso Henriette Cornier, em vista da descrição utilizada, encontramos o apelo ao ubuesco: “[...] de fato, Henriette Cornier estava menstruada no momento do crime, e como todo mundo sabe ...” (FOUCAULT, 2010, p. 108). Na sexta aula do curso, Foucault (2010, p. 118), retomando o exemplo do caso Henriette Cornier, afirma que a “psiquiatria descobre o instinto” e o caracteriza como uma “espécie de engre- nagem que permite que dois mecanismos de poder engrenem um no outro: o mecanismo penal e o mecanismo psiquiátrico” (idem). Ou seja, o instinto permite reduzir, por meio de termos inteligíveis, o que seria a explicação para um crime sem interesse. Desse modo, acontece gradativamente a inserção da psiquiatria nos mecanismos de poder, em que ela se insinua numa espécie de posição subordi- nada entre elementos disciplinares, tais como a família, a vizinhança, a casa de correção, uma vez que todos esses elementos passam
- 176. 175 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O a ser campo da intervenção médica. Como de costume, Foucault menciona textos contendo descrições de casos que exemplificam o que está sustentando. Novamente o que chama a atenção é o caráter das expressões utilizadas, como o relatório que lê em aula sobre um ex-militante da Comuna de Paris. Eis um trecho: [...] na realidade a expressão geral e habitual da fisionomia tinha certa dureza, algo de feroz e uma extrema arrogância, as narinas achatadas e largamente abertas exalavam a sensualidade, assim como seus lábios um pouco carnudos e cobertos em parte por uma barba longa e densa, negra com reflexos ruivos. Seu riso era sarcás- tico, a palavra breve e imperativa, sua mania de aterrorizar levava-o a carregar no timbre da voz para torná-la mais terrivelmente sonora (FOUCAULT, 2010, p. 133). No final desta leitura, Foucault relembra seus ouvintes que esse relatório chega ao nível dos discursos dos exames psiquiá- tricos apresentados na primeira aula do curso. Recorda, ainda, que foi esse tipo de descrição, de análise, de desqualificação que a psiquiatria assumiu. Além disso, Foucault (2010, p. 139) descreve a psiquiatria como a ciência e a técnica dos anormais, dos indivíduos anormais e das condutas anormais, pela qual sobrevêm processos de normalização. A partir da sétima aula do curso, Foucault (2010, p. 143) passa a tratar do campo da anomalia atravessado pelo problema da sexualidade. Nesse sentido, afirma que a sexualidade pode ser compreendida como um efeito de um procedimento de poder, uma vez que pode ser assim descrita: “[a sexualidade] não é o que se cala, não é o que se é obrigado a calar, mas é o que se é obrigado a revelar” (FOUCAULT, 2010, p. 144). Acerca desse procedimento de poder, o professor comenta ser “um procedimento perfeitamente codificado, perfeitamente exigente, altamente institucionalizado, da revelação sexual, que era a confissão sacramental” (idem). No que concerne ao ubuesco, notamos que essa categoria de poder se mostra nos textos que constavam nos manuais de confissão,
- 177. 176 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O distribuídos ao confessores e diretores de consciência [dos semina- ristas], com orientações do tipo: [...] ele precisa também, sem dizer nada, observar seu compor- tamento, suas roupas, seus gestos, suas atitudes, o som da sua voz, mandar embora é claro, as mulheres que viessem frisadas, maquiadas [e empoadas] (FOUCAULT, 2010, p. 156). Em vista disso, por meio de uma evolução da confissão, o confessor passa a fazer um interrogatório ao penitente que envolve uma espécie de “cartografia pecaminosa do corpo” (idem, p. 161), em que o corpo passa a ser incriminado. Perguntas do tipo: Você se vestiu de maneira indecente? Sentiu prazer ao vestir-se? Fez “jogos” desonestos? Durante a dança, você fez “movimentos sensuais” ao pegar na mão de uma pessoa, ou vendo posturas ou atitudes afeminadas? Sentiu prazer ao ouvir a voz, o canto, as melodias? Tais exemplos de perguntas assinalam a presença do ubuesco na lite- ratura de confissão, como também marcam a passagem em que a masturbação passa a ser “a forma primeira da sexualidade revelável” (idem, p. 165). Assim, numa espécie de fisiologia moral da carne, a masturbação se torna um problema pedagógico e médico, trazendo a sexualidade para o campo da anomalia, ao mesmo tempo em que ocorre o crescimento do disciplinamento do corpo. Na oitava aula do curso, o tema de estudo consistiu na abor- dagem de um novo procedimento de exame: desqualificação do corpo como carne e culpabilização do corpo pela carne. O corpo, que é descrito pelo professor como “a sede das intensidades múlti- plas de prazer e deleitação” (FOUCAULT, 2010, p. 173), passa a ser apresentado como corpo enfeitiçado, corpo possuído e corpo em estado de convulsão, por conta de seus desejos. Assim, a partir do exame da convulsão (entendida como um distúrbio carnal), em que ocorre o deslocamento da direção espiritual como possível tratamento anticonvulsivo para o campo da medicina por meio da neuropatologia e para os sistemas disciplinares e educacionais, é
- 178. 177 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O que se dá a ligação com o poder ubuesco. Mais uma vez, esse conceito aparece na forma das expressões contidas nos modelos de manuais que Foucault lê em aula, em que há instruções de como o confessor deve proceder ao interrogar o penitente que se percebe a presença do grotesco, por exemplo: [...] é necessário descobrir na confissão não apenas [todos] os atos consumados, mas também [todos] os toques sensuais, todos os olhares impuros, todas as palavras obscenas, principalmente se houver prazer (FOUCAULT, 2010, p. 189). A nona aula do curso inicia com Foucault comentando sobre a evolução do controle da sexualidade no interior dos estabeleci- mentos da formação escolar cristã, sobretudo a católica. Conforme Foucault (2010, p. 202), isso ocorre pela disposição dos lugares e das coisas (dos dormitórios e da sala de aula: bancos e carteiras), acusando uma designação dos perigos do corpo, em que se busca o controle das “almas, dos corpos e dos desejos”. A partir disso, surgem [meados do século XVIII] textos, livros, prospectos e panfletos numa cruzada que o professor denomina de “literatura antimasturbatória” (idem, p. 204), em que acontece a “culpabili- zação da criança” numa espécie de patologização da infância. É no contexto da literatura acima mencionada que as descrições rela- cionadas ao poder ubuesco se apresentam. A primeira descrição para qual Foucault chama a atenção está presente em um texto científico, tal como transcrevemos: “esse rapaz estava no marasmo mais completo, sua vista tinha decaído inteiramente. Ele satis- fazia onde quer que estivesse as necessidades da natureza [...]” (FOUCAULT, 2010, p. 207). Ou ainda em textos em que a mastur- bação é considerada uma doença e que a responsabilidade do corpo estar doente é do próprio doente, uma vez que “se você está doente, é porque quis; se seu corpo foi atingido, é porque você o tocou” (idem, p. 210). As orientações médicas sobre como proceder em relação à criança masturbadora são dadas aos pais para que possam conduzir a disciplina do corpo da criança. Dentre elas a
- 179. 178 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O orientação de que é preciso aos pais ficarem atentos “à criança que busca a sombra e a solidão, que fica muito tempo sozinha sem poder dar bons motivos para esse isolamento” (idem, p. 214). Da relação médico-familiar em torno da criança masturbadora resulta uma família medicalizada, como também a relação pais-filhos medi- calizados, que acaba funcionando como princípio da normalização, como princípio de correção do anormal. Chegamos na décima aula do curso. Foucault relembra com seus ouvintes o tema da aula anterior: [...] o corpo da criança, sua valorização e a instauração de um medo em torno desse corpo, bem como a culpabilização e a responsabi- lização simultâneas dos pais e dos filhos em torno desse mesmo corpo (FOUCAULT, 2010, p. 233). Com base nisso, surge o tema do incesto considerado como “o ponto de origem de todas as pequenas anomalias” (idem, p. 235). Nos exemplos das campanhas para evitar o incesto é que o poder ubuesco aparece nessa aula, sob a forma de um discurso que provoca o medo (ver segunda aula). Seguem dois exemplos: i) “seus filhos, quando se tocam, podem estar certos de que é em vocês que estão pensando”; e ii) “não toquem em seus filhos. Vocês não ganha- riam nada com isso e, para dizer a verdade, até perderiam muito” (FOUCAULT, 2010, p. 239). A partir desse momento da aula, Foucault faz uma breve retomada do curso e passa a comentar sobre a teoria da degeneração, passando pelo que era nomeado de aberrações sexuais chegando às “condutas instintivas anormais, aberrantes, suscetíveis de psiquiatrização” (FOUCAULT, 2010, p. 251). Em 19 de março de 1975, acontece a décima primeira e última aula do curso desse ano. O professor inicia a aula comentando que a criança indócil, ou o indivíduo a ser corrigido, só apresentará o seu perfil deixando “em branco sua genealogia” (FOUCAULT, 2010, p. 255). Desse modo, descreve um caso em que aparece uma figura
- 180. 179 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O mista, composta pelo monstro, o masturbador e o inassimilável ao sistema normativo da educação, personificado no caso do jovem Charles Jouy. Um trecho de sua ficha, após passar por exame psiquiátrico, o descreve assim: [...] é filho natural, sua mãe morreu quando ainda era bem moço. Viveu ao deus-dará, meio à margem da aldeia, pouco escolarizado, meio beberrão, solitário, mal pago [...] (idem, p. 256). Foucault (idem, p. 259) vale-se do modelo desse caso como referência de um apelo às instâncias de controle (técnicas, médicas, judiciárias) que se apresentam de forma mista para resultar na psiquiatrização e, por conseguinte, na normalização do indivíduo. Nesse sentido, apresenta algumas descrições contidas nos relató- rios elaborados sobre Charles Jouy. Eis: [...] a face não oferece com o crânio a simetria conforme deveríamos encontrar normalmente [...] constata-se assim que a boca é larga demais e que o palato apresenta uma curvatura que é característica da imbecilidade [...] ele não é mau, dizem a propósito de Jouy, ele é até meigo, mas o senso moral está abortado [...] primordialmente acometido de aborto mental, não tem sido submetido a nenhum benefício da educação [...] (FOUCAULT, 2010, p. 260-262). Por fim, no desfecho dessa última aula, Foucault comenta sobre as descrições apresentadas por ele para exemplificar o apare- cimento do personagem do anormal e do domínio das anomalias como objetivo da psiquiatria. Em suas palavras: E essas famosas descrições ubuescas que ainda hoje encontramos nos exames médico-legais e em que se faz um retrato tão incrível ao mesmo tempo da hereditariedade, da ascendência, da infância, do comportamento do indivíduo, têm um sentido histórico perfeitamente preciso. [...] no fundo eu queria mostrar é que essa literatura, que parece uma literatura ao mesmo tempo trágica e maluca, tem sua genealogia histórica [...] ainda hoje encontramos em atividade esses procedimentos e essas noções (FOUCAULT, 2010, p. 278-279). O curso termina e a partir da composição das aulas do professor Foucault a obra Os Anormais (1974-1975) é publicada.
- 181. 180 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O Ressonâncias do poder ubuesco nas categorias de poder na obra Os Anormais (1974 - 1975) Discorrer sobre o poder em Foucault envolve lidar, primeira- mente, com as diferentes categorias de poder que se entrelaçam e que operam simultaneamente. Nesse sentido, é para o poder tratado como relações de poder que se voltam os olhares. Em linhas gerais, essas relações de poder são caracterizadas como “modos de ação complexos sobre a ação dos outros” (REVEL, 2011, p. 121). Nas palavras de Foucault: [...] as relações de poder existem entre um homem e uma mulher, entre aquele que sabe e aquele que não sabe, entre os pais e as crianças na família. Na sociedade, há milhares e milhares de rela- ções de poder e, por conseguinte, relações de forças de pequenos enfrentamentos, microlutas, de algum modo. [...] as relações de poder são relações de força, enfrentamentos, portanto sempre reversíveis. Não há relações de poder que sejam completamente triunfantes e cuja dominação seja incontornável (2015, p. 226-227). Pelo caráter de reversibilidade das relações de poder, Foucault inventa esse conceito [relações de poder] mostrando que não há opressor nem oprimido, mas que há relações de subjeti- vação e assujeitamento que se estreitam ou se alargam. As rela- ções de poder, na medida em que sempre podem ser contornáveis, supõem que sejam estabelecidas entre sujeitos livres – excluindo, nesses casos, os casos de dominação que, por vezes, se estabe- lecem. Desse modo, ao tratar do poder como relação, Foucault o estudou como “um operador capaz de explicar como nos subje- tivamos imersos em suas redes” (VEIGA-NETO, 2016, p. 62). Por conta disso, Veiga-Neto (2016) descreve três categorias de poder derivadas da obra foucaultiana, sinalizando como podem ser carac- terizadas as relações de poder, quais sejam: o poder pastoral, soberano e disciplinar.
- 182. 181 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O Opoderpastoralfoiinstitucionalizadonaspráticascristãsmedie- vais, na qual o poder político era exercido por meio de um conjunto de princípios configurados sob a verticalidade, fazendo alusão ao modo como um pastor conduz suas ovelhas. Ou seja, o poder encontra seu lugar na relação estabelecida entre um pastor e o seu rebanho, do qual o rebanho depende e sem o qual se dispersa. Isso porque a função do pastor consiste em conhecer, orientar e governar cada vida de seu rebanho e, por conta disso, “ele é individualizante e detalhista” (VEIGA-NETO, 2016, p. 68). Contudo, como se trata de relações de força, o pastor também depende do rebanho e por causa dele encon- tra-se na condição de ter que sacrificar a própria vida. Segundo Castro (2017, p. 329), a Reforma protestante e a Contrarreforma católica conduziram a “uma reativação profunda das técnicas do poder pastoral”, sendo a confissão a mais expres- siva dessas técnicas, uma vez que envolve a “relação obrigatória de si para consigo” (FOUCAULT, 2012, p. 51) e possibilita ao pastor o julgamento e o posterior direcionamento da consciência do indivíduo. Desse modo, mediante a direção da consciência por meio da prática da confissão, o poder pastoral se faz presente na obra Os Anormais (1974 - 1975), uma vez que mostra de que modo “o corpo foi desqua- lificado e culpabilizado como carne, ou seja, como corpo atraves- sado pelo desejo libidinoso” (CASTRO, 2017, p. 102). Nesse caso, a confissão é mencionada na obra como um procedimento de poder em que se é obrigado a revelar, principalmente, nas questões que se referem à sexualidade. Como exemplo segue um trecho que integra um dos manuais de confissão lidos em aula em que a técnica do poder pastoral é apresentada como primeiro passo para a cura da mastur- bação e que contém elementos que remetem ao poder ubuesco: Os pais devem, portanto, vigiar, espiar, chegar pé ante pé, levantar cobertas, dormir do lado [do filho]; mas, descoberto o mal, têm de fazer o médico intervir imediatamente para curá-lo. Ora, essa cura só será verdadeira e efetiva se o doente aceitá-la e participar. O doente tem de reconhecer seu mal; tem de compreender as consequên- cias dele; tem de aceitar o tratamento. Em suma, tem de confessar (FOUCAULT, 2010, p. 218).
- 183. 182 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O Outra categoria de poder descrita por Veiga-Neto (2016) refe- re-se ao poder de soberania. Nesse caso, o poder político é exercido na relação do soberano com seus súditos. O soberano, diferente do pastor, não pretende ser salvacionista, nem piedoso nem mesmo individualizante. A relação de poder soberana é efetivada pela violência sobre os corpos dos seus súditos. Para mais, o discurso do rei tem o poder de vida e morte legitimados pelo seu direito de soberano. Isso porque essa categoria de poder diz respeito à visão jurídica do poder, em que o poder é considerado desde o ponto de vista da lei, servindo ao soberano para fins de justificar tanto a posição ocupada como a execução dos castigos aplicados. Isso porque “é a pedido do poder real, em seu proveito e para servir- -lhe de instrumento ou justificação que o edifício jurídico das nossas sociedades foi elaborado” (FOUCAULT, 2006, p. 180). Na obra Os Anormais (1974 - 1975) o poder soberano aparece descrito sob forma arbitrária e infame quando Foucault (2010) menciona o poder ubuesco como um procedimento inerente à soberania. Soma-se a isso a característica intrínseca do ubuesco de provocar o medo, oriundo do princípio do terror do qual se valia o soberano como forma de controlar os seus súditos. Nesse sentido, refere-se à inevitabilidade do poder que pode “precisamente funcionar com todo o seu rigor e na ponta extrema da racionali- dade violenta, mesmo quando está nas mãos de alguém efetiva- mente desqualificado” (FOUCAULT, 2010, p. 13). Como exemplos para a soberania infame e os soberanos desqualificados a fim de caracterizar o poder ubuesco, Foucault menciona os reis das tragé- dias shakespearianas, passando por Nero, imperador romano, chegando até ao: [...] homenzinho de mãos trêmulas que, no fundo de seu bunker, coroado por quarenta milhões de mortos, não pedia mais que duas coisas: que todo o resto fosse destruído acima dele e que lhe trouxessem, até arrebentar, doces de chocolate [...] (FOUCAULT, 2010, p. 13).
- 184. 183 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O De acordo com Veiga-Neto (2016, p. 67), a categoria do poder disciplinar apresenta-se como uma espécie de substituição ao poder pastoral e o poder de soberania, por conta de uma carência de ordem política que essas duas últimas categorias comportavam. Essa substituição, segundo o autor, deve ser pensada em sentido fraco e ser associada com a incorporação, ou talvez, o acoplamento do poder disciplinar nas categorias de poder soberano e pastoral. Para mais, o poder disciplinar, oriundo das operações escolares de individualização, busca a produção de corpos maleáveis e moldá- veis, ou a produção de “corpos dóceis” (VEIGA-NETO, 2016, p. 70). Ou seja, o poder disciplinar atua, por meio de técnicas disciplinares, ao nível do corpo e dos saberes resultando em formas particulares de se estar no mundo. Assim, a disciplina do ponto de vista do exer- cício do poder “tem por objeto os corpos e por objetivo sua norma- lização” (CASTRO, 2016, p. 110). É em relação a essa normalização dos corpos, por meio das técnicas de localização, de classificação e de intervenção/medicalização do anormal, considerado com um indivíduo a ser corrigido, que o poder disciplinar se mostra na obra Os Anormais (1974 - 1975). Segundo Castro (2016, p. 188), a obra Os Anormais (1974 - 1975) faz parte do primeiro grupo dos cursos de Foucault no qual o eixo do estudo consistia na história das disciplinas, em que “as sociedades modernas não são apenas sociedades de disciplinari- zação, mas também de normalização, dos indivíduos e das popu- lações” (idem). Além disso, em Foucault, a ideia de disciplina fica indeterminada se não se insiste no conceito de normalização, uma vez que “as instituições disciplinares (o exército, o hospital, a fábrica, a escola) são, com efeito, instâncias de normalização” (CASTRO, 2016, p. 331). Um exemplo disso pode ser o caso apresentado na última aula do curso, do qual Foucault (2010, p. 255) cita os relató- rios elaborados sobre o jovem Charles Jouy. De acordo com esses relatórios, há um apelo dos aldeões para a internação em hospício
- 185. 184 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O de Charles Jouy, incriminado de ter tentado violentar uma menina da aldeia em que vivia. Ainda, como a tal menina teria masturbado Jouy no mato em troca de moedas, tanto a família como os aldeões apelam aos psiquiatras para que também aconteça a internação dela em uma casa de correção até o período da maioridade. Nesse caso percebemos a ocorrência do recurso às instâncias de controle, passando pela família da menina, pela aldeia [moradores], pelo prefeito da aldeia e pelo médico, em função de disciplinarização para a normalização dos dois indivíduos envolvidos. Ao comentar sobre o sistema de “disciplina para a normali- zação” instaurado no século XVIII, Foucault (2010, p. 44) o entende como um poder que não é repressivo, mas produtivo. Ressalta ainda que não se trata de um poder conservador, referindo-se ao poder como algo que é inventivo, “um poder que detém em si os princípios de transformação e de inovação” (idem). Essa caracterís- tica de ser produtivo envolve pensar o poder como algo vantajoso para governar as próprias condutas, como, também, a conduta dos outros. Nessa perspectiva, o poder é entendido “não como algo ao qual devemos nos opor, mas que devemos compreender para envergar, dobrar, reconduzir”, conforme afirmam Bello e Sperrhake (2016, p. 416). É sobre essa visão positiva dos mecanismos do poder que Foucault pretendeu analisar no curso de 1974-1975 a normalização no domínio da sexualidade, conforme: Parece-me enfim que o século XVIII instituiu, com as disciplinas e a normalização, um tipo de poder que não é ligado ao desconhecimento, mas que, ao contrário, só pode funcionar graças à formação de um saber, que é para ele tanto um efeito quanto uma condição de exer- cício. Assim, é a essa concepção positiva dos mecanismos do poder e dos efeitos desse poder que procurarei me referir, analisando de que maneira, do século XVIII até o fim do século XIX, tentou se praticar a normalização no domínio da sexualidade (FOUCAULT, 2010, p. 45). Ainda sobre a obra Os Anormais (1974 - 1975), Veiga-Neto afirma que Foucault ao analisar a genealogia dos anormais, tecendo
- 186. 185 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O por meio da construção discursiva a emergência da noção de anor- malidade, mostra que no interior desse processo “se instituiu um conjunto de saberes e um correlato poder de normalização” (VEIGA- NETO, 2016, p. 74). Por conjunto de saberes entendemos os saberes científicos que emergiram com as “novas ciências humanas, como a psiquiatria e a criminologia” (DREYFUS; RABINOW, 1995, p. 213). Tais ciências, então, tinham como objetivo a expansão da normali- zação do indivíduo considerado delinquente, funcionando a partir da noção de anormalidade atribuída a esse indivíduo, o qual deveria ser tratado e, consequentemente, reformado. Por conta disso, Veiga-Neto (2016, p. 74) elenca alguns desdobramentos que ocorreram com a institucionalização desses saberes correspondentes ao poder de normalização que são: a psiquiatrização e a psicologia da infância, a formação da família nuclear, bem como a invenção da delinquência. Em relação ao que é considerado norma, Veiga-Neto (idem) sustenta que é ela [a norma] que articula os mecanismos disciplinares que atuam sobre o corpo com os mecanismos regulamentadores que atuam sobre a população. A norma também diz respeito ao elemento que permite a comparação entre os indivíduos, uma vez que ela individualiza ao mesmo tempo que remete ao conjunto de indivíduos. Leia-se: Nesse processo de individualizar e, ao mesmo tempo, remeter ao conjunto, dão-se as comparações horizontais – entre os elementos individuais – e verticais – entre cada elemento e conjunto. E, ao fazer isso, chama-se de anormal aqueles cuja diferença em relação à maioria se convencionou por excessivo, insuportável. Tal diferença passa a ser considerada um desvio, isso é, algo indesejável porque desvia, tira do rumo, leva à perdição (VEIGA-NETO, 2016, p. 74-75). Do exposto, podemos aferir que acontece um apelo ao poder ubuescoemcadaumadascategoriasdepodercaracterizadasacima. Esse apelo pode ser percebido por meio dos discursos contendo descrições que se apoiavam na categoria do poder ubuesco buscando nessa “engrenagem inerente ao mecanismo de poder” um
- 187. 186 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O fortalecimento de seus efeitos. Além disso, nas aulas do curso que constituiu a obra Os Anormais (1974 - 1975), Foucault (2010) operou com o poder ubuesco buscando nas descrições presentes em escritos diversos um certo tipo de mecanismo que, além de validar a categoria de poder que ora se apresentava [ainda que não fossem nomeadas diretamente], servia para potencializar os seus efeitos. Desse modo, o poder ubuesco pode ser descrito como um meca- nismo de poder que diagonaliza as demais categorias, sendo utili- zado sempre que se quer maximizar os efeitos de poder. Por ora, algumas considerações A partir da tarefa realizada na qual revisitamos as onze aulas que integram a obra Os Anormais (1974 - 1975) é possível inferir que a categoria do poder ubuesco diagonaliza as demais categorias de poder, possibilitando o fortalecimento dos efeitos tanto do poder disciplinar como dos poderes pastoral e soberano. Relembrando que essa categoria é considerada um mecanismo inerente nas engrenagens do poder. De resto, o estudo realizado não esgota as possibilidades de pensar o poder ubuesco na dinâmica que envolve as relações de poder no campo da Educação Ambiental. Da mesma maneira, entendemos que esse conceito se constitui como ferramenta de análise histórico-política para a pesquisa em andamento. Pois, de acordo com o que foi pesquisado, podemos afirmar que o referido conceito, compreendido como integrante de um discurso, faz parte da rede discursiva da Educação Ambiental. Nesse sentido, o que se está mapeando é um tipo de poder que constitui a rede discursiva da Educação Ambiental e que cria condições de possibilidade para potencializar o discurso da mencionada educação. Entendemos que esse discurso maximiza a Educação Ambiental por conta de seu
- 188. 187 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O caráter ubuesco. Desse modo, a pesquisa acerca do poder ubuesco e seus possíveis efeitos sobre a Educação Ambiental prossegue. Referências BELLO, Samuel E. L.; SPERRHAKE, Renata. Educação e risco social na curricularização do saber estatístico no Brasil. Revista Acta Scientiarum Education. Maringá, v. 38, n 4, p. 415-424, out-dez. 2016. Disponível em:< http://periodicos. uem.br/ojs/index.php/ActaSciEduc/article/view/27882> Acesso em 17/08/18. CASTRO, Edgardo. Vocabulário de Foucault: um percurso pelos seus temas, conceitos e autores. Tradução de Ingrid Müller Xavier. Revisão técnica de Alfredo Veiga-Neto e Omar Kohan. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2016. CASTRO, Edgardo. Introdução a Foucault. Tradução de Beatriz de Almeida Magalhães. 1 ed. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2017. DREYFUS, Hubert L.; RABINOW, Paul. Michel Foucault, uma trajetória filosófica: para além do estruturalismo e da hermenêutica. Tradução de Vera Porto Carrero. 1. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1995. FOUCAULT, Michel. A Filosofia Analítica da Política (1978). In: FOUCAULT, Michel. Ditos e Escritos V: Ética, Sexualidade, Política. Tradução de Elisa Monteiro e Inês Autran Dourado Barbosa. Organização, seleção de textos e revisão técnica de Manuel Barros da Motta. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2017, p. 36-54. FOUCAULT, Michel. Verdade, Poder e Si mesmo (1982). In: FOUCAULT, Michel. Ditos e Escritos V: Ética, Sexualidade, Política. Tradução de Elisa Monteiro e Inês Autran Dourado Barbosa. Organização, seleção de textos e revisão técnica de Manuel Barros da Motta. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2017, p. 287-293. FOUCAULT, Michel. Poder e Saber (1977). In: FOUCAULT, Michel. Ditos e Escritos IV: Estratégia, Poder-saber. Tradução de Vera Avellar Ribeiro. Organização, seleção de textos e revisão técnica de Manuel Barros da Motta. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2015, p. 218-235. FOUCAULT, Michel. A Filosofia Analítica da Política. In: FOUCAULT, Michel. Ditos e Escritos V: Ética, Sexualidade, Política. Tradução de Elisa Monteiro
- 189. 188 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O e Inês Autran Dourado Barbosa. Organização, seleção de textos e revisão técnica de Manuel Barros da Motta. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2012, p. 36-54. FOUCAULT, Michel. Os Anormais (1974-1975). Tradução de Eduardo Brandão. 2. ed. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2010. FOUCAULT, Michel. Microfísica do Poder. Tradução e organização de Roberto Machado. 22. ed. Rio de Janeiro: Edições Graal, 2006. JARRY, Alfred. Ubu-Rei. Tradução de José Rubens Siqueira. 1. ed. São Paulo: Editora Max Limonad, 1986. LEME, José L. C. O poder ubuesco e o meio riso. In: RESENDE, Haroldo (Org.). Michel Foucault: o ronco surdo da batalha. 1. ed. São Paulo: Intermeios; Brasília: Capes/Cnpq, 2018, p. 177-185. REVEL, Judith. Michel Foucault: conceitos essenciais. Tradução de Carlos Piovezani Filho e Nilton Milanez. 1. ed. São Carlos: Editora Claraluz, 2011. VEIGA-NETO, Alfredo. Foucault e a Educação. 3. ed. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2016.
- 190. CAPÍTULO 9 CARTOGRAFANDO OS SENTIDOS DO TEMPO NA PEDAGOGIA DA ALTERNÂNCIA Cíntia Melo Silva Suelen Assunção Santos 9 Cartografando ossentidosdotempo naPedagogia daAlternância CíntiaMeloSilva SuelenAssunçãoSantos DOI: 10.31560/pimentacultural/2019.515.189-212
- 191. 190 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O Entre tempos históricos Muitossãoosconhecimentosteóricosarespeitodosconceitos de Tempo, Educação do Campo e Pedagogia da Alternância. Historicamente, a Educação do/no Campo1 é uma conquista dos movimentos sociais, enquanto educação como meio de produção de vida. Pensar a Alternância no curso de Licenciatura em Educação do Campo: Ciências da Natureza na Universidade Federal do Rio Grande do Sul - Campus Litoral Norte (UFRGS/CLN) nos lança para alguns anos atrás. É preciso uma digressão para conhecer a traje- tória dessa pedagogia e para que possamos compreender como esta pedagogia chega ao referido curso. Portanto, nos propomos a mostrar alguns acontecimentos que nos ajudam a rabiscar uma breve linha do tempo até os dias atuais. Começamos lá em 1935, na França, com um grupo de camponeses que, insatisfeitos com o sistema de educação do país, uniram-se e lutaram por educação que fizesse sentido, que dialo- gasse com a realidade de vida dos jovens camponeses. As Escolas Familiares Agrícolas (EFAs), organizadas pelas famílias de campo- neses, construíam educação com identidade familiar de trabalho no campo e de movimento social. Essas escolas tornaram-se um meio de luta e resistência dos povos do campo2 em busca de uma educação voltada à realidade dos sujeitos do campo. A Pedagogia da Alternância atravessou o Oceano Atlântico e chegou ao Brasil na bagagem do então seminarista Italiano Humberto Pietrogrande, que desembarcou em Salvador pela primeira vez 1.De acordo com Caldart (2002, p. 26): “[...] No: o povo do campo tem direito a educação no lugar onde vive; Do: o povo tem direito a uma educação pensada desde o seu lugar e com sua participação.”. 2. DECRETO Nº 7.352, DE 4 DE NOVEMBRO DE 2012. Artº 1º § 1º I - Para os efeitos deste Decreto, entende-se por: I - populações do campo: os agricultores familiares, os extrativistas, os pescadores artesanais, os ribeirinhos, os assentados e acampados da reforma agrária, os trabalhadores assalariados rurais, os quilombolas, os caiçaras, os povos da floresta, os caboclos e outros que produzam suas condições materiais de existência a partir do trabalho no meio rural.
- 192. 191 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O no ano de 1962. Residiu alguns anos no Rio Grande do Sul, onde concluiu o seminário e foi ordenado em 1964. Tornou-se Padre e com ele o sentimento de permanecer no Brasil e desenvolver um trabalho missionário e educacional. Em 1965 o padre foi para o Sul do Espírito Santo, onde assumiu a direção de uma escola, em uma região colonizada por imigrantes italianos. Nessa experiência educacional, ele passou a perceber que alguns jovens se envergo- nhavam em dizer suas origens camponesas, negavam suas condi- ções de vida no campo e sonhavam em viver uma vida na cidade. Em 1966, o religioso voltou para Itália para completar sua formação em Teologia, mas com o pensamento no problema do êxodo rural e naqueles jovens que negavam suas origens. Assim, teve contato com o professor Bruno Brunello, diretor da unidade Escola Família Agrícola Castelfranco, na cidade de Veneto. Segundo Pietrogrande, durante a visita ele sentiu que deveria levar a experiência para o Brasil. (MATOSSO, 2010 p. 67). Vislumbrou na Pedagogia da Alternância a metodologia para aproximar o jovem de suas origens e construir nestes jovens identidades que acabassem com o preconceito de ser um sujeito do campo. Pietrogrande, ao retornar ao Brasil, deu inicio a organização para implantar as EFAs (Escolas Família Agrícola) no Espírito Santo, criando o Mepes (Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo). Como forma de intercâmbio, o padre levou quatro jovens estudantes para Itália, a fim de que conhecessem a escola agrí- cola e a Pedagogia da Alternância. Esses jovens formaram-se na Itália e retornaram ao Brasil em 1968, acompanhados de profes- sores italianos que ajudaram e avaliaram os trabalhos nas escolas no interior do Espírito Santo. Durante a formação dos jovens na Itália o padre Pietrogrande mobilizou “comunidades, com a criação de comitês, a realização de eventos para levantar fundos e a elabo- ração de um plano para uma ação de promoção humana e social” (Matosso, 2010, p.68) Com a chegada dos jovens e dos professores
- 193. 192 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O iniciou-se os trabalhos nas primeiras Escolas Famílias Agrícolas no Brasil e foi possível ver resultados nas comunidades onde as escolas foram estabelecidas. Aí se vão mais de 50 anos que a Pedagogia da Alternância é adotada por algumas escolas do campo e também, nos cursos de Licenciatura em Educação do Campo por todo o Brasil. As primeiras experiências de Licenciatura em Educação do Campo iniciaram em 2007, com quatro universidades que realizaram expe- riências pilotos, são elas: Universidade Federal de Brasília (UNB), Universidade Federal da Bahia (UFBA), Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Universidade Federal de Sergipe (UFS). Desde então, outras universidades em 2008 e 2009 aderiram a editais específicos e iniciaram seus processos formativos vincu- lados as Licenciaturas em Educação do Campo. No ano de 2012 o processo de expansão de tais cursos atingiu seu ápice, tendo o comprometimento de mais quarenta e três universidades na oferta deste curso. (DUARTE; FARIA, 2017, p. 82-83) A UFRGS concorreu ao Edital 02/2012 SECADI/SESU/ SETEC – MEC com o compromisso de ofertar 120 vagas por ano, por pelo menos três anos. Assumiu também o compromisso de tornar o curso permanente na instituição. Em 2014 iniciaram as duas primeiras turmas de Licenciatura em Educação do Campo: Ciências da Natureza na instituição, uma em Porto Alegre e a outra no Campus Litoral Norte. O curso na UFRGS foi pensando de forma a respeitar as especificidades da Educação do Campo, o currículo é organizado de forma interdisciplinar. O curso é organizado em oito etapas (08 semestres) e adota, conforme requisito do edital, a Pedagogia da Alternância como regime que regula o calendário letivo. As etapas foram metodologicamente divididas e pensadas por eixos temáticos e temas geradores, sendo que cada Eixo Temático contemplava duas etapas (02 semestres). Dessa forma os componentes curriculares e as atividades dos Tempos Comunidade são pensados em torno das discussões sobre o Eixo e Tema Gerador correspondente a etapa.
- 194. 193 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O A habilitação por área do conhecimento, nesse caso, em Ciências da Natureza, metodologicamente, vem sendo ampla- mente discutida no meio acadêmico. “Organizar a docência por área significa, voltando a um dos motivos originários da proposta da Licenciatura em Educação do Campo, prever a possibilidade de não ter na escola um professor para cada disciplina, mas sim uma equipe docente”. (CALDART, 2011, p.148) O egresso ao concluir todas as etapas da Licenciatura em Educação do Campo terá uma perspectiva de atuação abrangente no que tange ao ensino interdisciplinar em Ciências da Natureza. O curso com formação interdisciplinar tem como intencionalidade preparar o educador para ter um planejamento compartilhado no que se refere ao conhecimento e ao coletivo de trabalho, principalmente para atuar em escolas do campo ou em escolas urbanas com população do campo, no ensino de ciências para as séries finais do ensino funda- mental, e para o ensino de física, química e biologia para o ensino médio; além de poder atuar na execução de trabalhos de pesquisa e extensão no meio rural, podendo assim, assumir um importante papel no desenvolvimento sustentável do campo. Entre (meios) e métodos Encontrar é achar, é capturar, é roubar, mas não há método para achar, só uma longa preparação. Roubar é o contrário de plagiar, copiar, imitar ou fazer como. A captura é sempre uma dupla-captura, o roubo, um duplo-roubo, e é isto o que faz não algo de mútuo, mas um bloco assimétrico, uma evolução a-paralela, núpcias sempre “fora” e “entre”.1 É preciso se deixar afetar pelos descontínuos movimentos e sucessivos encontros da pesquisa que são movediços. Os excertos capturados em alguns documentos, que falaremos daqui alguns 1.Deleuze, G; Parnet, C. Diálogos. São Paulo: Escuta. 1998.
- 195. 194 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O instantes, determinaram o vai-e-vem da pesquisa que “pode-se apenas marcar caminhos e movimentos, com coeficientes de sorte e de perigo”. (DELEUZE, 2008, p.48) Cartografar os sentidos do tempo nas concepções da Pedagogia da Alternância na Educação do Campo é, pois, construir um mapa, composto por diferentes linhas [...] “conectável, desmontável, reversível, suscetível de receber modificações constantemente”. (DELEUZE; GUATTARI, 2000, p.21). Embora a cartografia tenha seu sentido na geografia - que é o de produzir e estudar mapa -, queremos mostrar que essa pesquisa e esse método: trata-se da vida, da subjetividade, de algo que é ao mesmo tempo singular e coletivo, que se faz entre o que é mais íntimo e aquilo que está fora, algo que está sempre em movimento, que nunca é exata- mente uma coisa porque está sempre entre. (COSTA, 2014, p. 67) A cartografia não é um método estanque, parado, estag- nado. Exige movimento do pesquisador, exige contornar as curvas voluptuosas e estar sensível às modificações que um território de pesquisa possa ter. O cartógrafo usa o corpo para dar corpo aos contornos que os movimentos da pesquisa proporcionaram. Na pesquisa, foi preciso criar/inventar uma sistematização do diverso, o que possibilitou uma organização na leitura e assim, contribuiu para a emergência das densidades de sentido dessa pesquisa. Analisamos o que permeia, o que está entre o discurso da Pedagogia da Alternância – no que se refere à concepção de tempo – e, para isso, fizemos uma análise documental, mas “não será o sentido último ou interior que procurarei evidenciar nos escritos”, (SANTOS, 2009, p. 50) procuramos olhar para os documentos em forma de monumentos. Essa pesquisa: [...]não trata o discurso como documento, como signo de outra coisa, como elemento que deveria ser transparente, mas cuja opaci- dade importuna é preciso atravessar frequentemente para reencon- trar, enfim, aí onde se mantém à parte, a profundidade do essencial; ela se dirige ao discurso em seu volume próprio, na qualidade de monumento. (FOUCAULT, 2008, p. 157)
- 196. 195 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O Consideramos como material empírico de pesquisa, docu- mentos que versam no âmbito nacional e regional sobre Educação do Campo. Esses documentos foram escolhidos por regimentar a Educação do Campo contemporaneamente, mais especificamente, são regimentos que fazem parte do período histórico do século XXI. MARCOS NORMATIVOS PARA EDUCAÇÃO DO CAMPO; PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE GRADUAÇÃO LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO DO CAMPO: CIÊNCIAS DA NATUREZA, UFRGS CAMPUS LITORAL E PORTO ALEGRE, 2013. “O viés pós-estruturalista contribuíra, enquanto perspectiva teórica, visto que problematiza a fixidez dos significados, possibili- tando transformá-los em fluidos e incertos”. (SANTOS, 2015,p.52). A perspectiva destacada possibilita pensar as possíveis fissuras que a Pedagogia da Alternância vem causando como metodologia de ensino, onde (re)combina tempos e espaços outros de ensino, como num vai-e-vem que estabelece “rede complexas de relações” (GIMONET, 2007, p. 81). A perspectiva pós-estruturalista também contribui para esta pesquisa, pois visa problematizar as concep- ções de tempo contidas no discurso da Pedagogia da Alternância, enquanto verdades construídas historicamente. Procuramos compreender as intencionalidades e as potên- cias que a Pedagogia da Alternância, aliada a tempos e espaços distintos, nos apresentam. Para esse trabalho, olhamos, inicial- mente, os Marcos Normativos que regem a educação básica e os cursos de ensino superiores em Educação do Campo no Brasil até chegarmos ao Curso Licenciatura em Educação do Campo: Ciências da Natureza na UFRGS/ CLN.
- 197. 196 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O Iniciamos a busca nos documentos por excertos que conti- vessem as palavras: Alternância e Tempo. Após localizar as palavras, destacamos as palavras-chave da pesquisa, analisamos as ideias centrais trazidas em cada excerto. No instante seguinte, conside- ramos os excertos com as palavras garimpadas e recortamos um a um. Prosseguimos, mais uma vez, com a leitura a fim de coletar as recorrências nos discursos e separá-los por densidades de sentido. Destacamos duas densidades de sentido para a concepção de “tempo” e “alternância” que emergiram do material de análise, as quais intitulamos: i) Entre Tempos e Espaços e ii) Entre Ensino – Tempo - Aprendizagem. Nesse diagrama de excertos, as recor- rências destacadas apontam para um modelo de ensino que, ao alternar espaços, lugares e territórios em um determinado tempo de curso, criam-se possibilidades múltiplas de/para aprendizagens. i) Entre Tempos e Espaços Inventar solução não significa ir contra a corrente, mas encontrar entretempos em meio à corrente1 . Ao mapear as concepções de tempo no discurso da Pedagogia da Alternância, através da sua proposta de ensino em Tempo Comunidade e Universidade. Percebemos que através de movimentos que intercalam tempos e espaços distintos, a Pedagogia da Alternância tem como intencionalidade proporcionar ao estudante aprendizagens múltiplas. Assim, pretende-se potente para (re)significações de signos em outros espaços formativos que não somente os escolares. O Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Educação do Campo: Ciências da Natureza/UFRGS, voltado para a formação 1. SANTOS, 2015, p. 87
- 198. 197 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O docente do/no campo segue a normativa e a sugestão do parecer, propondo a adoção da Alternância Integrativa real ou copulativa. Seguem excertos: Pedagogia da Alternância na concepção de alternância formativa, isto é, alternância integrativa real ou copulativa, de forma a permitir a formação integral do educando, inclusive para prosseguimento de estudos, e contribuir positivamente para o desenvolvimento rural integrado e autossustentável, particularmente naquelas regiões/ localidades em que prevalece a agricultura familiar. [Grifos Nossos] FONTE: Brasil (2012) O currículo da licenciatura, ao considerar a dinâmica da realidade do campo, afirma que a escola não é o único espaço educativo dessa realidade, e problematiza outros processos educativos que ocorrem na experiência de vida desses sujeitos, sobre as formas e manifestações de subjetivação aí existentes. Ao organizar meto- dologicamente o currículo por alternância entre Tempo/Espaço Escola-Curso e Tempo/Espaço Comunidade-Escola do Campo, a proposta curricular do curso integra e interdisciplinariza a atuação dos sujeitos educandos na construção do conhecimento necessário à sua formação enquanto educadores, não apenas nos espaços formativos escolares, mas também nos diversos espaços das comu- nidades onde estão localizadas as escolas de ensino fundamental do campo. [Grifos Nossos] FONTE: UFRGS (2013) Inferindo dos excertos e para esta pesquisa, a Pedagogia da Alternância Integrativa real ou copulativa, por considerar tempo de aprendizagem em espaços não escolares e com objetivo de contri- buir para o desenvolvimento sustentável do campo assinala ser a mais indicada para educação do/no campo. Legitimada por movi- mentos sociais do campo, a Pedagogia da Alternância é potência para formação docente, assim, [...] pode-se dizer que a Pedagogia da Alternância prevê uma opor- tunidade formativa que leva em conta outros espaços educativos, ou seja, considera que a aprendizagem ocorre além dos muros esco- lares e tem como um de seus objetivos romper a cisão teoria-prática. Em linhas gerais, ela permite um processo de alternação entre os espaços educacionais formais e não formais, a partir do qual se cria a possibilidade de pensar outros formatos para o processo formativo do professor. (DUARTE; FARIA, 2017, p 84)
- 199. 198 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O A Licenciatura em Educação do Campo: Ciências da Natureza/UFRGS tem como intencionalidade ofertar educação “do campo”, tendo como pressupostos considerar os saberes do campo e as especificidades em relação ao trabalho dos sujeitos no campo que, geralmente, é um trabalho executado por todo o grupo familiar. Essas especificidades vêm de uma ordem cronológica de ensino e de trabalho diferente da ordem urbana. O atendimento educacional dos povos do campo não se fará pela transposição de modelos instituídos a partir da dinâmica social e espacial urbana. Esta constatação, aliada à compreensão da grande diversidade de ambientes físicos e sociais de que se cons- titui o universo rural brasileiro, impõe importantes desafios que vão desde o reconhecimento de formas alternativas de organização de tempos e espaços escolares até a definição de estratégias espe- cíficas de formação de profissionais e de elaboração de material. [Grifos Nosso] FONTE: Brasil (2012) A proposta da Licenciatura em Educação do Campo não é somente levar o conhecimento acadêmico até os povos do campo, mas articular os diferentes saberes, proporcionando formação inte- gral aos sujeitos sem afastá-los de sua comunidade. Nesse sentido a LEdoC1 , inverte a lógica, rompendo com paradigmas ao oferecer uma formação docente para o campo e “no campo”. Na busca da formação integral dos sujeitos, a LEdoC adota a Pedagogia da Alternância, pois vê nela a potência para alcançar a formação de educadores aliada ao território de vida dos sujeitos que considere as especificidades do campo. Entende-se que: Através do território, é muito mais possível reconhecer e analisar as situações. A sociedade apenas existe, empiricamente, através dos pedaços do território em que se distribui. É através das regiões e dos lugares, que essa sociedade aparece como ela é, una e diver- sificada, de modo mais corpóreo e concreto, permitindo que nos apossemos, analiticamente, de seus traços dominantes. (SANTOS; SILVEIRA, 2000, p. 11) 1.LEdoC: Licenciatura em Educação do Campo
- 200. 199 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O A Pedagogia da Alternância é a condição de possibilidade da emergência de fissurar tempos e espaços de aprendizagem. É uma metodologia de ensino que intercala as etapas em Tempo Comunidade onde os estudantes realizam tarefas e pesquisas em suas comunidades e Tempo Universidade, períodos destinados a aula na universidade com a grade curricular organizada na lógica cronoló- gica. Assim encontrando brechas de possibilidades para estabelecer diálogo entre Universidade e Comunidades do campo, pois: O currículo está organizado metodologicamente na perspectiva da Pedagogia da Alternância que prevê Tempo Universidade e Tempo Comunidade, de modo a permitir o necessário diálogo entre saberes acadêmicos e saberes oriundos das tradições culturais e das expe- riências de vida dos alunos. Nesse contexto consideramos 60% da carga horária do curso vinculada ao Tempo Universidade e 40% da carga horária ao Tempo Comunidade, possibilitando articulações entre teoria e prática. FONTE: UFRGS (2013) NessadivisãodacargahoráriadocursoentreTempoComunidade e Tempo Universidade, observa-se a concepção do Tempo Chrónos, que é um tempo linear, cronológico, medido em horas, calendários, etc. É o fracionamento do tempo (carga horária) com movimentos que alternam de territórios, mas segundo Kohan1 , quando percebemos o movimento, o numeramos e a essa numeração orde- nada damos o nome de chrónos. O tempo é, nesta concepção, a soma do passado, presente e futuro, sendo o presente um limite entre o que já foi e não é mais (o passado) e que ainda não foi e, portanto, também não é mas será (o futuro). (2003) Nessa perspectiva, a Pedagogia da Alternância e a concepção de tempo chrónos nos remete a um modelo diferente entre espaço- tempo e ensino-aprendizagem na educação. Modelo de tempo que 1. Disponível em: http://www.educacaopublica.rj.gov.br/biblioteca/educacao/0184.html. Acesso em 20 de junho de 2018.
- 201. 200 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O podemos chamar de Tempo Territorializado, Tempo Lugarizado, ou melhor, Tempo Espacializado. “A compreensão tempo-espaço refe- re-se ao movimento e à comunicação através do espaço, à extensão geográfica das relações sociais e a nossa experiência de tudo isso”. (MASSEY, 2000 P.178, apud, SARAIVA, p. 95) Tempo Espacializado, por ter características espaciais e crono- lógicas, marcado por intercalar as etapas em períodos de Tempo Universidade e Tempo Comunidade. É uma proposta que alterna os espaços(academiaecomunidade)fracionandooTempoUniversidade em hora/aula e o Tempo comunidade em intervalo de tempo entre um TU e outro. O tempo na comunidade é legitimado com trabalhos e pesquisas interdisciplinares, com o objetivo de promover relações entre o estudante e a realidade da comunidade. Pode-se dizer que há uma polirritmia que marca o tempo comunidade, em que se tem pontos notáveis, instantes privilegiados de trabalho, “marcados pelas intensidades que se produzem no encontro com essa divisão irre- gular do tempo.” (DELEUZE, 2006, p.37) A organização das etapas tem em seu cronograma os perí- odos de aula, com a grade de horários e períodos de dias; já o Tempo Comunidade é o intervalo entre um Tempo Universidade e outro. O ritmo do Tempo Comunidade é movido pelas atividades que os estudantes precisam cumprir até o primeiro dia de Tempo Universidade, pois ao retornar para Universidade, o andamento ou os resultados do trabalho interdisciplinar são apresentados no Seminário Integrador. O Tempo Comunidade, conforme os documentos norte- adores do curso, é destinado para possibilitar atividades relacio- nadas à realidade que o estudante está inserido, propondo conexão
- 202. 201 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O com a academia e mantendo o estudante próximo a sua realidade do campo. Ainda, o estudante não percorre esse caminho sozinho, cada estudante tem um professor orientador que realiza visitas para orientação do trabalho interdisciplinar na comunidade que o estu- dante está inserido, geralmente, uma vez a cada período de Tempo Comunidade. A orientação acontece in lócus. A carga horária do Tempo Comunidade será integralizada nas ativi- dades planejadas pelos alunos e professores no Tempo Universidade as quais serão orientadas pelos professores que farão visitas in loco e acompanharão os trabalhos com o uso de ambientes virtuais de aprendizagem. Neste sentido o planejamento de cada semestre será feito pelo grupo de professores que atuará na etapa do curso de modo colaborativo e participativo. [Grifos nossos] FONTE: UFRGS (2013) Conforme mostra o excerto acima, constante do projeto pedagógico do curso de Licenciatura em Educação do Campo: Ciências da Natureza/UFRGS, exige-se integração no que se diz respeito ao planejamento das atividades. Bem como, “desenvolver estratégias de formação para a docência interdisciplinar em uma organização curricular por áreas do conhecimento nas escolas do campo e outros espaços educativos.” (UFRGS, 2013 p. 10) Podemos compreender que a proposta de ensino em alter- nância tem como possibilidade alternar os territórios em seu tempo espacializado e organizado cronologicamente. Com a fragmen- tação do tempo/espaço das etapas em TC e TU, a Pedagogia da Alternância nos mostra a concepção de um tempo território, seja esse acadêmico ou não. É um tempo espacializado, por promover organização de tempos e espaços diferentes de aprendizagem. Essa concepção de tempo espacializado é possibilidade de aprender em espaços e tempos diferentes dos espaços e tempos dos bancos e horas/aulas escolares. A Pedagogia da Alternância na Educação do/no Campo tem como diretriz proporcionar apren-
- 203. 202 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O dizados e ensinamentos em territórios distintos. Alternância do tempo está contida nas descontinuidades do espaço [territórios] de conhecimentos estabelecidos. O Tempo Comunidade é lugar de aprendizagem por meios de degustação de experiências e práticas desenvolvidas no campo e para o campo, aliado ao Tempo Universidade que, se mostra tempo/espaço da aprendizagem do conteúdo científico interdisciplinar, mas também é espaço de preparação para as atividades no Tempo Comunidade. O TU se mostra potente para estabelecer itinerários, conexões e interação nos diferentes espaços/tempos de ensino e aprendizagem, procu- rando articular sentido entre os saberes das comunidades e os saberes acadêmicos. ii) Entre Ensino –Tempo – Aprendizagem [...] não há tempo perdido no aprender, se formos capazes de reco- nhecer as diferenças. Atentos ao processo, mais do que ao produto, precisamos ter olhos para ver, para poder valorizar cada aconteci- mento singular. (GALLO, 2012, p.10) A proposta de articular e dar (re)significações as aprendiza- gens dos tempos Comunidade e Universidade nos parece o grande desafio da Pedagogia da Alternância. Ao longo dos anos, muitas concepções de educação foram se consolidando na arte de ensinar e aprender, sempre em busca de espaços escolares e tempos de aprendizagens para unificar uma educação para todos. A importância do diálogo entre os saberes, técnicos e cultu- rais, e aproximação do estudante com a comunidade, considerados nos documentos normativos e do curso, nos remetem ao aprender em movimento com captação de sinais, um aprender em contato. Aprender, segundo Deleuze:
- 204. 203 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O [...] diz respeito essencialmente aos signos. Os signos são objeto de um aprendizado temporal, não de um saber abstrato. Aprender é, de início, considerar uma matéria, um objeto, um ser, como se emitissem signos a serem decifrados, interpretados. Não existe aprendiz que não seja “egiptólogo” de alguma coisa. Alguém só se torna marceneiro tornando-se sensível aos signos da madeira, e médico tornando-se sensível aos signos da doença. A vocação é sempre uma predestinação com relação a signos. Tudo que nos ensina alguma coisa emite signos, todo ato de aprender é uma inter- pretação de signos ou de hieróglifos. (2003, p.4) Uma das intencionalidades da Pedagogia da Alternância, como já vimos, é proporcionar aos estudantes um aprender entre movimentos de espaço/tempo, com uma organização de educação contida em alternar espaços articulando o tempo linear, o tempo chrónos, tempo de ordem, cronometrado. Nesse sentido, a metodo- logia da Pedagogia da Alternância com e no movimento de alternar os espaços entre TC e TU espacializa o tempo, trazendo caracterís- ticas distintas para o espaço/tempo durante o tempo de curso. O Tempo Comunidade não será um apêndice das aulas no Tempo Universidade, e, sim, parte integrante e orgânica das disciplinas que se constituem na relação dialética entre teoria e prática, entre Tempo Comunidade e Tempo Universidade. Pretende-se ter um novo modo de “olhar” para os processos de ensino e aprendizagem; um olhar que amplie as possibilidades de construção de autonomia. [Grifos nossos] FONTE: UFRGS (2013) Assim como os conhecimentos não devem ser subordinados uns aos outros, também o TU e TC devem ter a mesma importância de sentido para os estudantes, organizados de formas diferentes, mas pensados de maneira que haja subsídios de aprendizado entre eles. Durante o Tempo Universidade, com períodos de 10 (dez) dias consecutivos, os estudantes participam de aulas com tendên- cias interdisciplinares. Ao final de cada TU, inicia-se o período de Tempo Comunidade, no qual os alunos retornam para as suas Comunidades. Nessa alternância de espaços e diferentes concep- ções de organização do tempo/aprendizagem, consideramos que
- 205. 204 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O é proposto ao estudante o diferente, um aprendizado que fissura o modo de aprender, mas sendo o aprender um acontecimento, ele demanda presença, demanda que o aprendiz nele se coloque por inteiro. E exige relação com o outro. Entrar em contato, em sintonia com os signos é relacio- nar-se, deixar-se afetar por eles, na mesma medida em que os afeta e produz outras afecções. (GALLO, 2012, p.06) A Pedagogia da Alternância suscita o encontro com os signos – muito mais do que a aposta no ensinar. A universidade e a comunidade como territórios de encontros, a fim de aprender/decifrar os signos. Quando Deleuze desloca a emissão dos signos, do ensinar, e aposta nos encontros, no aprender, não só movimenta nosso olhar do modelo educacional linear ensino/aprendizagem como também atenta para a relação dos signos com quem os interpreta. (NEUSCHARANK; OLIVEIRA, 2017, p.592) Essa interação entre os aprendizados concebidos entre Tempo Comunidade e Tempo Universidade propõe conexões e (re) significações em olhares diferentes, desta forma, fazendo com que o tempo na comunidade e o tempo na universidade, seja o tempo duração, tempo que reverbera em espaços outros de aprendizagens, e aprendizado que dura será evidenciado mediante aproximação das práticas propostas pelos trabalhos desenvolvidos durante o componente curricular, Seminário Integrador, que é, ou tenta ser, o norteador entre Tempo Comunidade e Tempo Universidade. Pois bem, quando pensamos no tempo, geralmente, pensamos em nossas emergências. Parece que estamos sempre correndo no ou do tempo. Quando falamos em tempos de apren- dizagem, nos vem à memória, os métodos de ensino e que para cada tipo de abordagem supomos ter um resultado especifico. Na Pedagogia da Alternância, ao tocante da aprendizagem, emergem, além das já citadas, outra concepção de tempo, diferente do tempo chrónos ou do tempo espacializado. Seria esse o tempo
- 206. 205 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O Aión que designa, já em seus usos mais antigos, a intensidade do tempo da vida humana, um destino, uma duração, uma tempo- ralidade não numerável nem sucessiva, intensiva”1 ? (LIDDELL; SCOTT, 1966, p. 45) A promoção de diálogo entre os saberes acadêmicos e populares tende a ser promovido com articulação entre Tempo Comunidade e Tempo Universidade e nos faz pensar no tempo que dura, no tempo não linear, um tempo que não é definido por uma ordem lógica. O acontecimento de articulação entre as aprendiza- gens entre os dois tempos distintos é promovido por meio de traba- lhos interdisciplinares, sempre proposto no Tempo Universidade durante as aulas do componente curricular, Seminários Integradores. Mas, Queiroz, em sua tese de doutorado, citado no parecer CNE/ CEB Nº 1, de 02 fevereiro de 2006, conclui que: Numa concepção de alternância formativa, não é suficiente a apro- ximação ou a ligação de dois lugares com suas lógicas diferentes e contraditórias, ou seja, a escola e o trabalho. É necessária uma sinergia, uma integração, uma interpenetração rompendo com a dicotomia teoria e prática, abstrato e concreto, saberes formalizados e habilidades (saber – fazer), formação e produção, trabalho intelec- tual e trabalho físico (manual). (2012, p. 42) Diante do exposto até aqui e a ideia de que o componente curricular Seminário Integrador tem “função” de ferramenta meto- dológica para a prática da Pedagogia da Alternância, nos debruça- remos agora sobre essas afirmações, visto que durante a pesquisa dos excertos, digitamos na busca a palavra “tempo”, e observamos a grande recorrência no PPC, especificamente, nas Súmulas dos Seminários Integradores. Cabe ressaltar que esse componente curricular é o único componente que está presente em todos os semestres do curso, e podemos perceber nessa recorrência uma das especificidades do curso. Para Deleuze (2006, p. 11) 1.Disponível em: http://www.educacaopublica.rj.gov.br/biblioteca/educacao/0184.html . Acesso em 15 de junho de 2018
- 207. 206 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O A repetição não é generalidade. De várias maneiras deve a repe- tição ser distinguida da generalidade. Toda fórmula que implique sua confusão é deplorável, como quando dizemos que duas coisas se assemelham como duas gotas d’água ou quando identificamos “só há ciência do geral” e “só há ciência do que se repete. Entre a repe- tição e a semelhança, mesmo extrema a diferença é da natureza. Ao lermos mais atentamente as súmulas do componente, o que pudemos inferir, em um primeiro momento é de que o compo- nente curricular Seminário Integrador, ferramenta metodológica da alternância, desempenha o papel de “articulador”, com intenção de aproximar as aprendizagens entre os TC e TU. Assim, prosseguimos com o recorte da 1ª e da 8ª súmula, para exemplificar o que encon- tramos. Seguem excertos Seminários Integradores 01: Súmula: Articulação entre os principais conceitos trabalhados ao longo das disciplinas em seus tempos universidade e comunidade tomando como ponto de partida o exercício e diagnóstico dos contextos educativos nos quais os alunos-professores atuam. Discussão sobre as TICs e apropriação dos ambientes virtuais de aprendizagem disponíveis para o desenvolvimento e acompanhamento das atividades nos tempos universidade e comunidade. [Grifos Nosso] FONTE: UFRGS (2013) Seminários Integradores 08: Súmula: Momentos de discussão e articulação entre os conceitos estudados e as práticas desenvolvidas ao longo da etapa considerando as atividades desenvolvidas nos tempos universidade e comunidade, com especial atenção ao estágio de docência. Relato e apresentação das experiências de estágio de docência. Apresentação dos Trabalhos de Conclusão de Curso. [Grifos Nosso] FONTE: UFRGS (2013) Em ambos os excertos das súmulas encontramos as seguintes palavras: Articulação; conceitos estudados; tempos universidade e comunidade; práticas desenvolvidas– essa última com exceção a primeira etapa.
- 208. 207 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O O Seminário Integrador rompe com a ordem linear e organi- zacional espacial de sala de aula. Quando retornávamos do TC, o Seminário Integrador, nas primeiras horas/aula, abria espaço para as Colocações em Comum1 . A dinâmica desse momento já propor- cionava o diferente, começando pela disposição das carteiras em sala de aula, onde sentávamos todos em um grande círculo. Era um momento em que todos os estudantes relatavam para os demais colegas e para os professores, as atividades desempenhadas durante o Tempo Comunidade. Era uma grande roda de conversas proporcionada após um período de atividades desenvolvidas no tempo comunidade, era tempo destinado ao compartilhamento de perspectivas e expectativas trazidas para o coletivo, era tempo de falareescutar.Osprofessores responsáveis porministrar oSeminário Integrador eram encarregados por anunciar as atividades do Tempo Comunidade e organizar a dinâmica de elaboração e avaliação dos resultados ao final de cada etapa, sempre em conjunto com os orientadores e mediante aprovação da COMGRAD. As aulas do Seminário Integrador, muitas vezes, rompiam a lógica do tempo aula. Esperávamos por conteúdos científicos, pois este tempo de colocações em comum dessa conversa coletiva do grupo, por vezes, parecia “perder tempo”, mas “qualquer relação, com pessoas ou com coisas, possui o potencial de mobilizar em nós um aprendizado, ainda que ele seja obscuro, isso é, algo de que não temos consciência durante o processo”. (Galo, 2012, p.03). O Seminário Integrador é o tempo, do tempo universidade, que promove o encontro com os signos, que deseja o perder tempo para aprender. Ao escutarmos as experiências vividas dos outros colegas, que por vezes, resultavam em verdadeiros desabafos e pedidos 1.Colocações em Comum: Momento destinado, geralmente, no primeiro dia de aula de cada TU, durante o Seminário Integrador, onde todos os estudantes contavam suas experiências e como estava o andamento do Trabalho Interdisciplinar da Etapa.
- 209. 208 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O de ajuda, aliados, ao mesmo tempo, com o peso da avaliação das atividades que desenvolvíamos durante o Tempo Comunidade, causavam pequenas transformações e (re)significações que se tornavam potência para aprender para além de nossa percepção enquanto estávamos envolvidos nesse processo de escutar o outro. Essa dinâmica do coletivo causava fissuras que não perce- bíamos instantaneamente, não nos dávamos conta de que, o que parecia “tempo perdido” era na verdade um aprender diferente do rotineiro, diferente do aprender disciplinar em espaço escolar, era momento de romper com os costumes disciplinares de sala de aula aos quais éramos acostumados: Sentar uns atrás dos outros em filas paralelas, com os olhos fixos no quadro negro e no professor. Os Seminários Integradores, pensando analogamente apenas para exemplificar, funcionam como a engrenagem de um relógio analógico, capaz de movimentar, de ditar o ritmo dos ponteiros. Estes por sua vez, são os Tempos Comunidade e Tempo Universidade, que estão sempre em movimento, intercalados entre tempos e espaços. “Daí a idéia fundamental de que o tempo forma diversas séries e comporta mais dimensões do que o espaço: o que é ganho em uma não é ganho na outra. (DELEUZE, 2003, p 25) Segundo linhas do tempo, verdadeiras linhas de aprendizado; mas, nessas linhas, eles interferem uns nos outros, reagem uns sobre os outros. Sem se corresponderem ou simbolizarem, sem se entrecru- zarem, sem entrarem e combinações complexas que constituem o sistema da verdade. (DELEUZE, 2003, p. 24) Essa constituição dos sistemas de verdades funciona como uma engrenagem articuladora dos signos nos processos de ensino e aprendizagem. “Contudo, há também uma duração, um ritmo de duração, uma maneira de ser no tempo, que se revela pelo menos em parte no processo”. (DELEUZE, 2003 p.22)
- 210. 209 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O Considerações Finais Procurou-se analisar o que permeia, o que está entre o discurso da Pedagogia da Alternância. Problematizamos de que forma a concepção de tempo vem se atualizando no discurso da Pedagogia da Alternância vinculado ao curso de Licenciatura em Educação Campo: Ciências da Natureza – UFRGS/ CLN. Analisamos os Marcos Normativos para Educação do Campo e o Projeto Político Pedagógico do Curso. Garimpamos nos documentos pistas nos excertos que contivessem as palavras: Alternância e Tempo, a fim de coletar as recorrências nos discursos e separá-los por densidades de sentido. Destacamos duas densi- dades de sentido para a concepção de “tempo” e “alternância”, as quais intitulamos: i) Entre Tempos e Espaços e ii) Entre Ensino – Tempo - Aprendizagem. Na primeira densidade de sentido “Entre Tempos e Espaços”, apontou-se que uma das potências na Pedagogia da Alternância, é proporcionar aos estudantes um aprender entre movimentos de espa- ço/tempo, com uma organização de educação contida em alternar espaços articulando o tempo linear, o tempo chrónos, tempo de ordem, cronometrado. Nesse sentido, a metodologia da Pedagogia da Alternância com e no movimento de alternar os espaços entre Tempo Comunidade e Tempo Universidade, assim espacializando o tempo. Colado ao discurso da Pedagogia da Alternância está a concepção de Tempo Espacializado, que articula aprendizagens em Tempos e Espaços escolares formais e não formais. Na segunda densidade de sentido, “Ensino-Tempo- Aprendizagem”, o Seminário Integrador, emerge como uma ferra- menta metodológica que articula os tempos e espaços distintos de aprendizagens, promovendo diálogo entre os saberes acadêmicos
- 211. 210 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O e populares por meio de movimentos entre o Tempo Comunidade e Tempo Universidade. Esta densidade de sentido nos faz pensar no tempo que dura, no tempo não linear, um tempo que não é defi- nido por uma ordem lógica. É o acontecimento de aprender pelos signos, que é potente nas conexões e (re)significações. Colando a concepção de tempo Aión, tempo duração, tempo aprendizado que reverbera. Diferente do tempo chrónos ou do tempo espacializado. As Densidades de sentido se mostraram potentes no que diz respeito às concepções de tempos e aprendizagens. Apontaram para um modelo de ensino que, ao alternar espaços, lugares e terri- tórios, valorizando os conhecimentos populares aliados aos conhe- cimentos científicos ou vice-versa, criam-se possibilidades múltiplas de/para aprendizagens, além de concepções diferentes do tempo entre ensino e aprendizagens. Não buscamos impor “verdades” sobre a problemática, ou solu- cionar problemas. Apenas nos propomos a pensar sobre e compre- ender as potentes relações entre Tempo e Pedagogia da Alternância. Referências BRASIL, MINISTÉRIO DA EDCAÇÃO, Educação do Campo: Marcos Normativos. SECADI - Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão: Brasília, 2012. CALDART, Roseli Salete. Por uma Educação do Campo: traços de uma identidade em construção. In: Por uma educação básica no campo: Identidade e políticas públicas. V. 4. Brasília, 2002, p.25-36. CALDART, Salete Roseli. Licenciatura em Educação do Campo e projeto Formativo: Qual o lugar da docência por área? In CALDART, Salete Roseli (org.) Caminhos para Transformação da Escola: Reflexões desde práticas da licenciatura em Educação do Campo. São Paulo: Expressão Popular, 2011.
- 212. 211 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O COSTA, Luciano Bedin da. Cartografia: Uma outra forma de pesquisar. Revista digital do LAV. Santa Maria, UFSM. Vol. 7, n. 2 (maio./ago. 2014), p. 65-76. FOUCAULT, Michel; A Arqueologia do Saber; 7ª ed. - Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2008. DELEUZE, Gilles. Proust e os Signos. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2003. DELEUZE, Gilles. Conversações. Rio de Janeiro: Editora 34, 2008. DELEUZE, Gilles. Diferença e repetição. Rio de Janeiro: Graal, 2006. DELEUZE, G; Parnet, C. Diálogos. São Paulo: Escuta, 1998. DELEUZE, Gilles. GUATTARI, F. Mil Platôs. São Paulo: Editora 34, 2000 v. 1. DUARTE, Cláudia Glavam; FARIA, Juliano Espezin. S. Educação do campo e educação matemática: possíveis entrelaçamentos. Revista Reflexão e Ação, Sant a Cruz do Sul, v. 25, n. 1, p. 80 – 98, 2017. Disponível em: http://online.unisc.br/seer/index.php/reflex/index. Acesso em: 22 de maio/2018. GALLO, Silvio; as múltiplas dimensões do aprender...; Congresso de Educação Básica: Aprendizagem e Currículo: Florianópolis, 2012. Disponível em: http://www.pmf.sc.gov.br/arquivos/arquivos/ pdf/13_02_2012_10.54.50.a0ac3b8a140676ef8ae0dbf32e662762.pdf; Acesso em: 20 de maio de 2018. GIMONET, Jean Claude; Praticar e compreender a Pedagogia da Alternância dos CEFFAS.Rio de Janeiro: Vozes, 2007. KOHAN, Walter Omar. Infância. Entre educação e filosofia. Belo Horizonte, MG: Autêntica, 2003. LIDDELL, Henry, SCOTT, Robert. A Greek English Lexicon. Oxford: Clarendon Press, 1966. MATTOSO, Guilherme. Pedagogia da Alternância: do sonho à prática de uma nova educação rural. Revista Marco Social. Rio de Janeiro. Instituto Souza Cruz, n. 01, p. 64-73, jul. 2010. NEUSCHARANK, Angélica; OLIVEIRA, Marilda Oliveira de. Encontros com signos: possibilidades para pensar a aprendizagem no contexto da educação | Santa Maria | v. 42 | n. 3 | p. 585-596 | set./dez. 2017 QUEIROZ, João Batista Pereira. Construção das Escolas Famílias Agrícolas no Brasil: ensino médio e educação profissional. Brasília. Tese Doutorado em Educação. – Universidade de Brasília: Brasília, 2004.
- 213. 212 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O SANTOS, M.; SILVEIRA, M. L. O ensino superior público e particular e o território brasileiro. Brasília: ABMES, 2000. SANTOS, Suelen Assunção. Experiências narradas no ciberespaço: um olhar para as formas de se pensar e ser professora que ensina matemática. Dissertação em Educação - Universidade Federal do Rio Grande do Sul: Porto Alegre, 2009. SANTOS, Suelen Assunção. Docen ci/ç ação: Do Dual ao Duplo da Docência em Matemática. Tese Doutorado em Educação – Universidade Federal do Rio Grande do Sul: Porto Alegre, 2015. SARAIVA, Karla. Outros Tempo, outros espaço: Internet e Educação. Tese Doutorado em Educação – Universidade Federal do Rio Grande do Sul: Porto Alegre, 2006. UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL. Faculdade de Educação. Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Educação do Campo do Campus Litoral Norte. Porto Alegre: UFRGS, 2013.
- 214. 213 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O SOBRE OS AUTORES E AS AUTORAS Alice Stephanie Tapia Sartori Licenciada em Matemática pela Universidade Federal de Santa Catarina (2012). Mestre em Educação Científica e Tecnológica pelo Programa de Pós-Graduação em Educação Científica e Tecnológica da Universidade Federal de Santa Catarina (2015) e doutora pelo mesmo Programa (2019). E-mail: alice.stephanie.ts@gmail.com Claudia Glavam Duarte Doutora em Educação. Professora associada da Universidade Federal do Rio Grande do Sul- Campus Litoral Norte. Vinculada ao Programas de Pós-Graduação: Educação em Ciências: Química da vida e saúde – UFRGS e Educação Científica e Tecnológica – UFSC. Atua na linha de pesquisa Educação Científica: Implicações das práticas científicas na constituição dos sujeitos, vinculada ao campo da Educação Matemática e Educação do campo nas suas vertentes pós-estruturalistas, tendo como ferramentas as teorizações de Michel Foucault, Gilles Deleuze, Ludwig Wittgenstein. Tem experi- ência na área de Educação atuando principalmente nos seguintes temas: Educação Matemática, Etnomatemática, Diversidade e Educação do Campo. Coordenadora do GEEMCo. E-mail: claudiaglavam@hotmail.com Cíntia Melo Silva Mestranda em Educação em Ciências: Química da Vida e Saúde - UFRGS. Licenciada em Educação do Campo: Ciências da Natureza pela mesma instituição. E-mail: cinthiameloo@hotmail.com Graciela Bernardi Horn Licenciada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul/UFRGS (2003). Mestre em Ecologia pelo Programa
- 215. 214 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O de Pós-Graduação em Ecologia/UFRGS (2005). Especialista em Psicopedagogia pela Universidade Luterana do Brasil/ULBRA (2014). Doutoranda em Educação em Ciências pelo Programa de Pós-Graduação Educação em Ciências/UFRGS. E-mail: gracihorn@gmail.com Guilherme Franklin Lauxen Neto Especialista em Educação Matemática/ UNISINOS. Licenciado em Matemática pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos em regime de dupla diplomação com a Universidade de Coimbra - Portugal. Professor de Ensino Médio no Colégio Marista Pio XII-Novo Hamburgo, e no Colégio Adventista de Esteio. E-mail: lauxeng@gmail.com Isabel Cristina Dalmoro Doutoranda e Mestra (2019) em Educação em Ciências pelo Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (PPGEC/UFRGS). Especialista em Educação Ambiental (2018) pela Universidade Federal do Rio Grande (FURG). Licenciada (2014) e Bacharela (2018) em Filosofia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Professora de Filosofia do Estado do Rio Grande do Sul (SEDUC – RS). E-mail: isadalmoro.filosofia@gmail.com Josaine de Moura Doutora (2014) pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Mestre em Matemática Aplicada (1998) pelo programa de Pós-Graduação de Matemática Aplicada e Computacional da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e Graduada (1995) em Licenciatura em Matemática da Universidade Federal de Santa Maria. Professora do Magistério Federal no Colégio Militar de Porto Alegre (CMPA) e colaboradora no Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Exatas (PPGECE) da Universidade Federal de Rio Grande (FURG).É pesqui- sadora no GIPEMS-Unisinos: Grupo Interinstitucional de Pesquisa
- 216. 215 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O em Educação Matemática e Sociedade e no GEEmCO-UFRGS: Grupo de Estudos em Educação Matemática e Contemporaneidade. E- mail: josainemoura@icloud.com Leônidas Roberto Taschetto Doutor em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com estágio doutoral (SWE-CAPES) na Université Paris 8 - Vincennes-Saint Denis, Departamento de Filosofia. Pesquisador na Linha de Pesquisa Formação de Professores, Teorias e Práticas Educativas e professor do Curso de Psicologia. Membro do Comitê Científico de Pesquisa e Extensão (CCPE) desde 2014. Vice-líder do Grupo de Pesquisa Sobre Educação e Análise de Discurso (GPEAD - PPGEdu/UFRGS/CNPq). Vice-líder do Grupo de Pesquisa em Tecnopoéticas, Neuroestética e Cognição (UFRGS/CNPq). E-mail: leontaschetto@yahoo.com.br Mari Teresinha Alminhana Panni Licenciada em Pedagogia pela Faculdade Cenecista de Osório - FACOS. Mestra em Educação em Ciências pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS, Associação de IES. Professora de Educação Infantil e Anos Iniciais nos municípios de Osório e Xangri-Lá/RS. E-mail: maripanni@gmail.com Suelen Assunção Santos Doutora e Mestre em Educação (UFRGS), Especialista em Tutoria em EaD (UFRGS), Licenciada em Matemática (UFRGS). Professora Adjunta do Departamento Interdisciplinar da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), e Coordenadora Substituta do curso de Pedagogia (UFRGS/CLN). Professora Permanente do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências (PPGEC/ UFRGS) e do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Exatas (PPGECE/FURG). É pesquisadora nos Grupos de Pesquisa PRAKTIKÉ: Educação e Currículo em Ciências e Matemática e GEEmCO: Grupo de Estudos em Educação Matemática e
- 217. 216 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O Contemporaneidade, ambos da UFRGS, do Diretório de Grupos de Pesquisa CNPq. E-mail: suelenass@icloud.com Veronica de Lima Mittmann Mestra em Educação em Ciências pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS, Associação de IES. Atua como Pedagoga/ Área, na mesma instituição – campus Litoral Norte. E-mail: veronica.mittmann@ufrgs.br
- 218. 217 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O ÍNDICE REMISSIVO A ambientes de aprendizagem 111, 114 anomalia 183, 184, 187, 188 apreensão da verdade 32 aritméticas 30, 44, 46 arte da memória 31 arte da retórica 1, 7, 25, 29, 31, 35 atualidade 27, 33, 129, 141, 151 aulas 1, 8, 17, 53, 66, 73, 75, 77, 78, 82, 83, 86, 90, 91, 92, 93, 123, 127, 162, 163, 165, 168, 179, 180, 184, 191, 198, 214, 216, 218, 220 B burocratização 8, 101, 102, 106 C cálculos 44, 60, 87, 118 campo 5, 8, 9, 14, 18, 27, 37, 47, 54, 55, 64, 68, 69, 71, 76, 77, 78, 81, 83, 85, 88, 92, 93, 95, 99, 102, 103, 111, 112, 116, 141, 143, 145, 146, 159, 160, 166, 174, 180, 183, 187, 188, 198, 203, 204, 205, 206, 210, 211, 212, 214, 215, 223, 224, 227 campo de saber 27, 47 cidade 41, 46, 111, 177, 204 ciência régia 53 Coisas 71, 163 complexo 75, 92 comunidade 9, 91, 105, 117, 141, 142, 145, 162, 164, 166, 167, 211, 213, 214, 215, 217, 219, 220 conceito 10, 16, 19, 80, 87, 114, 124, 125, 128, 150, 151, 179, 180, 189, 192, 195, 198 conhecimento 6, 9, 14, 29, 32, 34, 44, 54, 55, 57, 62, 68, 69, 71, 87, 92, 102, 103, 106, 111, 120, 121, 124, 125, 126, 128, 138, 142, 143, 144, 145, 170, 171, 173, 206, 210, 211, 214 conservadorismo 119 contemporaneidade 16, 21, 43, 47, 111, 112, 115, 130, 137 crime 182, 184, 185, 186 cristianismo 27, 29, 35, 40, 41, 46, 160, 161, 164, 165, 167, 168, 169, 170, 171, 175 cultura 1, 7, 15, 16, 19, 25, 27, 29, 30, 35, 36, 37, 39, 44, 46, 55, 56, 58, 64, 69, 95, 114, 169 cultura clerical 29 cultura da oralização 39, 46 currículo 8, 15, 60, 61, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 91, 96, 106, 113, 120, 121, 122, 124, 125, 127, 128, 138, 143, 144, 145, 146, 159, 160, 162, 163, 166, 167, 205, 210, 212 D decorar 27, 36 demandas 114, 122, 127 devir-animal 9, 138, 146, 147, 148, 150, 151, 152 devir-humano 138 diferença 6, 9, 19, 20, 42, 48, 58, 93, 94, 102, 104, 112, 113, 114, 115, 120, 121,
- 219. 218 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O 122, 125, 128, 148, 150, 151, 169, 171, 197, 219 discurso 6, 8, 10, 15, 17, 20, 21, 27, 34, 36, 62, 81, 93, 105, 111, 116, 121, 123, 139, 159, 163, 167, 170, 181, 182, 183, 190, 194, 198, 207, 208, 209, 222 docência-sabot 1, 73, 83, 84, 85, 88, 90, 91, 92, 93 E educação 7, 8, 9, 21, 29, 30, 34, 36, 39, 42, 45, 49, 58, 64, 70, 71, 72, 78, 82, 83, 84, 88, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 102, 106, 107, 108, 116, 119, 120, 122, 124, 127, 129, 130, 131, 137, 152, 155, 159, 160, 172, 173, 174, 191, 198, 203, 208, 210, 211, 213, 215, 216, 222, 223, 224 Educação Ambiental 10, 179, 180, 198, 199, 228 educação financeira 124, 127, 129 Educação Matemática 1, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 27, 51, 53, 54, 55, 65, 68, 69, 70, 72, 102, 107, 137, 227, 228, 229 educadores 36, 143, 144, 145, 153, 210, 211 ensino 1, 7, 16, 18, 25, 27, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 61, 63, 64, 69, 75, 81, 86, 92, 104, 114, 120, 124, 125, 126, 129, 131, 151, 152, 153, 154, 155, 163, 164, 165, 167, 168, 206, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 221, 223, 224, 225 ensino de matemática 7, 25, 27, 30, 43, 44, 47, 49, 86 ensino humanista 36 ensino sequencial 38 enunciações 9, 111, 114, 139, 143, 146, 159, 160, 163, 165, 168 escolar 2, 5, 8, 15, 17, 21, 34, 44, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 88, 90, 91, 92, 95, 102, 105, 106, 108, 109, 113, 114, 117, 119, 120, 121, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 130, 143, 154, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 170, 189, 221 escolas 29, 35, 37, 45, 63, 65, 75, 79, 80, 85, 104, 105, 106, 121, 125, 167, 175, 203, 204, 205, 206, 210, 214 escrita 27, 36, 37, 44, 45, 46, 70, 72, 138, 140, 148, 152, 154 espaço múltiplo 75 esquecimento 46, 137, 141 estudantes 17, 18, 38, 104, 131, 144, 204, 212, 213, 216, 220, 222 Etnomatemática 6, 14, 58, 60, 62, 70, 71, 102, 106, 227 exclusão 114, 119, 120, 121, 122, 123, 125, 126, 127, 129, 130 exercício 8, 27, 36, 40, 46, 81, 137, 147, 183, 195, 196, 219 explicação 61, 91, 186 F fascismo 113 fenômeno 33, 171 ferramentas 54, 55, 58, 61, 62, 66, 68, 69, 78, 116, 123, 126, 127, 139, 227 Filmes 165 filósofos 13, 16, 32, 34, 35, 38, 46, 54, 159 fisiológico 33
- 220. 219 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O formação 30, 34, 35, 36, 42, 47, 56, 82, 89, 92, 114, 121, 122, 143, 144, 145, 153, 155, 171, 185, 189, 196, 197, 204, 206, 209, 210, 211, 214, 218 formações individuais 42 G GEEMCo – Grupo de estudos em Educação Matemática e Contemporaneidade 13 grupo de estudos 13, 107 H hipótese 76, 82, 84, 85 histórias da Educação 30 I idioma 138, 149 igualdade 101, 102, 150 imagem 28, 31, 32, 83, 148, 151, 165, 169 imagens mentais 33 implicações pedagógicas 55 inclusão 9, 68, 105, 111, 113, 114, 116, 117, 119, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 129, 130 indivíduos 37, 40, 41, 106, 111, 112, 113, 115, 148, 185, 187, 195, 196, 197 instrumental 47 interdisciplinar 5, 116, 120, 143, 145, 153, 154, 155, 205, 206, 213, 214, 215 intervenções 53 investigação 17, 18, 27, 28, 33, 71, 76, 77, 89, 91 investigações 27, 55, 95, 127, 137 irracionalidade 138, 172 J jesuítica 43 jogos 15, 19, 56, 57, 58, 60, 66, 67, 69, 72, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 120, 166, 188 L leitura catequética 29 lembranças 31, 32, 33 língua 16, 30, 37, 63, 70, 81, 83, 140, 147, 149, 161 linguagem 6, 8, 15, 21, 34, 56, 57, 58, 59, 60, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 81, 99, 100, 108, 128, 131, 139, 147, 149 lógica 14, 30, 56, 57, 75, 81, 114, 122, 149, 211, 212, 218, 220, 223 M matemática 1, 5, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 21, 25, 27, 30, 37, 38, 43, 44, 47, 49, 53, 55, 58, 59, 61, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 86, 87, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 99, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 111, 114, 118, 119, 122, 123, 124, 126, 127, 129, 130, 131, 137, 224, 225 matemática acadêmica 5, 8, 15, 55, 102 mecânica 36, 39, 43, 44, 82, 182 memória 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 217 memorização 1, 5, 7, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49
- 221. 220 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O mercado 114, 122 método de ensino 39 método de estudos 37 métodos 31, 39, 43, 63, 91, 112, 123, 206, 217 moral 34, 41, 65, 162, 163, 164, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175, 184, 185, 188, 191 multiplicidade 54, 55, 76, 94, 148, 149, 150, 170, 171 multiplicidades 6, 20, 78, 138, 148 multisseriado 5, 75, 76, 77, 80, 82, 88, 92 N necessidades 53, 64, 127, 128, 189 neoliberal 104, 105, 114, 122, 127 normalização 120, 183, 187, 190, 191, 195, 196, 197 O olimpíada 8, 99, 100, 101, 104, 105, 106 Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) 99, 131 Olimpíada da Era Antiga 100 Olimpíada de Matemática 100, 102, 103 Olimpíada Moderna 100, 101, 102, 103 orador 30, 34 oralização 39, 46 P palavra 2, 8, 19, 34, 36, 40, 63, 97, 99, 100, 105, 106, 116, 121, 147, 181, 184, 187, 218 passado 27, 30, 33, 46, 47, 64, 86, 137, 165, 212 pedagogia 5, 10, 39, 42, 94, 203 Pedagogia da Alternância 3, 10, 142, 201, 203, 204, 205, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 222, 223, 224 pensamento 9, 13, 21, 28, 33, 34, 35, 39, 43, 47, 54, 65, 66, 70, 78, 95, 99, 114, 115, 126, 204 pensamento cristão 43 perspectiva foucaultiana 7, 27, 40, 46 Plano de Estudos 143 platônica 29, 32, 33 poder 2, 5, 9, 10, 13, 17, 29, 30, 40, 41, 43, 46, 47, 48, 58, 72, 76, 78, 80, 81, 84, 85, 87, 88, 111, 113, 115, 120, 122, 123, 137, 141, 151, 153, 159, 160, 171, 174, 177, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 189, 190, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 206, 215 práticas 1, 7, 14, 16, 17, 18, 25, 27, 28, 29, 30, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 49, 56, 59, 64, 67, 68, 69, 78, 106, 111, 113, 116, 120, 124, 125, 128, 130, 160, 163, 167, 168, 170, 175, 179, 193, 215, 217, 219, 223, 227 práticas de memorização 7, 25, 27, 28, 30, 43, 46, 47, 49 práticas pedagógicas 27, 42, 64, 167, 175 preço 17, 118 problematização 14, 55, 76, 77, 124, 126, 146, 185 professor 14, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 45,
- 222. 221 Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências S U M Á R I O 64, 65, 75, 77, 78, 83, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 120, 121, 127, 175, 180, 181, 184, 185, 187, 188, 189, 190, 191, 204, 206, 210, 214, 221, 228 professores de matemática 27 provas 101, 103, 105 psicagogia 42 R racionalidade 8, 15, 28, 55, 56, 58, 61, 68, 70, 85, 102, 106, 123, 138, 160, 194 razão 34, 35, 45, 58, 60, 70, 118, 123, 124, 125, 180, 185, 186 realidade 5, 8, 32, 58, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 90, 106, 115, 123, 125, 126, 128, 130, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 182, 187, 203, 210, 213, 214 recordações 46, 137 recordes 101, 103 recursos 117, 124 regras 37, 38, 56, 62, 67, 80, 81, 86, 100, 101, 102, 103, 105, 122, 128, 172 renda 15, 116, 117, 119, 124 repetição 7, 31, 34, 35, 38, 39, 40, 43, 46, 219, 224 repetições 37, 38, 40 retórica 1, 7, 25, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 42, 43, 46 Rituais 165 S saberes 9, 14, 29, 30, 33, 45, 49, 68, 71, 84, 90, 107, 113, 167, 169, 171, 172, 195, 197, 211, 212, 215, 218, 222 secularização 101, 102 ser humano 6, 29, 45, 166 sexualidade 47, 187, 188, 189, 193, 196 significado 8, 40, 49, 57, 62, 65, 66, 67, 69, 99, 100, 104, 105, 116, 121, 147 sistema de pensamento 28 socialização 121 sociedade 17, 19, 21, 28, 30, 47, 49, 81, 82, 104, 105, 111, 114, 115, 122, 123, 126, 127, 128, 141, 145, 153, 154, 164, 169, 172, 181, 183, 184, 185, 192, 211 sujeito pensante 33 Sujeitos 166, 173 T tempo 3, 7, 10, 17, 21, 29, 32, 33, 36, 38, 46, 47, 59, 63, 64, 76, 77, 82, 101, 103, 104, 111, 115, 121, 122, 125, 127, 138, 139, 141, 152, 159, 165, 166, 169, 172, 173, 182, 183, 188, 190, 191, 197, 201, 203, 207, 208, 209, 210, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 220, 221, 222, 223 tradição 30, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 40, 46, 107, 167, 172 transvaloração 172 V verbalista 39, 46 verdade 8, 27, 32, 34, 41, 42, 46, 58, 84, 93, 129, 139, 141, 154, 167, 168, 169, 172, 175, 180, 181, 183, 190, 221 verdades contemporâneas 141






















![21
Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências
S U M Á R I O
identidades podendo também ser um bando1
, uma turma2
, um
clube3
, uma escumalha4
, uma turba5
, um..., uma .... Não há palavra
que consiga traduzir o que o GEEMCo significa. Mas utilizando o
conceito matemático de limite e entendendo-o como “[...] uma fabri-
cação da representação, uma tentativa de fixar aquilo que está em
perpétuo movimento, de organizar o caos” (SANCHOTENE, 2013,
p.78), poderíamos ainda dizer que o GEEMCo é o limite do soma-
tório dos significados de grupo (g1), bando (g2), turma (g3), clube
(g4), escumalha (g5), turba (g6), entre tantos outros que poderí-
amos, ou poderemos, ou ainda, não podemos elencar. Dito de outra
maneira, o GEEMCo é o limite da aglomeração de todos os signifi-
cados de palavras, incluindo as que ainda estão em devir:
Cada parcela dessa soma infinita possui similaridades e dife-
renças entre si; “a diferença é a potência problemática do limite, em
sua indeterminabilidade. O limite existe, mas não pode ser fixado”
1. Substantivo masculino: qualquer conjunto de animais ou agrupamento de pessoas: bando
de pássaros; bando de funcionários. Aqueles que fazem parte de um partido ou organização.
[Jurídico] Aglomeração de pessoas que se juntam para praticar crimes; quadrilha. Conjunto de
famílias que habita determinada região, compartilhando dos mesmos hábitos ou cultura: bando
de marroquinos. Etimologia (origem da palavra bando). Do latim bandum. https://www.dicio.com.
br/bando/ (acessado em 29/07/2019).
2. Substantivo feminino: grupo de trabalhadores que operam juntos sob a direção de um chefe.
Grupo de pessoas que se revezam na execução de serviços ou tarefas. Cada um dos grupos
de alunos em que se divide uma classe (ou série) muito numerosa. Grupo de pessoas com inte-
resses afins; gente, pessoal. https://www.dicio.com.br/turma/ (acessado em 29/07/2019).
3. Substantivo masculino: sociedade de pessoas que se reúnem habitualmente em certo local,
para recreação, jogos, atividades culturais, prática de esportes etc. Associação, grêmio. https://
www.dicio.com.br/clube/ (acessado em 29/07/2019).
4. Substantivo feminino: resíduo originado da fusão de certos metais (escória) que foi submetido
à fusão; escumalho. [Figurado] Refere-se a parte desfavorecida (monetariamente) de uma socie-
dade; ralé. Etimologia (origem da palavra escumalha). Escuma + alha ou feminino de escumalho.
https://www.dicio.com.br/escumalha/ (acessado em 29/07/2019).
5. Substantivo feminino: grande massa de gente; excesso de pessoas aglomeradas num só lugar;
multidão. Grande número de pessoas reunidas em movimento, normalmente em desordem ou
com tendência para agir violentamente; turbilhão.[Pejorativo] Conjunto de pessoas economica-
mente desfavorecidas; populacho. [Por Extensão] Reunião de vários animais em desordem ou
que tendem a criar tumulto. Vozes reunidas em coro. Etimologia (origem da palavra turba). Do
latim turba.ae. https://www.dicio.com.br/turba/ (acessado em 29/07/2019).](https://image.slidesharecdn.com/ebookcomposicoes-200115152118/85/Com-posicoes-pos-estruturalistas-em-Educacao-Matematica-e-Educacao-em-Ciencias-22-320.jpg)
![22
Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências
S U M Á R I O
(SANCHOTENE, 2013, p.84). Nessa direção, o GEEMCo existe,
mas não pode ser fixado; o GEEMCo é um ponto de acumulação
de palavras que já foram inventadas e que estão para acontecer.
Nenhuma das palavras existentes dão conta das multiplicidades
que o GEEMCo atrai e que o constitui, estando na diferença, a
norma do “grupo”. Dito de outra maneira, “[...] o devir, o múltiplo,
o acaso não contém nenhuma negação; a diferença é a afirmação
pura” (DELEUZE, 1962/1976, p.158).
Uma das similaridades do “grupo” está em como entendem
o ato de pensar. Inspirados em Foucault pensar é um ato arriscado,
uma violência que se autoriza a exercer em si mesmo, e, com isso,
produz outra maneira de descrever o que muitos já haviam descrito.
Foucault inventou uma possibilidade de fazer pesquisa em que não
se busca encontrar “a solução” para um problema, mas trazer para
a visibilidade o que está escrito, mas ainda não foi lido.
O GEEMCo com suas multiplicidades, diferenças e similari-
dades busca se inspirar nessa maneira de fazer pesquisa e convida
a todas e todos a lerem, experimentarem, interpretarem seus
escritos e os usarem como melhor puderem e quiserem.
Referências
COSTA, Jurandir Freire. Prefácio a título de diálogo. In: ORTEGA, F.
Amizade e estética da existência em Foucault. Rio de Janeiro: Graal, 1999.
DELEUZE, Gilles (1962/1976). Nietzsche e a filosofia. Rio de Janeiro: Rio –
Sociedade Cultural.
DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. Mil Platôs. Vol. 1. São Paulo: Editora 34, 2011.
DUARTE, Claudia Glavam; SARTORI, Alice Stephanie Tapia. Foucault
e Deleuze: provocações ao discurso da Educação Matemática. In:
Revista do Programa De Pós-Graduação em Educação Matemática da
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) Perspectivas da
Educação Matemática, v. 10, p. 12-28, 2017.](https://image.slidesharecdn.com/ebookcomposicoes-200115152118/85/Com-posicoes-pos-estruturalistas-em-Educacao-Matematica-e-Educacao-em-Ciencias-23-320.jpg)





![28
Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências
S U M Á R I O
história. Segundo ele, o historiador trabalha a partir da descontinui-
dade quando volta sua atenção não às épocas e séculos, já recor-
tados pela história oficial, mas aos fenômenos de rupturas, ou em
outras palavras, quando mudam a ênfase dos fenômenos “estáticos
para as interrupções” (2005, p. 84). Assim, podemos conceber a
investigação histórica não como sendo “a pesquisa dos começos
silenciosos, não mais a regressão sem fim em direção aos primeiros
precursores, mas a identificação de um novo tipo de racionalidade e
de seus efeitos múltiplos” (FOUCAULT, 2008, p. 4). Em outras pala-
vras, caracterizar tal racionalidade é perceber o embate de forças,
a grade de inteligibilidade que sustenta o sistema de pensamento e
que possibilitou a emergência de algumas práticas em detrimento
de outros.
Em consonância com as teorizações foucaultianas, não
pretendemos determinar uma origem para as práticas de memo-
rização, por exemplo, quando “retornamos”1
aos gregos não é
para explicitar que naquele período, a partir de uma data definida,
ocorre a incursão de tais práticas naquela sociedade. Antes disso,
pretendemos mostrar o porquê da autoridade de tais técnicas sobre
outras, pois como indaga Foucault,
Procurar uma tal origem é tentar reencontrar “o que era imediata-
mente”, o “aquilo mesmo” de uma imagem exatamente adequada a
si; é tomar por acidental todas as peripécias que puderam ter acon-
tecido, todas as astúcias, todos os disfarces; é querer tirar todas as
máscaras para desvelar enfim uma identidade primeira. [Apesar disso
e contra isso] o que se encontra no começo histórico das coisas não
é a identidade ainda preservada da origem (FOUCAULT, 2011, p. 17).
Deste modo, buscamos destacar alguns acontecimentos em
sua pontualidade e em sua dispersão temporal sem intenção de
1. Afirma Deleuze (1992, p. 146) em uma entrevista sobre Foucault: “[...] com certeza não há
retorno aos gregos. Foucault detestava retornos. Ele só falava do que vivia: o domínio de si, ou
melhor, a produção de si, é uma evidência em Foucault. O que ele diz é que os gregos “inven-
taram” a subjetivação, e isso porque seu regime, a rivalidade entre os homens livres, o permitia”.](https://image.slidesharecdn.com/ebookcomposicoes-200115152118/85/Com-posicoes-pos-estruturalistas-em-Educacao-Matematica-e-Educacao-em-Ciencias-29-320.jpg)


![31
Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências
S U M Á R I O
Os oradores tinham a função de proferir com regularidade
extensos discursos de cor, sem recurso de materiais escritos, o que
exigia certo tipo de estratégia com base na memória das informa-
ções, isto é, neste contexto de ensino, “o método baseava-se na
memorização através da repetição. Portanto, o processo comum
era a instrução oral” (GILES, 1987, p. 40). Neste cenário, a memori-
zação era entendida não como uma predisposição natural do indi-
víduo, mas como uma técnica a ser desenvolvida pelos oradores.
O ensino da retórica, entendido como sendo uma técnica, uma
rotina ou um saber-fazer, estava estreito à cópia e a repetição, o que
influenciou vigorosamente a tradição ocidental.
Assim, é possível inferir que a arte da memória esteve atre-
lada à arte da retórica, disseminada pela tradição europeia. Uma
das técnicas de memorização mais conhecidas advinda dos gregos
é aquela supostamente criada por Simônedes de Ceos (556 a. C.
– 468 a. C.), poeta lírico nascido na Ilha de Ceos. Essa história foi
contada por Cícero em De oratore, quando aponta a memória como
uma das cinco partes constituintes da retórica. Tal história refere-se
a um banquete oferecido por Scopas, escultor da Antiga Grécia, em
que Simônedes foi contratado para entoar um poema lírico. Após
feito, Simônedes retirou-se por instantes do palácio, momento em
que o teto desabou, matando Scopas e todos os convidados.
[...] os corpos estavam tão deformados que os parentes que vieram
reconhece-los para cumprir os funerais não conseguiram identificá-
-los. Mas Simônedes recordava-se dos lugares dos convidados à
mesa e assim pôde indicar aos parentes quais eram os seus mortos.
[...] e essa experiência sugeriu ao poeta os princípios da arte da
memória, da qual se diz o inventor. Ao notar que fora devido a sua
memória dos lugares onde os convidados se haviam sentado que
pudera identificar os corpos, ele compreendeu que a disposição
ordenada é essencial a uma boa memória (YATES, 2007, p. 18-19).
Esta ideia de memória estava associada à imagem, ao
desenvolvimento de métodos para guardá-las como lembranças.
Esta característica dos processos de memorização é justamente](https://image.slidesharecdn.com/ebookcomposicoes-200115152118/85/Com-posicoes-pos-estruturalistas-em-Educacao-Matematica-e-Educacao-em-Ciencias-32-320.jpg)

![33
Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências
S U M Á R I O
Conforme apontam Do Valle e Bogéa (2018), Aristóteles
buscou romper com a tradição platônica especialmente no tratado
intitulado De la mémoire et de la réminiscence, no qual concebeu
uma investigação da memória. Um dos apontamentos do filósofo é
que esta faculdade não se resume em sustentar lembranças, mas
tem o papel de produzir imagens mentais que são fundamentais
para as atividades do sujeito pensante.
Aristóteles retoma a distinção entre mnēmē e anamnēsis, que não mais
indica, como em Platão, a desproporção ontológica entre o saber verda-
deiro e as aparências, mas passa a fundamentar a noção de que a
rememoração pode constituir-se em uma investigação ativa e deliberada
do indivíduo (RICOEUR, 2000, apud DO VALLE; BOGÈA, 2018, p. 8).
Para Aristóteles, a memória tem relação com o tempo, enten-
dida como representação do que foi apreendido no passado, o que
permite discernir o antes e o depois: “[...] cada vez, com efeito, como
foi dito precedentemente, que rememoramos, porque já vimos,
ouvimos ou aprendemos tal coisa, percebemos, além disso, que
isso se produziu anteriormente. Ora, o anterior e o posterior estão
no tempo” (ARISTOTELES, 2002, apud DO VALLE; BOGÈA, 2018,
p. 9). Esta linha de pensamento vai de encontro à concepção platô-
nica, visto que a memória além de ser uma forma de lembranças
impressas na alma, também ocorre a partir de circunstâncias fisio-
lógicas. A memória produzida pelo corpo e pela alma possibilita
a criação de hábitos e saberes-fazer. Como sugerem Do Valle e
Bogèa (2018, p.11), “o que fornece atualidade à teoria aristotélica
é o fato de que a memória seja apresentada como um fenômeno
encarnado, não apenas mental, mas igualmente fisiológico”.
Em meio às divergências sobre as concepções filosóficas
de memória, ligadas aos aspectos temporal e epistêmico como
evidenciado por Platão e Aristóteles, os gregos estiveram no cerne
da discussão sobre a retórica, já que esta dependia estritamente
da memória. No entanto, Platão considerava a retórica como uma](https://image.slidesharecdn.com/ebookcomposicoes-200115152118/85/Com-posicoes-pos-estruturalistas-em-Educacao-Matematica-e-Educacao-em-Ciencias-34-320.jpg)
![34
Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências
S U M Á R I O
questão de importância secundária, pois advertia que o objetivo
do “falar bem” poderia tornar-se um equívoco se não fosse idea-
lizado com a intenção de conhecer a verdade e não somente de
convencer alguém. Diferentemente dos filósofos, que inaugu-
raram esta preocupação, os retóricos se detiveram estritamente à
linguagem, propondo técnicas que auxiliassem no aperfeiçoamento
do discurso, o que conferia a memória outros usos e sentidos.
Isócrates (436-338 a. C.), orador e retórico ateniense, conhe-
cido como pai da oratória e que difundiu a retórica no meio escolar
ateniense, atentava para os exercícios de repetição e para as formas
de apresentação que facilitavam a aprendizagem dos discursos.
Para ele, a eloquência dos sofistas deveria estreitar-se à formação
moral, cívica e patriótica. A influência dos retóricos foi mais marcante
do que a dos filósofos na Grécia clássica, e a ênfase na linguagem
e na literatura orientou a educação naquele período. Diante disso,
a concepção filosófica de Platão não perdurou na tradição grega:
No plano histórico, Platão [e com ele Sócrates] foi vencido: ele não
conseguiu impor, à posteridade, seu ideal pedagógico; conside-
rando as coisas no seu conjunto, foi Isócrates quem triunfou, quem
se tornou o educador da Grécia e, depois, de todo o mundo Antigo
(MARROU, 1975, apud NOGUERA-RAMÍREZ, 2011, p. 93).
Quintiliano (35 d.C – 100 d.C.), orador e retórico romano, foi
um dos teóricos mais importantes da Antiguidade. Enfatizava que
a mnemotécnica1
, técnica para separar o discurso em partes, seria
um dos processos para aperfeiçoar e treinar a memória para uma
boa retórica. Ao contrário de Cícero e outros filósofos, ele atribuiu
mais importância à palavra do que à razão, já que é por meio da
palavra que se traduz o pensamento.
Outros pensadores, como São Clemente Romano (97 d.C.),
o quarto papa do Cristianismo da igreja romana, afirmava que o
1. “Mnemósina (de onde derivam os termos “mnésico”, “mnemotécnico”, etc.), deusa da
memória, era mãe das nove musas que presidiam ao conhecimento” (LIEURY, 1993, p. 11).](https://image.slidesharecdn.com/ebookcomposicoes-200115152118/85/Com-posicoes-pos-estruturalistas-em-Educacao-Matematica-e-Educacao-em-Ciencias-35-320.jpg)

![36
Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências
S U M Á R I O
parte da paidéia, já que por muito tempo “definiu um modo privile-
giado de transmissão, controlado pelos educadores, de textos tidos
senão por fundadores da cultura ensinada, ao menos por presti-
giosos, no sentido de textos que tinham autoridade” (RICOEUR,
2000, apud DO VALLE; BOGÈA, 2018, p. 4).
Segundo Paiva (2015), a Retórica originária da oratória
greco-romana como mecanismo de formação, tornou a ser valori-
zada após o Concílio de Trento (1545-1563). Ela tornou-se uma das
principais disciplinas do ensino jesuítico, contando que o domínio
da retórica seria útil principalmente ao exercício do magistério para
formar novos sacerdotes. Não obstante, “o exercício de memori-
zação dos textos para o discurso eloquente não se tratava de uma
erudição passiva, mecânica, mas de uma ação de análise, compa-
ração e versatilidade, agregando as três faculdades: memória,
vontade e inteligência” (PAIVA, 2015, p. 209), o que agregava ao
ensino jesuítico uma aproximação ao ensino humanista.
As propostas da educação cristã emergiram pela paidéia
grega. A própria palavra “catecismo” deriva do grego “katechismós”,
que significa instrução. O surgimento do catecismo estava atrelado
à necessidade de produzir sujeitos cristãos e instrui-los conforme as
verdades da religião. O catecismo buscou transmitir às crianças ou
iniciantes os conhecimentos, as normas e a doutrina de valores reli-
giosos, por meio do método do diálogo e da instrução pela memo-
rização. Os catecismos, escritos por reformadores protestantes e
bispos católicos, tinham o objetivo de fixar a ciência da salvação
para todos, de modo que os manuais visavam
[...] Fixar a “letra” da doutrina e fazê-lo memorizar exatamente, de
maneira que os fiéis não considerassem verdadeiras as proposições
heréticas ou sacrílegas. [...] Esses manuais eram primeiramente
guias para os que ensinavam, nos quais as orações e os principais
elementos da doutrina eram apresentados sob a forma de perguntas
e respostas alternadas. Esse ensino oral (escutar/memorizar/recitar)
era uma primeira iniciação à cultura escrita, porque o pastor devia
fazer decorar “letra por letra” um texto escrito, impresso, estável
(HÉBRARD, 1999, p. 43-44).](https://image.slidesharecdn.com/ebookcomposicoes-200115152118/85/Com-posicoes-pos-estruturalistas-em-Educacao-Matematica-e-Educacao-em-Ciencias-37-320.jpg)
![37
Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências
S U M Á R I O
Podemos inferir que o ensino articulado aos preceitos reli-
giosos também possibilitou a universalização da escrita, pois antes
de saber ler, os catequisados eram obrigados a memorizar e reco-
nhecer textos. Conforme Algranti (2004), era comum que algumas
religiosas acompanhassem a leitura coletiva no coro ou, “dado o
caráter repetitivo da leitura dos textos sagrados […] podiam decla-
má-los por memorização – ‘reconhecendo’ o texto e não exatamente
lendo-o […]” (p. 55-56).
A igreja foi a instituição que garantiu a instrução durante a
Idade Média, após a destituição do Império Romano, e a partir dela
difundiram-se amplas iniciativas no campo educacional. No que
tange a cultura e a história do Brasil, foram inúmeros os efeitos
advindos dos ideais de jesuítas na Educação, conforme investigou
Freire (2009). Assim como na Europa, particularmente em Portugal,
as escolas dos jesuítas tinham como ideal formar o homem culto,
erudito nas letras, não se detendo à qualificação profissional, já que
no país vigorava o trabalho escravo e a agricultura.
A Educação dos jesuítas foi predominante no período colonial,
imperial e atingiu o período republicano. Segundo o autor supramen-
cionado, o método pedagógico empreendido por eles foi radical, ao
ponto de intencionarem controlar a mente e a conduta dos indivíduos,
pois relegava “a importância da introspecção, e baseava-se em meca-
nismos de controle do comportamento, principalmente assentes em
processos associativos e memorísticos” (p. 179).
Um exemplo, talvez o mais importante, foi a criação da Ratio
Studiorum, método de estudos baseado em regras empregadas
pela Companhia de Jesus nos colégios a partir de 1540, vigente
por mais de quatro séculos. Tal método baseava-se em repetições,
pois sem elas as lições eram consideradas inúteis. Tais indicações
estão presentes nas regras para cada professor em sua disciplina
específica como filosofia, teologia, língua hebraica, matemática, etc.](https://image.slidesharecdn.com/ebookcomposicoes-200115152118/85/Com-posicoes-pos-estruturalistas-em-Educacao-Matematica-e-Educacao-em-Ciencias-38-320.jpg)

![39
Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências
S U M Á R I O
a exercícios escolares dos retóricos, ou desafio. Pela tarde na primeira
meia-hora recitação de cor de algum poeta e do catecismo, enquanto
o professor revê os trabalhos escritos da semana porventura ainda não
revistos e percorre as notas dos decuriões (FRANCA, 1952, p. 81).
Os jesuítas acreditavam que seu método de ensino propi-
ciara avanços em relação aos métodos da Idade Média, em que
os alunos decoravam sem nenhum discernimento ou crítica, porém
esta proposta baseava-se em processos mecânicos e em recom-
pensas. Em consonância, Gadotti (2002) também acrescenta que
“os jesuítas nos legaram um ensino de caráter verbalista, retórico,
livresco, memorístico e repetitivo, que estimulava a competição
através de prêmios e castigos” (p. 231).
Segundo Freire (2009, p. 183), com a dominação dos jesuítas
o Brasil se afastava das novas ideias que emergiram na Europa,
visto que os padres não eram a favor da liberdade de ideias, mas de
impor autoridade. A Educação efetivada pela Companhia de Jesus
configurava-se como
[...] uma pedagogia que não valorizava o pensamento crítico que
começava a despontar na Europa, mas por um apego a formas
dogmáticas de pensamento e pela revalorização da escolástica
como método e como filosofia, pela reafirmação da autoridade, quer
da Igreja, quer dos antigos, enfim, pela prática de exercícios intelec-
tuais com a finalidade de reforçar a memória e capacitar o raciocínio
dos alunos para fazerem comentários de textos.
Deste modo, o fator que parece ter forte relação com tradição
pedagógica da memorização, segundo Souza (1998), é a cultura
da oralização advinda do catolicismo, especialmente a partir da
educação religiosa, que ressoava tanto nas elites urbanas quanto
na percepção popular. Com o catecismo institui-se uma tradição de
memorização, pois era necessária, por parte do catecúmeno, uma
repetição mecânica já que este só deveria reproduzir os dogmas da
igreja, sem desenvolver ideias próprias. Além disso, o catecismo era
constituído por um padrão de perguntas e respostas padronizadas,](https://image.slidesharecdn.com/ebookcomposicoes-200115152118/85/Com-posicoes-pos-estruturalistas-em-Educacao-Matematica-e-Educacao-em-Ciencias-40-320.jpg)

![41
Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências
S U M Á R I O
atrelado ao território, já para o poder pastoral, governar tem outro
sentido, ligado aos indivíduos. A função do pastor difere-se assim
do homem político, pois enquanto este estava encarregado de
governar a cidade, o pastor governa cada ovelha individualmente.
Os efeitos individualizantes desse poder, o caracterizam mediante
a obediência de cada alma para com seu pastor, levando-a à
salvação, o que caracteriza um processo de subjetivação específico
desta forma de poder.
Tal desencontro entre as concepções de governo grega
e cristã advém ainda de seus entendimentos distintos sobre a
“análise de consciência”. Enquanto que no modelo grego o indi-
víduo, acompanhado por um filósofo, examinava sua consciência
a fim de controlar a si mesmo, no modelo do poder pastoral a
vigilância da consciência é constante, e torna-se uma ferramenta
para reproduzir a verdade e intervir nas condutas. O poder pastoral
evidencia suas formas de governo atreladas a condução das almas
pela verdade, pois um dos mecanismos que atuam para a consti-
tuição dos sujeitos é a confissão da verdade. Porém, outras técnicas
próprias da igreja, além da confissão, foram sendo incorporadas
pelas demais instituições.
Tais mecanismos de subjetivação entraram em crise no século
XVI, no entanto, não foram extintos das sociedades precedentes,
foram apropriados por práticas mais sutis. Mais especificamente na
docência, o professor, ao conduzir seus educandos pode exercer
o poder pastoral, zelando pelo seu rebanho. Neste sentido, Hunter
(1998, p. 23) aponta que as técnicas advindas desta forma de poder
fizeram emergir novas relações no contexto educacional, como
[...] um conjunto especial de disciplinas “espirituais” (de uma prática
particular de relacionar-se e governar-se a si mesmo), personificada
na relação pastoral entre mestre e aluno. Veremos que é o “jogo do
pastor do rebanho”, próprio do cristianismo, com sua característica
articulação de vigilância e autoescrutínio, obediência e autorregu-
lação, aquilo que continua proporcionando o núcleo da tecnologia
moral da escola, muito depois de que foram apagados os seus
apoios doutrinais.](https://image.slidesharecdn.com/ebookcomposicoes-200115152118/85/Com-posicoes-pos-estruturalistas-em-Educacao-Matematica-e-Educacao-em-Ciencias-42-320.jpg)


![44
Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências
S U M Á R I O
No ensino de matemática: Outras condições de possibilidade
para a memorização
Explicações para a naturalização do entendimento da
memória nos processos de ensino advém de outras justificativas
além das elencadas até aqui. Especialmente no que se refere aos
conhecimentos matemáticos, Miguel e Vilela (2008) especulam que
as aritméticas comerciais, utilizadas desde o século XIII, podem ter
contribuído “para a constituição e valorização escolares de pers-
pectivas mnemônico-mecanicistas até, pelo menos, o início do
século XX” (Ibidem, p. 100). As aritméticas comerciais alegoristas
influenciaram o desuso do ábaco, por exemplo, que servia como
um instrumento para compreender os números naturais pela visua-
lização ou pelo concreto, já que as operações fundamentais permi-
tiam operar diretamente com os números e símbolos matemáticos.
Este é um dos aspectos que pode ter possibilitado a emer-
gência de um ensino de aritmética verbal e mecanizado, pois este
“uso financeiro” incitava à memorização visual e auditiva dos alga-
rismos e símbolos, à contagem mecânica sem a utilização de objetos
concretos, à escrita dos números e realização mecânica dos algo-
ritmos relacionados às operações básicas (SOUZA, 1996, apud
MIGUEL; VILELA, 2008). De modo geral, como apontam os autores,
[...] a justificação do modo escolar de mobilização de cultura mate-
mática, segundo perspectivas mnemônico-mecanicistas, parecia
estar unicamente baseada em argumentos pragmáticos tais como
a rapidez, a comodidade, a precisão dos resultados obtidos nos
cálculos, bem como a eficácia das técnicas algorítmicas de cálculo
escrito, com base no sistema numérico hindu-arábico em relação
ao cálculo realizado com o auxílio de ábacos ou dedos (MIGUEL;
VILELA, 2008, p. 100).
Já Souza (1998), aponta que a memorização vinha compensar
a falta de livros e a ausência de conhecimento das disciplinas:
“memorizar era uma forma de o professor ensinar aquilo que não](https://image.slidesharecdn.com/ebookcomposicoes-200115152118/85/Com-posicoes-pos-estruturalistas-em-Educacao-Matematica-e-Educacao-em-Ciencias-45-320.jpg)
![45
Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências
S U M Á R I O
sabia, de o aluno aprender o que não entendiam [...] na esperança
de que um dia encontrariam o sentido do que aprenderam de cor”
(p. 88). Observamos, portanto, a necessidade da memorização
em função da falta de livros, cabendo ao educando, memorizar
os conhecimentos repassados pelo professor. Este aspecto nos
parece de suma importância nas concepções de educação em dife-
rentes épocas e que parece estar obscurecida: a relação da memo-
rização com a falta de algo, neste caso de livros e da escrita. Para
os antigos memorizar fatos oralmente era necessário, já que não se
tinham livros, papel e caneta para que a propagação dos conheci-
mentos ocorresse. Assim, a transmissão oral operou por séculos até
que iniciasse a difusão dos saberes por meio de escritos.
No denominado Sacro Império Romano, por exemplo, com
as reformas de Carlos Magno (768-841), a Educação estendeu-se
a setores maiores da população, implementando diversas reformas,
sendo que uma das mais importantes inovações na época foi a arte
de escrever e de uniformizar a ortografia, dado o interesse de difundir
os manuscritos existentes. As escolas monásticas, responsáveis pela
institucionalização do processo educativo, tinham como programa de
estudos essencialmente o trivium e o quadrivium que se constituíram
como o principal método de estudo conhecido baseado na memori-
zação. Ao se referir à primeira teoria sistemática da educação feudal,
por volta do ano 1100, Giles (1987, p. 72) afirma:
[...] a base do processo educativo será a memorização, pois ainda
estamos numa época em que os códigos manuscritos são poucos,
falta a paginação, e mesmo as cópias de manuscritos e de livros
que se encontram nas bibliotecas estão acorrentadas ou protegidas
contra o furto por outros meios. É com toda a razão que se dizia: “A
sabedoria é um tesouro, a mente, um cofre”.
A própria invenção da escrita é alvo da crítica de Platão no
seu diálogo de Fedro, pois ele acreditava que a memória sofreria
se o ser humano pudesse escrever sobre as coisas que antes eram
arquivadas pela memória. Segundo Platão, a descoberta da escrita](https://image.slidesharecdn.com/ebookcomposicoes-200115152118/85/Com-posicoes-pos-estruturalistas-em-Educacao-Matematica-e-Educacao-em-Ciencias-46-320.jpg)
![46
Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências
S U M Á R I O
provocou “[...] nas almas o esquecimento de quanto se aprende,
devido à falta de exercício da memória, porque confiados na escrita,
é do exterior, por meio de sinais estranhos, e não de dentro, graças
a esforços próprios, que obterão as recordações” (PLATÃO, 1997,
apud RODRIGUES, 2015, p. 100).
Considerações finais
Neste texto, evidenciamos que desde a tradição grega, a
memorização era uma prática costumeira que, aliada à retórica,
formava oradores, ou seja, sujeitos políticos, úteis à cidade. Neste
contexto grego, a memória foi centro da problemática de filósofos
como Platão e a Aristóteles, que discutiram as relações desta com
a verdade. Outra condição de possibilidade para as práticas de
memorização foi a cultura da oralização advinda do cristianismo,
que fez emergir novas formas de poder, como o poder pastoral, e
produziu outras subjetividades distintas das dos gregos. No ensino
jesuítico, por exemplo, a aprendizagem era baseada na memória
e na repetição constante e verbalista. Apontamos ainda, outros
processos sutis que podem ter possibilitado a emergência de certas
práticas de memorização, como as aritméticas comerciais e a falta
de livros e materiais impressos.
Em uma perspectiva foucaultiana, analisar o passado das
práticas de memorização se torna um elemento fundamental para a
compreensão destas práticas no presente, pois se olharmos para o
passado é para nos darmos conta de nossa própria história, já “nada
nos chega do passado que não seja convocado por uma estratégia,
armado por uma tática, visando atender alguma demanda do nosso
próprio tempo” (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2000, p. 123). Esta
perspectiva histórica nos coloca em uma posição na qual se torna
necessário “escavar” o passado para compreender o presente, ou](https://image.slidesharecdn.com/ebookcomposicoes-200115152118/85/Com-posicoes-pos-estruturalistas-em-Educacao-Matematica-e-Educacao-em-Ciencias-47-320.jpg)


![49
Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências
S U M Á R I O
MIGUEL, Antonio; VILELA, Denise Silva. Práticas escolares de mobilização
de Cultura Matemática. Cad. Cedes, Campinas, vol. 28, n. 74, p. 97-120,
jan./abr. 2008
NOGUERA-RAMÍREZ, Carlos Ernesto. Pedagogia e governamentalidade
ou Da Modernidade como uma sociedade educativa. Belo Horizonte:
Autêntica Editora, 2011.
PAIVA, Wilson Alves de. O legado dos jesuítas na educação brasileira.
Educação em Revista. Belo Horizonte. v.31, n.04, p. 201 – 222. Outubro-
Dezembro 2015.
PINTO, Neuza Bertoni. Renovação dos Programas de Ensino de Arimética
da Escola primária em São Paulo e no Paraná nos anos de 1930: um
estudo histórico-comparativo. Hist. Educ. [Online] Porto Alegre v. 18 n. 44
Set./dez. 2014 p. 45-59
PLATÃO. Filebo. Trad. Carlos Alberto Nunes. Belém: UFPA, 1974.
RODRIGUES, Reginaldo Ferreira. Escrita e memória no Fedro de
Platão. Griot-Revista de Filosofia, v. 11, n. 1, 2015.
SARTORI, Alice Stephanie Tapia. As práticas de memorização no ensino de
matemática: Reconfigurações nos discursos da Revista Nova Escola. 2019.
251 f. Tese (Doutorado em Educação Científica e Tecnológica). Programa
de Pós-Graduação em Educação Científica e Tecnológica. Universidade
Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2019.
SOUZA, Maria Cecília Cortez Christiano de. Decorar, lembrar e repetir: o
significado de práticas escolares na escola brasileira do final do século
XIX. História da educação: processos, práticas e saberes. Escrituras: São
Paulo, 1998.
YATES, Francês A. A Arte da Memória. Campinas: Ed. UNICAMP, p. 17-46, 2007.](https://image.slidesharecdn.com/ebookcomposicoes-200115152118/85/Com-posicoes-pos-estruturalistas-em-Educacao-Matematica-e-Educacao-em-Ciencias-50-320.jpg)



![53
Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências
S U M Á R I O
campo da Educação Matemática para quem sabe, leva-lo ao campo
do impensável até então. No entanto, nosso esforço é precedido
por vários trabalhos que, mesmo abarcando uma multiplicidade
teórica, tem utilizado ferramentas deste filósofo para alicerçar suas
investigações. Dentre estes destacamos KNIJNIK et all, 2012;
WANDERER, 2007; VILLELA, 2007; GIONGO, 2008; DUARTE, 2003,
2009. É na esteira destes trabalhos que nosso texto se insere e,
para facilitar a leitura, o dividimos em duas partes. A primeira
refere-se à problematização que as ferramentas wittgensteinianas
nos permitiram realizar sobre o caráter universal pretendido pelo
conhecimento matemático. Tal problematização foi feita por vários
pesquisadores, como referenciado acima, mas, pensamos não
ser possível falar de Wittgenstein sem ponderar suas contribuições
para o esfacelamento de qualquer pretensão de universalidade do
conhecimento matemático. A segunda parte do texto, que recebe
uma maior ênfase por tratar-se de resultados de uma pesquisa de
Doutorado (Duarte, 2009), refere-se às implicações pedagógicas
para a Educação Matemática a partir da obra do filósofo austríaco.
Problematizando a universalidade da Matemática acadêmica.
As teorizações propostas por Wittgenstein na obra
Investigações Filosóficas (2004) têm contribuído, de forma ímpar,
para problematizar o caráter universal pretendido pela matemática
acadêmica e, em efeito, alicerçar as afirmações a respeito da exis-
tência de diversas matemáticas. Dessa forma, podemos inferir que
[...] talvez uma das maiores contribuições de Wittgenstein à cultura
contemporânea seja exatamente essa “desconstrução” de uma
pretensa racionalidade universal, enormemente ancorada na ideia
de categorias, que é não apenas idealista, mais arrogantemente
etnocêntrica. (CONDÉ, 2004, p. 139)](https://image.slidesharecdn.com/ebookcomposicoes-200115152118/85/Com-posicoes-pos-estruturalistas-em-Educacao-Matematica-e-Educacao-em-Ciencias-54-320.jpg)

![55
Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências
S U M Á R I O
para este filósofo, aquilo que conhecemos e damos significados,
não está no objeto em si, fruto de uma essência, intenção esta do
idealismo, nem na positividade dos fatos, justificativa do empirismo.
Neste sentido, Wittgenstein se afasta do idealismo por não crer na
essência do significado e, por outro lado, também do empirismo por
não acreditar na existência da objetividade dos fatos ou do objeto.
Para este filósofo, o significado e, por conseguinte o conhe-
cimento, se dá no uso que fazemos da linguagem em uma dada
forma de vida, ou seja,
[...] não é mais relevante, para a compreensão do significado, a
determinação lógica e definitiva de unidades mínimas formais,
sintáticas ou semânticas, nem a postulação de tais unidades como
sendo os fundamentos do significado. Trata-se agora, de buscar
unidades, de outra ordem, ou melhor, que serão caracterizadas
segundo outros critérios. Os novos critérios, todavia serão de natu-
reza distinta dos anteriores, uma vez que não mais será possível, por
meio deles, detectar exata e definitivamente as unidades do signi-
ficado. Os novos critérios serão fornecidos pelo uso que fazemos
da linguagem, nos mais diversos jogos, isto é, nas mais diferentes
formas de vida. (MORENO, 1995, p. 56).
Nesta perspectiva, sua concepção de linguagem afirma não existir
[...] a linguagem, mas simplesmente linguagens, isto é, uma varie-
dade imensa de usos, uma pluralidade de funções ou papéis que
poderíamos compreender como jogos de linguagem. Entretanto,
como também não há uma função única ou privilegiada que
possa determinar algum tipo de essência da linguagem, não há
também algo que possa ser a essência dos jogos de linguagem.
(WITTGENSTEIN Apud CONDÉ, 1998, p. 86, grifos nossos).
Wittgenstein, ao afirmar a inexistência de uma essência da
linguagem, admite que nenhuma linguagem pode pretender-se
universal. Existem linguagens e lógicas particulares, e estas são
fruto do contexto onde estão inseridas. Nesta perspectiva, a obra
de Wittgenstein fornece a possibilidade para pesquisadores, espe-](https://image.slidesharecdn.com/ebookcomposicoes-200115152118/85/Com-posicoes-pos-estruturalistas-em-Educacao-Matematica-e-Educacao-em-Ciencias-56-320.jpg)
![56
Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências
S U M Á R I O
cialmente àqueles vinculados a Etnomatemática1
questionarem a
pretensão de universalidade da linguagem da Matemática acadê-
mica. Assim:
A Matemática Acadêmica, a Matemática Escolar, as Matemáticas
Camponesas, as Matemáticas Indígenas, em suma, as Matemáticas
geradas por grupos culturais específicos podem ser entendidos
como conjuntos de jogos de linguagem engendrados em diferentes
formas de vida, agregando critérios de racionalidade específicos.
Porém, esses diferentes jogos não possuem uma essência invariável
que os mantenha completamente incomunicáveis uns dos outros,
ne uma propriedade comum a todos eles, mas algumas analogias
ou parentescos- o que Wittgenstein denomina de semelhanças de
família. (KNIJNIK et ali, 2012, p.31)
Para este filósofo, existem jogos de linguagem, e estes estão
articulados com as possibilidades de seus usos, nas formas de
vida. Tal condição inviabiliza a possibilidade de afirmação de uma
linguagem universal, ideal. Além disso, na perspectiva do autor, a
função da linguagem não é denotativa, isto é, ela não é representa-
tiva das coisas que cercam o mundo e sim atributiva, não existindo,
portanto, correspondência biunívoca entre as palavras e as coisas.
Desta maneira, as “verdades” não são encontradas através da
razão, mas inventadas por ela. Assim sendo, é através dos usos da
linguagem que são atribuídos sentidos às atividades, aos objetos e
aos acontecimentos e não apenas aspectos alcançados por meio
da percepção. Em consequência disso, aquilo que chamamos de
“realidade” é construído na e através da pragmática da linguagem,
ou seja, “aquilo que para os homens parece assim, é o seu critério
para o que é assim. ” (WITTGENSTEIN apud MORENO, 1995, p. 33).
Nesta Perspectiva, todos os jogos de linguagem estão
corretos desde que os critérios para esta validação tenham sentido
1. Entendemos a Etnomatemática como uma caixa de ferramentas que nos permite [...] estudar
os discursos eurocêntricos que instituem as matemáticas acadêmica e escolar; analisar os
efeitos de verdade produzidos pelos discursos das matemáticas acadêmica e escolar; discutir
questões da diferença na educação matemática, considerando a centralidade da cultura e as
relações de poder que a instituem; e examinar os jogos de linguagem que constituem cada uma
das diferentes matemáticas, analisando suas semelhanças de família (KNIJINIK, 2006, p.120)](https://image.slidesharecdn.com/ebookcomposicoes-200115152118/85/Com-posicoes-pos-estruturalistas-em-Educacao-Matematica-e-Educacao-em-Ciencias-57-320.jpg)
![57
Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências
S U M Á R I O
dentro de uma determinada forma de vida. Isto implica que, “(...)
Naturalmente, formas de vida diversas estabelecem[çam] práticas
diferenciadas, assim também, gramáticas diferentes e, consequen-
temente, inteligibilidades diferentes” (CONDÉ, 2004, p.110). Nesse
sentido, não se pode falar de inteligibilidade do mundo, mas de inte-
ligibilidades possíveis. No entanto,
O ideal está fixado em nossos pensamentos de modo irremovível.
Você pode sair dele. Você tem que voltar sempre de novo. Não
existe um lá fora; lá fora falta o ar vital. – Donde vem isto? A idéia
está colocada, por assim dizer, como óculos sobre o nosso nariz,
e o que vemos, vemo-lo através deles. Não nos ocorre tirá-los.
(WITTGENSTEIN, 1991, p. 69).
É com os óculos da Matemática acadêmica que tem sido
construído o suposto “ideal”. No entanto, é preciso considerar a
Matemática acadêmica como uma lente, uma possibilidade, uma
linguagem que não é o reflexo do mundo, mas que, ao “dizer
sobre o mundo”, acaba por construí-lo e o faz de uma maneira
bastante peculiar.
Ao longo da história da humanidade, distintos povos geraram
seus modos próprios de contar, medir, registrar o tempo e entender
os fenômenos naturais. Esses modos particulares de compre-
ender o mundo, através de uma perspectiva matemática, fazem-se
presente em diferentes práticas sociais.
Ubiratan D’Ambrósio (2005, p.6) afirma que, desde o final do
século XV e ao longo do século XVI, o estabelecimento de regimes
coloniais, em escala mundial, determinou que as diferentes moda-
lidades locais de produção e comercialização se adequassem ao
modelo europeu. Assim, as particularidades intelectuais dos povos
conquistados foram amplamente abandonadas. Desse modo,
formas especificas de mensurar, quantificar, linguagens e outras
expressões culturais foram silenciadas.](https://image.slidesharecdn.com/ebookcomposicoes-200115152118/85/Com-posicoes-pos-estruturalistas-em-Educacao-Matematica-e-Educacao-em-Ciencias-58-320.jpg)
![58
Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências
S U M Á R I O
A questão que se coloca, frente à existência de outros tipos
de validação, de outras lógicas, é porque algumas são legitimadas
e outras não, porque algumas são merecedoras de espaços dentro
do currículo escolar e outras não.
Vários pesquisadores e estudiosos da Etnomatemática têm
buscado compreender e validar estas “outras” lógicas presentes
nas mais diversificadas culturas. Monteiro (2002) relata uma experi-
ência que viveu junto a um grupo do Assentamento Rural de Sumaré.
Naquele local, a autora descreve seu encontro com Zé do Pito, plan-
tador de tomates, que além de dedicar-se aos afazeres provenientes
deste ofício, era responsável pela divisão do valor da conta de luz do
assentamento entre os usuários. Os procedimentos do trabalhador
rural, para efetuar os cálculos, se resumiam em dividir a taxa básica
entre os que usaram a luz e o valor restante dividir conforme as
condições de cada família. Sua divisão era proporcional, porém os
critérios para estabelecer tal proporcionalidade estavam articulados
a partir de “relações de solidariedade e não de capital” (MONTEIRO,
2002 p. 104). Segundo a autora, tal situação
[...] recheada de vida, não fala apenas de uma divisão, fala de crité-
rios de divisão, fala da razão pela qual devemos dividir e dos valores
envolvidos nessa prática. O cálculo é algo secundário. O senhor Zé
do Pito nunca estudou e sabia fazer cálculos, como ele dizia, de
cabeça ou com a calculadora que seus filhos lhe ensinaram a manu-
sear. (MONTEIRO, 2002, p. 105).
Experiência também diferenciada no que diz respeito a
outras formas de matematizar, ou em uma linguagem wittgenstei-
niana outros jogos de linguagem, foi vivenciada por Mariana Kawall
Ferreira, como professora de Português e Matemática na escola do
Diauarum no parque indígena do Xingu. Ao propor para a turma à
qual lecionava o problema: “Ontem à noite peguei 10 peixes. Dei 3
para meu irmão. Quantos peixes tenho agora? ” (FERREIRA, 2002, p.
56), obteve como resposta 13 peixes. Ao analisarmos, com as lentes
da Matemática acadêmica, o valor encontrado, poderíamos pensar](https://image.slidesharecdn.com/ebookcomposicoes-200115152118/85/Com-posicoes-pos-estruturalistas-em-Educacao-Matematica-e-Educacao-em-Ciencias-59-320.jpg)

![60
Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências
S U M Á R I O
Problematizando umas das verdades do discurso da
Matemática escolar: “trabalhar com a realidade do aluno
permite dar significado à matemática escolar”.
Além do esfacelamento da pretensão de universalidade do
conhecimento matemático, a obra de Wittgenstein nos oferece
ferramentas para problematizarmos as propostas pedagógicas que
afirmam a necessidade de trabalharmos com a realidade do aluno a
fim de darmos significado à matemática escolar. Parece-nos que esta
necessidade se legitimaria pelo duplo efeito que poderia acarretar:
por um lado tornaria a escola atraente e, por outro, despertaria o
interesse do aluno pela aprendizagem da matemática escolar. Seria
a tentativa de captura do “brilho do real” (LARROSA, 2008), a fim de
superar a opacidade e artificialidade dos conteúdos escolares.
Assim, tal prescrição é bastante recorrente no meio educa-
cional sendo sustentada por diferentes perspectivas. Vertentes
como a Modelagem Matemática e a Etnomatemática, por exemplo,
reforçam muitas vezes a necessidade de articularmos os conheci-
mentos escolares com a realidade do aluno. No entanto, esta neces-
sidade se estende ao longo dos tempos e extrapola os tempos atuais.
Analisando algumas obras de importantes teóricos da Educação
Ocidental percebemos a preocupação em se evitar a clivagem da
escola com o mundo real. Assim, expoentes como Wolfgang Ratke e
Jan Amos Komenský (Comenius), do século XVII, os escritos de Jean
Jacques Rousseau, do século XVIII reforçam para a necessidade
pedagógica de atentarmos para o entorno escolar.
Em tudo é necessário seguir a ordem das coisas e se assegurar
que os ensinos dos instrumentos não podem ser entendidos sem
as coisas. Assim também, devem-se esclarecer as regras, utilizando
exemplos e modelos tirados das coisas e, a partir delas, efetuar os
ensinamentos. (RATKE, 2008, p. 129) [Grifos nossos].](https://image.slidesharecdn.com/ebookcomposicoes-200115152118/85/Com-posicoes-pos-estruturalistas-em-Educacao-Matematica-e-Educacao-em-Ciencias-61-320.jpg)
![61
Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências
S U M Á R I O
As palavras, portanto, deverão ser ensinadas e aprendidas sempre
em conjunto com as coisas correspondentes [...] E o que são as
palavras senão o invólucro e a bainhas das coisas? [...] estamos
formando homens, e queremos formá-los no tempo mais curto
possível: isso acontecerá se as palavras sempre caminharem pari
passu com as coisas, e as coisas com as palavras (COMENIUS,
2006, p.223). [Grifos nossos].
Em qualquer estudo que seja, sem a idéia das coisas representadas,
os signos representantes não são nada. Todavia, sempre limitamos a
criança a esses signos, sem jamais podermos fazê-la compreender
nenhuma das coisas que representam. (ROUSSEAU, 2004, p. 123).
[Grifos nossos].
Assim, atravessando séculos, a análise, sob diferentes pers-
pectivas, da relação a ser estabelecida entre as “palavras e as
coisas” - (realia)1
fez-se presente nas discussões de cunho educa-
cional. Do ponto de vista destes autores, para uma aprendizagem
ser eficiente, fazia-se necessário estabelecer um “vínculo entre as
palavras e as coisas: Tudo deve partir da sensível e do sabido”,
afirmou Comenius (2006, p. 9). Assim, para esses autores, a função
representativa da linguagem expressa uma correspondência biuní-
voca entre mundo e linguagem. Se a relação entre as palavras e
as coisas não fosse estabelecida no âmbito educacional, as pala-
vras não passariam de sons vazios, expressões sem significados. O
1. Segundo o Dicionário Etimológico Nova Fronteira da Língua Portuguesa (CUNHA, 1999,
p.665), o verbete realidade, na língua portuguesa, remonta ao século XVI. Associado à palavra
real, que se refere “ao que existe de fato, verdadeiro, [...] do baixo latim realis, de res rei, coisa”.
Segundo Hoff e Cardoso (s/d, p.13), a expressão realia está ligada a “[...] (coisas reais): ensino
a partir da realidade do aluno. Realia tomou um sentido mais específico, como um conjunto de
disciplinas que se ensinava após o ler, escrever, calcular e a doutrina cristã, a partir do terceiro
ano, correspondendo à história, geografia e ciências naturais. Por fim, também era considerada
uma disciplina metodológica”. Lúcio Kreutz (1996), ao fazer um estudo sobre os métodos peda-
gógicos praticados no início da república nas escolas de imigrantes alemães no Rio Grande do
Sul, identificou que a “lição das coisas” sinalizava uma nova postura metodológica na escola
da época. Tratava-se, segundo o pesquisador, de uma perspectiva metodológica que buscava
superar a lição de palavras. “Todo o processo escolar, de forma especial, o material didático,
deveria partir da realidade dos alunos e ajudá-los a integrar-se ativamente em seu contexto
social. Um dos termos mais usados para sinalizar essa perspectiva metodológica foi de lições
de coisas (realia) ” (Ibidem, p. 76) [Grifos do autor]. Assim, fazer uso pedagógico das coisas que
circundavam a “realidade” do aluno era designado pelo “termo latino realia [que] significa coisas
reais, coisas objetivas. ” (Ibidem, p.81).](https://image.slidesharecdn.com/ebookcomposicoes-200115152118/85/Com-posicoes-pos-estruturalistas-em-Educacao-Matematica-e-Educacao-em-Ciencias-62-320.jpg)
![62
Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências
S U M Á R I O
mundo funcionaria como uma base física, imóvel, cuja essência seria
expressa pela linguagem. No campo educacional, evitar o esva-
ziamento dos significados seria um a priori para a aprendizagem.
Dessa forma, guardadas as especificidades das formulações de
Ratke (2008), Comenius (2006) e Rousseau (2004), a “realidade”
sensível ou a apreensão de seus movimentos servem como um
aporte fundamental para direcionar o ensino e a aprendizagem do
aluno. Assim, é possível inferir a existência de uma preocupação
pedagógica, já nos séculos XVII e XIII, com a desvinculação entre
o espaço escolar e seu entorno. Tal preocupação estendeu-se e re/
configurou-se no século XX com John Dewey.
Dewey (1959) problematiza uma das caraterísticas que ele
considera inerente a instituição escolar: a sua superficialidade.
Para ele, tal característica pode impulsioná-la facilmente para o
desenvolvimento de práticas pedagógicas “distante[s] e morta[s]
– abstrata[s] e livresca[s]” (Ibidem, p. 9). Isso ocorre, de acordo
com o autor, porque o nível de complexidade de nossa cultura exige
que muito do que se deva aprender esteja vinculado a símbolos
abstratos que, por sua condição, estão distanciados da interação
com fatos e objetos. Tal “inclinação natural” deve ser cuidadosa-
mente remediada através da capacitação de “modos de ensinar
mais fundamentais e eficazes”. Conteúdos distanciados da vida real
e, por isso, sem utilidade prática, considerados “resíduos inúteis do
tempo passado” levavam o professor a perder um tempo precioso,
visto que o programa a ser desenvolvido era muito extenso. A busca
por uma formalização que ignora as necessidades sociais é uma
das críticas da filosofia deweyana voltada à educação.
Assim, a escola, longe de assumir uma postura de impo-
sição, de transmissão direta de conhecimentos, deve entender que
sua eficácia está na possibilidade de harmonia com o meio social
– e as práticas aí inseridas – em que a criança vive. A advertência é
dada pelo filósofo, pois](https://image.slidesharecdn.com/ebookcomposicoes-200115152118/85/Com-posicoes-pos-estruturalistas-em-Educacao-Matematica-e-Educacao-em-Ciencias-63-320.jpg)
![63
Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências
S U M Á R I O
[...] quando as escolas se afastam das condições educacionais
eficazes do meio extra-escolar, elas necessariamente substituem
um espírito livresco e pseudo-intelectual a um espírito social. [...]
Conservando um indivíduo isolado [das atividades extra-escolares],
conseguiremos garantir-lhes a atividade motora e a excitação senso-
rial: mas não poderemos desse modo fazê-lo compreender a signi-
ficação das coisas na vida de que faz parte (DEWEY, 1959, p. 42).
Nesse sentido, Dewey afirma a positividade da interlocução
entre atividades cotidianas como objeto de experiências para ativi-
dades escolares. Tal positividade ocorre em dois aspectos. Por um
lado, permite a visibilidade de conceitos escolares em situações
extraescolares, o que lhe imprime significado e, por outro lado, a
situação, o contexto oferece um direcionamento para o pensar. Esta
interlocução de que fala Dewey fica potencializada na Educação
Matemática visto que:
[...] no caso dos estudos chamados disciplinares ou preponde-
rantemente lógicos, há o perigo de isolar-se a atividade intelectual,
das coisas da vida comum. O professor e o estudante tendem, de
colaboração, a abrir um abismo entre o pensamento lógico como
algo abstrato e remoto, e as exigências particulares e concretas dos
acontecimentos diários. O abstrato tende a remontar-se tão alto e
a afastar-se tanto da aplicação, que perde toda a relação com o
procedimento prático e moral (DEWEY, 1979, p. 68-69).
Nesta perspectiva, a “estratégia metodológica” de aproximar
“as atividades matemáticas da realidade” atravessa séculos e se
reatualiza. Porém, não deixa de ser objeto de necessidade primeira
para as experiências educativas e torna-se prescrição diária ao
professor, que deve ensinar os conteúdos matemáticos relacio-
nados harmoniosamente com a “vida real”. Assim, a vontade de
“realidade”, ou seja, a reivindicação pela “intensidade e o brilho do
real” (LARROSA, 2008, p. 186), a busca pela harmonia e sintonia
com a “realidade” é traduzida, entre outras formas, pela necessi-
dade de estabelecer ligações entre a matemática escolar e a “vida
real”. Seria algo como se a matemática escolar, depois de se afastar
do mundo social – pelas exigências do formalismo e da abstração](https://image.slidesharecdn.com/ebookcomposicoes-200115152118/85/Com-posicoes-pos-estruturalistas-em-Educacao-Matematica-e-Educacao-em-Ciencias-64-320.jpg)









![73
Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências
S U M Á R I O
Levantamos como hipótese que a heterogeneidade das
classes multisseriadas, tenderia a desestabilizar as características que
determinam o currículo de matemática, principalmente a hierarquia e
as separações feitas na listagem dos conteúdos a serem cumpridos
para cada ano/série. Inferimos que se manter em uma ordem de acon-
tecimentos pré-estabelecidos, entendendo-os muitas vezes como o
caminho certo e “natural”, talvez necessitasse de bastante esforço
nessa organização, visto que esta abrigaria em um mesmo espa-
ço/tempo, diferentes idades e anos/séries. Nesta linha de raciocínio
Bauman (1999) aponta que seguir um curso tido como “natural”:
[...] requer um bocado de planejamento, esforço organizado e vigi-
lante monitoramento. Nada é mais artificial que a naturalidade; nada
é menos natural do que se lançar ao sabor das leis da natureza. O
poder, a repressão e a ação propositada se colocam entre a natu-
reza e essa ordem socialmente produzida na qual a artificialidade é
natural. (Ibidem, p.15)
Assim, entendemos que nada há de natural, tudo é arbitrário
e contingente e a própria noção de natural é pura inventividade.
Compreendemos que o solo em que nos movemos é frágil e por este
motivo, temos que artificialmente organizar o mundo para mantê-lo
estável e previsível (BAUMAN, 1999). No campo educativo não é
diferente, pois “a hierarquia especulativa da aprendizagem dá lugar
a uma rede de áreas de investigação, cujas fronteiras respectivas
estão em constate fluxo” (DIAZ, 1998, p.27). Assim, entendemos
que o estipulado como “natural” talvez pudesse sofrer algumas
fissuras dentro do contexto multisseriado. Dessa forma, observar,
analisar e problematizar a forma como este currículo se desenvolve
e o que acontece quando adentra um espaço/tempo regido pela
multiplicidade, é um dos pontos a que este estudo se propôs.
Do ponto de vista metodológico, realizar o movimento de
problematização nos leva a compreender que em um contexto de
pesquisa, a análise e a interpretação de um objeto pode ser lida sob
diferentes lentes e esta condição faz com que tenhamos incertezas](https://image.slidesharecdn.com/ebookcomposicoes-200115152118/85/Com-posicoes-pos-estruturalistas-em-Educacao-Matematica-e-Educacao-em-Ciencias-74-320.jpg)



![77
Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências
S U M Á R I O
[...] um conjunto decididamente heterogêneo que engloba discursos,
instituições, organizações arquitetônicas, decisões regulamentares,
leis, medidas administrativas, enunciados científicos, proposições
filosóficas, morais, filantrópicas. Em suma, o dito e o não dito são os
elementos do dispositivo. O dispositivo é a rede que se pode tecer
entre estes elementos (Ibidem, 2000, p. 244)
Assim, o Dispositivo da Seriação organizaria uma série de
elementos diferentes, tais como: a arquitetura escolar que deve
abrigar diferentes salas de aula, uma para cada ano escolar, o
currículo escolar definido para cada faixa etária, os discursos de
especialistas que afirmam as potencialidades e fragilidades de
cada período da infância, entre outros. Dessa forma, o Dispositivo
da Seriação dita as regras e exige certas configurações para
afirmar como deve ser a organização das escolas. Pontuamos
aqui, que o dispositivo se configura em um conjunto de elementos,
que segundo Foucault (2008, p. 138) “[...] está sempre inscrito em
um jogo de poder, estando sempre, no entanto, ligado a uma ou a
configurações de saber que dele nascem, mas, que igualmente o
condicionam”, ou seja, o dispositivo é como algo que disparasse
uma malha cheia de entrecruzamentos, que dispara e faz com que
certas coisas ocorram.
No entanto, esta malha ao entrar em contato com o modelo
multisseriado encontra algumas resistências. Dessa forma, compre-
endemos que a multisseriação funciona como um contradispositivo
que tende a exercer certa força que embaralha os códigos e fissura
e ou atrita a ordem estabelecida pelo modelo da seriação. Como diz
Mizoguchi (2016) o contradispositivo “opera de forma contrária ao
estabelecido, rompe as estruturas criando novas linhas das prece-
dentes escapa, enfim, as urgências diretivas e diretas do saber e do
poder” (Ibidem, p.94). Na esteira destas premissas, desconfiamos
que talvez algo ocorresse no currículo de matemática desenvol-
vido nesta escola, tal des-confiança foi possível porque o conceito
de currículo que perpassa nosso entendimento está ancorado na
concepção de Corazza (2001) que o entende:](https://image.slidesharecdn.com/ebookcomposicoes-200115152118/85/Com-posicoes-pos-estruturalistas-em-Educacao-Matematica-e-Educacao-em-Ciencias-78-320.jpg)
![78
Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências
S U M Á R I O
[...] como uma linguagem, nele identificamos significantes, signi-
ficados, sons, imagens, conceitos, falas, língua, posições discur-
sivas, representações, metáforas, metonímias, ironias, invenções,
fluxos, cortes.... Assim como o dotamos de um caráter eminente-
mente construcionista. (Ibidem, p.9)
Nessa perspectiva, o currículo é construído por linguagens
de bases históricas e sociais e que por este motivo, é arbitrário
e ficcional (CORAZZA, 2001), é pura inventividade. Fazemos uso
das palavras da autora para pensar que o currículo se constitui por
regras que, a partir das teorias de especialistas, justificam os obje-
tivos que devem ser alcançados para cada etapa do ensino, viabili-
zando a construção de determinados tipos de sujeitos.
Sob a mesma perspectiva teórica, Tomaz Tadeu da Silva
(2010) destaca que talvez o mais importante para destacar na
definição de currículo “seja de saber quais questões uma “teoria”
do currículo ou um discurso curricular busca responder”. (Ibidem,
2010, p.14). Corazza (2001) parece ter definido essa problemática
por intermédio do provocativo título de seu livro que pergunta: “o
que quer um currículo? ” A resposta já aparece de imediato indi-
cando que o currículo tem fome de sujeito, quer forjar certos tipos
de subjetividades. Por este motivo, pode-se inferir que o currículo
é campo de luta, campo de exercício de poder, pois se trata de
uma linguagem que “ao corporificar narrativas particulares sobre o
indivíduo e a sociedade, nos constitui como sujeitos — e sujeitos
também muito particulares”. (SILVA, 1998, p. 195)
Nesta perspectiva, os “sons, imagens, conceitos, falas”, entre
outros que compõem o currículo escolar, são construções contin-
gentes e arbitrárias. Especificamente no que tange aos conceitos,
os chamados conteúdos disciplinares, diríamos que estes se justi-
ficam não somente pela lógica interna da área ao qual pertencem,
mas principalmente nas articulações que possibilitam fazer com as
exigências do campo social mais amplo (SARTORI, 2015). Sendo](https://image.slidesharecdn.com/ebookcomposicoes-200115152118/85/Com-posicoes-pos-estruturalistas-em-Educacao-Matematica-e-Educacao-em-Ciencias-79-320.jpg)


![81
Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências
S U M Á R I O
entendida como aquela baseada nos “[...] planos decenais e nas
políticas públicas de educação, dos parâmetros e das diretrizes,
aquela da constituição e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, pensada e produzida pelas cabeças bem-pensantes a
serviço do poder”. (GALLO, 2003, p. 78). Assim, tal ato, quando
pensado no âmbito da educação, nos remete à relação de forças
no embate entre a educação maior e a educação menor1, pois as
táticas da educação menor são bastante similares as dos grevistas
que trabalhavam nas fábricas (GALLO, 2003).
Neste sentido, acreditamos que talvez, uma das condições
necessárias para pensarmos outro tipo de educação seja uma
docência-sabot que se movimenta “fazendo arte-arteiramente”
contra a maquinaria escolar. No limite, é uma docência que institui
micro-revoluções “como aqueles sindicalistas norte-americanos do
começo do século, que pegavam um trem para o Oeste e que, a
cada estação atravessada, paravam para fundar uma célula, uma
célula de luta” (NEGRI, 2001, p.24). Nossa hipótese é a de que esta
docência que “emperra” a máquina ou que, minimamente, deforma
a esteira de produção afirmando uma educação que,
[...] não está subordinada à representação, à adequação da
verdade, ao dado, antes disso, os instrumentos para pontuar os
traços vitais para a Educação percorrem movimentos de forças, de
resistências, que podem deformar a forma estabelecida por currí-
culos escolares, saberes prontos, conhecimentos interpretados que
desejam modulação universal. Com isso, seria possível compor
cores novas e vibrantes ao novo corpo que deseja nascer, um corpo
alegre, desejante [...] (BRITO, 2015, p. 57)
Tal deformação poderia ser acionada por dois movimentos:
primeiro aquele que estanca a maquinaria e segundo aquele que a
faz ir diferindo de sua função calcada nas leis e interdições e que,
1. Segundo Silvio Gallo (2003, p. 78) “a educação menor é um ato de revolta de resistência.
Revolta contra os fluxos instituídos, resistência às políticas impostas; sala de aula como trin-
cheira, como a toca do rato, o buraco do cão.](https://image.slidesharecdn.com/ebookcomposicoes-200115152118/85/Com-posicoes-pos-estruturalistas-em-Educacao-Matematica-e-Educacao-em-Ciencias-82-320.jpg)

![83
Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências
S U M Á R I O
[...] eu não impeço eles de interagirem um com o outro, ou de certa
forma, o Arthur no ano passado (segundo ano) e outro cole-
guinha (terceiro ano), que às vezes eles estavam fazendo um
problema de multiplicação e ele dizia: o fulano quanto que é, tanto
vezes tanto? Há é tanto... [Grifos nossos]
Aí professor posso tentar fazer aquela lá também? Claro pode
tentar fazer... Eu não posso deixar de provocar ele, ou fazer com
que ele em certo momento ajude aquele outro aluno a resolver aquele
problema, porque ele também está aprendendo. [Grifos nossos]
[...] nós somos uma turma, não interessa série, só que isso
ainda é um vício do próprio professor, o segundo ano, terceiro ano, a
fila ou alguma coisa assim, isso eu acho que as instituições têm que
começarem a se organizarem, para que isso em uma multisseriada
fique claro que é uma turma, a turma, e não são várias turmas
que tenho ali. [Grifos nossos]
Daí eu vi que ele sabia os nomes dos números, que ele sabia
essa classificação de unidade, dezena centena e milhar ...então
aquilo ali eu fui dando e fui vendo que ele sabia e fui e fui indo,
recapitulei com o quinto, porque vou saber se o quinto ainda se lembra
o que leu, se não ficou nada e aí fui indo, fui indo... o que dá certo
dá, o que não dá eu volto, porque tem uns que, as vezes os do
quinto, tem umas do quinto que as vezes precisam de mais atenção,
eles conseguem trabalhar em grupo e desenhar todo mundo junto no
mesmo cartaz, assim uns quatro, cinco. Eu não consigo assim, eu
procuro nem fazer essa divisão na minha cabeça sabe? Porque
eu sei que ela não vai dar certo. [Grifos nossos]
Neste sentido, a hierarquização e os pré-requisitos que
formam a estrutura do ensino de matemática, em algumas vezes,
são fissurados pelos encontros que ocorrem dentro do processo de
ensino e aprendizagem na sala de aula, pois o professor não coloca
regras, ele apresenta o conteúdo e deixa os acontecimentos norte-
arem o processo sem separações, ele vai seguindo na direção do
que “dá certo, dá e o que não dá, volta”. Dessa forma, vez que outra,
dentro deste processo de tatear até dar certo, sob o descuido do
Dispositivo da Seriação, as aulas de matemática ensaiam fissuras
na suposta linearidade e na necessidade de pré-requisitos para a
efetivação das aprendizagens da matemática. Sendo assim, utili-
zando a ideia de Foucault (2000) esta forma de aprender, “agita o](https://image.slidesharecdn.com/ebookcomposicoes-200115152118/85/Com-posicoes-pos-estruturalistas-em-Educacao-Matematica-e-Educacao-em-Ciencias-84-320.jpg)
![84
Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências
S U M Á R I O
que se percebia imóvel; ela fragmenta o que se pensava unido; ela
mostra a heterogeneidade do que se imaginava em conformidade
consigo mesmo” (Ibidem, p. 15).
Dessa forma, os professores quando ensinavam matemática,
pareciam minimizar a força da premissa que afirma que “a listagem
dos conteúdos também tem o poder de determinar a ordem ou
sequência em que esses conteúdos “devem” ser ensinados”
(SCHMITZ, 2002, p.114). Pareceu-nos que a sequência e a ordem
eram fissuradas pela metodologia do “tatear”, do “fui indo, fui indo”.
[...] pedi que quatro meninos [do primeiro ano] pegassem, por
exemplo; três pecinhas cada um e botassem dentro da caixa. Eles
foram lá e contaram e observaram a contagem deles para ver se
contaram certo e botaram na caixa e..... Fechei a caixa né, então
perguntei para eles, tanto para o primeiro, segundo e terceiro,
perguntava aleatoriamente, para ver o conhecimento deles, para eles
darem a ideia de quanto teria dentro daquela caixa, só observando,
então alguns iam dizendo os valores e no decorrer dessa atividade
deu para observar que alguns já iam apontando para os colegas
para ter a contagem do valor exato. [Quem respondeu ao ques-
tionamento foi uma menina do primeiro ano, após fazer sua
própria contagem mentalmente, explicando que tinha quatro
meninos com três pecinhas... ou seja, três vezes quatro]. E
assim, teve uma hora, deu para notar também que ela contou e ela
achou o resultado e quando perguntei para os outros eles falaram
que não era o resultado certo, aí ela começou a pensar e começou
a contar de novo e disse assim: Professor é doze? Tipo assim
ela contou e deu de novo o resultado dela, e era doze, mas
como os outros falaram outro resultado ela ficou na dúvida.
[...] Daí tu imagina, pode dizer não é para você aprender ainda
só porque é multiplicação? [Grifos nossos]
Entendemos que a desconfiança de que os cálculos feitos
pela menina estivessem corretos, fazia parte de uma estratégia do
Dispositivo da Seriação, pois pairava a dúvida de que uma menina
do primeiro ano pudesse resolver situações matemáticas destinadas
ao terceiro ano. Talvez o fato de presenciar, por diversas vezes,
situações que envolviam o conceito de multiplicação tenha possi-
bilitado a resolução da questão. Tal suposição advém também da](https://image.slidesharecdn.com/ebookcomposicoes-200115152118/85/Com-posicoes-pos-estruturalistas-em-Educacao-Matematica-e-Educacao-em-Ciencias-85-320.jpg)
![85
Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências
S U M Á R I O
leitura do texto “A Conversar com as Estátuas” de Duarte e Taschetto
(2014, p.54) que afirma que no espaço multisseriado “não dá para
tapar os ouvidos das crianças”, as crianças acabam se envolvendo
em aprendizagens que a princípio não seriam destinadas a sua
idade e ano escolar. Assim, o professor parecia proporcionar aos
alunos a experiência de aprender, de vivenciar e de poder sentir as
coisas, mesmo que tais crianças não se constituíssem nos “corretos
destinatários”, dito de outro modo, tratava-se de uma docência que
“não reduz o acontecimento, mas o sustenta como irredutível.”
(LARROSA, 2011, p. 6). Uma docência-sabot.
Assim, a interação, a provocação e o tatear o caminho “e fui
e fui indo”, pareciam ser os alicerces de uma prática que se cons-
tituía ao fazer-se. Parecia não existirem certezas, pontos exatos de
chegada e a “não divisão”, instituía uma docência que, em meio a
um caos, fazia sucumbir à relação de força que buscava estruturar
a educação maior em idade/ano escolar. Ocorreria aí uma situação
que movimentaria mais o devir em relação ao dever? Acreditamos
que sim, pois o processo educativo parecia se movimentar em torno
dos encontros, de uma educação sem imagens fixas, que é “retirada
do campo das modelações para as modulações, variações, encon-
tros, interseções [...]” (BRITO, 2015, p. 39). Não havia garantias do
ponto de chegada, tratava-se de um movimento de ziguezaguear “e
aí fui indo, fui indo... o que dá certo dá, o que não dá eu volto”, que
seguia o fluxo determinado pelo instante em que se efetuava. Dito
de outra forma, eram os movimentos instituídos no momento, os
condicionantes para prosseguir caminhando e estas pequenas inci-
sões/sabotagens na estrutura, parecia danificar os automatismos
da maquinaria escolar que delimitava as aprendizagens em função
da idade do aluno. Assim, a pretensão de classificações e hierarqui-
zações encontravam obstáculos em uma turma multisseriada, pois
havia encontros, interações e movimentos de classes que ora se
agrupavam de uma determinada forma, ora de outra e o arrastar de
cadeiras mostrava a intensidade de tais encontros.](https://image.slidesharecdn.com/ebookcomposicoes-200115152118/85/Com-posicoes-pos-estruturalistas-em-Educacao-Matematica-e-Educacao-em-Ciencias-86-320.jpg)
![86
Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências
S U M Á R I O
Assim, não encontramos em nossa investigação uma identi-
dade de grupo: grupo do primeiro ano, do segundo ano, etc, mas
encontros, afinidades que surgiam e se desfaziam, eram momentâ-
neos. No entanto, às vezes o fluxo era contido, talvez uma artimanha
do Dispositivo Seriado fazendo força para recuperar o seu lugar e
retomar seu espaço. Tal afirmação se baseia no fato de que, em
alguns momentos, o professor justificava a formação de grupos hete-
rogêneos a partir de sua concepção de “níveis de aprendizagem”.
[...] isso, aí vamos dizer assim, eu vou trabalhar com os números
decimais, a partir de um jogo onde todos eles podem jogar o mesmo
jogo, porém a cobrança deles vai ser em níveis diferentes, não
interessa se ele é do primeiro, segundo ou terceiro, a partir
do momento que ele conseguir realizar o objetivo ele vai partir
para o outro, se eu vejo que ele não consegue, por exemplo,
contar o jogo com os dados, ele não conseguiu contar o valor
numérico, ele tem que continuar trabalhando aquele valor ali, só que
dentro do jogo eu trabalho o valor, mas também tem que trocar a
unidade por dezena, entendeu? De acordo com a pontuação que vai
fazendo. [Grifos nossos]
[...] o aluno que tem dificuldade, ele vai precisar de ajuda daqueles
colegas [...] então o meu papel, os dos próprios alunos é ajudar
ele a fazer junto com o grupo [...] ora por aproximação de níveis,
ora por níveis diferenciados, porque eles terminam a atividade e
perguntam: professor posso ajudar o outro colega? - Mas tu sabes
como o professor pergunta as coisas para ele - há eu sei professor,
então posso ajudar ele? Eles vão reproduzindo aquilo que eu ques-
tiono com os próprios colegas, mas pensa nessa letra aqui, será que
começa com ela? .... Vai ali no cartaz, será que é essa, será que não é?
Então eles também não estão ali dando respostas... [Grifos nossos]
Dessa forma, em alguns momentos o Dispositivo da Seriação
fazia imperar situações cotidianas ao modelo seriado. Entendíamos
que, de vez enquanto, pareciam ser colocados biombos, paredes
imaginárias na sala que tentavam separar os anos escolares em
níveis de aprendizagem. Como afirma Bauman (1999), a classifi-
cação é o modo de evitar o desconforto da desordem, é propor-
cionar ao mundo uma ordenação, é, “manipular suas probabilidades,
tornar alguns eventos mais prováveis que outros, comportar-se](https://image.slidesharecdn.com/ebookcomposicoes-200115152118/85/Com-posicoes-pos-estruturalistas-em-Educacao-Matematica-e-Educacao-em-Ciencias-87-320.jpg)
![87
Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências
S U M Á R I O
como se os eventos não fossem casuais ou limitar ou eliminar sua
casualidade” (Ibidem, 1999, p.9). Assim, a classificação por níveis
parecia querer ordenar o espaço da aula e prover-lhe uma estrutura.
No entanto, percebemos que estes arranjos, muitas vezes
não se sustentavam, pois a docência-sabot buscava não distin-
guir idades e ano escolar e simplesmente, disparava algo para que
todos fizessem suas apropriações. Dessa forma, por mais que o
Dispositivo Seriado agisse com força sobre os fazeres e saberes
docentes identificamos várias situações em que os professores
escapavam de tal força e propunham experiências outras.
Bom, eu acho que até de repente tu já observou, sempre quando
passo os conteúdos, na realidade eles estão sempre interli-
gados, tento fazer de uma forma que um ajude o outro em
determinados momentos, então esses alunos do primeiro ano
eles estavam, vamos dizer assim, em uma atividade deles, contar
o valor que eu tinha pedido para eles pegarem... há... sabe contar
até quatro, beleza, eu estava aprendendo trabalhando o conteúdo
e eu já estava trabalhando com o terceiro, eles tinham que prestar
a atenção para ver se o colega tinha contado certo, então eles
também estavam voltando ao conteúdo anterior lá deles, eles tinham
que prestar a atenção e alertar os colegas que fizeram a contagem
errada. [Grifos nossos]
Vamos dizer, não posso passar um problema de multipli-
cação mais complexa para um aluno de primeiro ano, mesmo
sabendo que ele tem condições... Mas eu não posso deixar de
provocar ele, ou fazer com que ele em certo momento ajude aquele
outro aluno a resolver aquele problema, porque ele também está
aprendendo. [Grifos nossos]
Agora o pessoal... Aqui vão se reunir os do segundo ano e terceiro,
eu divido, tu divides, mas como eu digo, mas ainda há inte-
ração entre eles, eu não os impeço de interagirem um com o outro,
ou de certa forma. [Grifos nossos]
Dessa forma, o professor não distinguia de forma rígida, as
proposições feitas sobre os conteúdos pertinentes a cada série
nas aulas de matemática. Pareceu-nos, nas entrevistas, que ele às](https://image.slidesharecdn.com/ebookcomposicoes-200115152118/85/Com-posicoes-pos-estruturalistas-em-Educacao-Matematica-e-Educacao-em-Ciencias-88-320.jpg)


![90
Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências
S U M Á R I O
do “faça assim!” tem gerado diferentes experiências educativas
que, impulsionadas por movimentos criativos, minimizam a força
do Dispositivo da Seriação. Assim, tal lacuna abre espaço para
os devires e para a constituição de uma “docência-sabot” que
se efetua em um processo de resistência ao que é imposto, pois
resistir é “enveredar para outros modos de subjetivação tomando
atalhos por onde o discurso que determina a verdade do sujeito não
entra”. (SOUZA, 2003, p.41). Poderíamos pensar que a docência-
-sabot permite a configuração de brechas, de um processo educa-
tivo ainda sem imagens, pois,
[...] é possível pelas brechas, pelas fissuras em sala de aula, pelo
entre lugar, pelo meio da ação educativa, promover processos inven-
tivos e criadores e fazer a diferença escorrer, pois é nesse espaço da
fronteira que se pode pensar uma educação em trânsito [...] (BRITO,
2015, p. 35).
É no sentido de perceber esta educação em trânsito que
nosso olhar para o campo foi mobilizado. Ao longo da pesquisa,
fomos percebendo que a sala de aula multisseriada é um espaço
de resistência, pois ela tende a romper com o estabelecido,
fazendo com que emerjam movimentos que desestabilizam o
que é naturalizado pela maquinaria educacional. Tal condição
seria, em nosso entender, propícia para a configuração de novas
subjetividades docentes, principalmente para uma docência-sabot
que busca fazer arte-arteiramente e que, fazendo força sobre o
Dispositivo da Seriação provoca algumas fissuras nas aulas de
matemática. Tal condição pode ser propicia para a emergência de
outras possibilidades de fazer educação, pareceu-nos existir um
processo inventivo, que aberto pelos processos de invisibilização,
estimula a criação e libera certos fluxos.
Para finalizar, destacamos que provavelmente as tensões
não sejam somente as que, neste trabalho identificamos, mas foi
o que vimos, sentimos e interpretamos. Como últimas palavras,](https://image.slidesharecdn.com/ebookcomposicoes-200115152118/85/Com-posicoes-pos-estruturalistas-em-Educacao-Matematica-e-Educacao-em-Ciencias-91-320.jpg)






![97
Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências
S U M Á R I O
a condição necessária de ser de origem grega. Segundo o soció-
logo Guttmann (2001), os competidores participavam das provas
que compunham os jogos, que demarcavam uma festividade para
demonstrar o vínculo religioso que possuíam e festejar a devoção
aos deuses. O vencedor da olimpíada era aquele competidor, grosso
modo, que chegasse ao final de todas as provas (o competidor não
possuía uma única especialidade olímpica, ele participava de todas
as provas), tendo vencido o maior número de adversários e com
a melhor forma física ao final dos eventos, ou o que apresentasse
menos escoriações, machucados e lesões. Em outras palavras,
aquele que permanecesse vivo após participar de todas as provas.
Nesse cenário, a competição era uma questão de chegar ao final
de todas as provas com vida, vencendo algumas ou, ao menos,
sobrevivendo. A vitória era suplantada pela participação.
A Olimpíada Moderna é um jogo que se diferencia da
Olimpíada da Era Antiga inicialmente por não possuir o vínculo reli-
gioso, mas possui regras bem definidas para a participação dos
competidores. Segundo Guttmann (1978), a Olimpíada Moderna
apresenta características próprias da Modernidade: secularidade,
igualdade, especialização, racionalização, burocracia, quantifi-
cação e busca pela quebra de recordes.
A secularização consiste na não vinculação do esporte com o terreno
sagrado. [...] O esporte solicita, pelo menos teoricamente, que todos
sejam admitidos por suas habilidades atléticas e que a regra seja
igual para todos os competidores. [...] especialização pode ser
entendida como o que hoje é conhecido por profissionalismo. [...] A
racionalização se apresenta como a adoção de regras específicas e
o uso de equipamentos tecnológicos. [...] A burocratização trata da
organização institucional que estabelece e decide as regras e fisca-
liza os jogos. Já a quantificação representa nos esportes modernos
a vida cotidiana, um mundo de números que é extremamente enfa-
tizado e mensurável no esporte moderno – como, por exemplo, as
estatísticas exibidas nas partidas de futebol (chutes a gol, número
de faltas, escanteios, tempo e percentual de posse de bola, etc.) [...]
busca pela quebra de recordes refere-se à superação do superado.
(LIMA; MARTINS; CAPRARO, 2009, p. 3-4).](https://image.slidesharecdn.com/ebookcomposicoes-200115152118/85/Com-posicoes-pos-estruturalistas-em-Educacao-Matematica-e-Educacao-em-Ciencias-98-320.jpg)



![101
Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências
S U M Á R I O
não conseguiam ser premiados1
, o que é um imperativo do jogo
neoliberal: a inclusão. Temos aí, uma das principais regras do jogo
neoliberal. Foucault (2008, p. 277-278) destaca que
[...] a sociedade inteira deve ser permeada por esse jogo econômico e
o Estado tem por função essencial definir as regras econômicas do jogo
e garantir que sejam efetivamente bem aplicadas. [...] cabe à regra do
jogo imposta pelo Estado fazer que ninguém seja excluído desse jogo.
O Governo apresenta outra significação, da palavra “olim-
píada”, junto à sociedade e à comunidade escolar, que é uma rede
de táticas que permite tornar visível o desempenho dos alunos das
escolas públicas brasileiras em matemática, vigiando-os, hierarqui-
zando-os de acordo com as notas que eles obtêm nas provas que
avaliam conhecimentos matemáticos; ainda, pode-se pensar que
uma das táticas utilizadas pelo Governo para que alunos obtenham
bom desempenho em matemática é serem competitivos.
Tomando as discussões realizadas sobre “olimpíada” como
jogo e observando as semelhanças entre os jogos (várias olimpí-
adas), volto a olhar para o contexto em que a OBMEP está inserida,
imerso no cenário contemporâneo – e, na ordem do discurso dessa
conjuntura, está a inclusão.
Esse jogo só é possível em virtude de seus jogadores conhe-
cerem como jogar e saberem quem pode tomar parte no jogo, já
que se sabe que somente (até o ano de 2018) alunos de escolas
públicas podem participar da OBMEP. Esse outro significado de
1. Segundo a professora Ana Catarina Hellmeister (uma das coordenadoras regionais da OBMEP,
do estado de SP), em uma entrevista dada ao R7.com, a Paulo Amorin, no ano de 2010, a OBMEP
foi criada a pedido do então presidente da república Luiz Inácio Lula da Silva para a presidente da
SBM (Sociedade Brasileira de Matemática), a professora Suely Druck. Esse fato ocorreu quando
o presidente Lula, que estava participando da premiação dos medalhistas de ouro da Olimpíada
Brasileira de Matemática (OBM) questionou à presidente da SBM: “entre esses medalhistas,
existe algum moleque de escola pública?”. E a resposta de Suely foi que “infelizmente, não havia
nenhum”. Esse foi o fato que impulsionou os idealizadores da OBMEP, na sua grande maioria, os
que já haviam criado a OBM, a criarem a competição.](https://image.slidesharecdn.com/ebookcomposicoes-200115152118/85/Com-posicoes-pos-estruturalistas-em-Educacao-Matematica-e-Educacao-em-Ciencias-102-320.jpg)

![103
Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências
S U M Á R I O
GIONGO, Ieda Maria. Educação e produção do calçado em tempos de
globalização: um estudo etnomatemático. 2001. Dissertação (Mestrado em
Educação). Programa de Pós- Graduação em Educação. UNISINOS, São
Leopoldo, 2001.
GIONGO, Ieda Maria. Educação matemática e disciplinamento de corpos
e saberes: um estudo sobre a Escola Estadual Técnica Agrícola Guaporé.
2008. Tese (Doutorado em Educação) -- Programa de Pós-Graduação,
Universidade do Vale do Rio dos Sinos - Unisinos, São Leopoldo, 2008.
GUTTMANN, A. From ritual to record: the nature of modern sports. New
York: Columbia University, 1978.
GUTTMANN, A.; THOMPSON, L. B. Japanese sports: a history. Hawaii:
University of Hawaii, 2001.
JUNGES, Débora de Lima Velho. Família, escola e educação matemática:
um estudo em uma localidade de colonização alemã do vale do rio dos
sinos - RS. 2012. Dissertação (Mestrado em Educação) -- Programa de
Pós- Graduação em Educação, Universidade do Vale do Rio dos Sinos –
Unisinos, São Leopoldo, 2012.
KNIJNIK, Gelsa. Exclusão e resistência: educação matemática e
legitimidade cultural. Porto Alegre: Artes Médicas, 1996.
KNIJNIK, Gelsa. Currículo, etnomatemática e educação popular: um
estudo em um assentamento sem terra. Currículo Sem Fronteiras, [S.l.], v.
3, n. 1, p. 96-110, jan./jun. 2003.
LIMA, Mariza Antunes de; MARTINS, Clóvis J. ; CAPRARO, André Mendes.
Olimpíadas modernas: a história de uma tradição inventada. In: PENSAR a
prática. Goiânia: Universidade Federal de Goiás – UFG, 2009. p. 1-11, v.12.
MACIEL, Marcos Vinícius Milan. GEMath – A criação de um grupo de
estudos segundo fundamentos da educação da matemática crítica: uma
proposta de Educação Inclusiva. 2008. 135 f. Dissertação (mestrado em
Educação Matemática) - - Universidade Federal do Rio Grande do Sul –
UFRGS, Porto Alegre, 2008.
OLIVEIRA, Sabrina Silveira de. Matemáticas de formas de vida de
agricultores do município de Santo Antônio da Patrulha. 2011. Dissertação
(Mestrado em Educação) -- Programa de Pós- Graduação em Educação,
Universidade do Vale do Rio dos Sinos – Unisinos, São Leopoldo, 2011.
PERAINO, Mariangela Alonso Capasso. Adolescente com altas
habilidades-superdotação de um assentamento rural: um estudo de caso.](https://image.slidesharecdn.com/ebookcomposicoes-200115152118/85/Com-posicoes-pos-estruturalistas-em-Educacao-Matematica-e-Educacao-em-Ciencias-104-320.jpg)













![117
Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências
S U M Á R I O
Quando me refiro à estratégia, entendo-a na ordem do planeja-
mento, da trajetória a ser tomada; e “por táticas entendo as ações/
praticas micropolíticas que conduzem as condutas dos sujeitos,
encaminhando para formas específicas de governamento das
subjetividades” (SILVA, 2008, p. 71, apud, PINHEIRO, 2014, p. 33)
Esta estratégia de governamento está atrelada à sociedade
neoliberal em que os sujeitos não precisam ser iguais aos outros
e são respeitadas suas limitações, mas dos quais se espera flexi-
bilidade na formação, para realizar as adequações necessárias às
demandas do mercado. Percebe-se que os discursos de inclusão
atendem a uma privatização da educação, ao sujeito da diferença
cabe uma adequação à lógica neoliberal em que, como diz na
fachada de uma biblioteca nos Estados Unidos, “Knowledge is
power” [Conhecimento é poder].
Discursos de inclusão e exclusão são postos pelo jogo econô-
mico de um Estado neoliberal no qual, segundo Lopes (2009), é
possível apontar três regras: “manter-se sempre em atividade” (p.
109), “todos devem estar incluídos” (p. 110) e “desejar permanecer
no jogo” (p. 111). Nessa lógica, um dos imperativos é: “o currí-
culo torna-se flexível para adaptar os sujeitos às novas exigências”
(KLEIN, 2009, p. 157). Exigências que enfatizam as “capacidades
que estão ligadas à autocorreção e à autoavaliação” (p. 156) de um
sistema que preconiza o consumo desenfreado e “a seleção dos
melhores, homogeneizando e, ao mesmo tempo, individualizando
os sujeitos ao celebrar as diferenças.” (p. 157)
Cabe ressaltar que o impulsionador das problematizações
inferidas neste estudo foram as reflexões sobre inclusão e verdades
naturalizadas sobre a Matemática, tais como, a mãe de todas as ciên-
cias, a disciplina que está presente em tudo o que vemos, ou ainda
(...) “para aprender matemática o aluno deve ter raciocínio lógico”
(GUIMARÃES, 2009), “aprender matemática é difícil” (SILVA, 2008),
“a modelagem matemática utiliza o interesse do aluno para ensinar
matemática” (QUARTIERI, 2012), “a importância de trabalhar com a](https://image.slidesharecdn.com/ebookcomposicoes-200115152118/85/Com-posicoes-pos-estruturalistas-em-Educacao-Matematica-e-Educacao-em-Ciencias-118-320.jpg)
![118
Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências
S U M Á R I O
“realidade” para ensinar matemática” (DUARTE, 2009) e “a impor-
tância do uso do material concreto nas aulas de matemática”
(KNIJNIK; WANDERER, 2007). (PINHEIRO, 2014, p.15).
Esses discursos reforçam a posição hegemônica da
Matemática; tenciona-se uma discussão frente à Matemática
escolar e à possibilidade de esta assumir um papel de destaque na
in/exclusão escolar dos sujeitos (usuários) do GerAção/POA, parti-
cularmente nas Oficinas de Geração de Renda.
Essa Matemática considerada universal, inquestionável,
neutra e isenta de valores, cujos conteúdos são vistos como inde-
pendentes, assumindo o status de os únicos corretos, sem rela-
ções com o contexto social, cultural e político, “ocupa o lugar das
disciplinas que mais reprova o aluno na escola” (SILVEIRA, 2000,
p. 1). Nesse sentido, a Matemática já é excludente, pois, se assu-
mirmos esses discursos como verdades imutáveis, admitiremos o
discurso de que a Matemática é para poucos ou de que quem sabe
Matemática é inteligente.
Com esse olhar, naturaliza-se o lugar de destaque que a mate-
mática ocupa e não só porque tem base na razão, mas também por ser
[...] tida como indispensável para o desenvolvimento da sociedade
com uma racionalidade ocidental. O sujeito deve primar pela ordem,
pela racionalidade, pela resolução de problemas utilizando-se de
métodos, os quais devem ser criados a partir das “partes de um
todo”, ou seja, ter uma racionalidade, e o sujeito deve ser o da razão.
(PINHEIRO, 2014, p. 76)
Com esse olhar, procurou-se, nos discursos produzidos pelos
funcionários do GerAção/POA, se as matemáticas necessárias para
os usuários serem protagonistas da própria vida, poderiam propor-
cionar ferramentas para que os usuários possam analisar o mundo
de maneira a não serem refém de discursos massificadores e, que
esses sujeitos “não se apaixonem pelo poder” (FOUCAULT, 1991,
p.2). Isso porque se reconhece a possibilidade de uma Matemática](https://image.slidesharecdn.com/ebookcomposicoes-200115152118/85/Com-posicoes-pos-estruturalistas-em-Educacao-Matematica-e-Educacao-em-Ciencias-119-320.jpg)






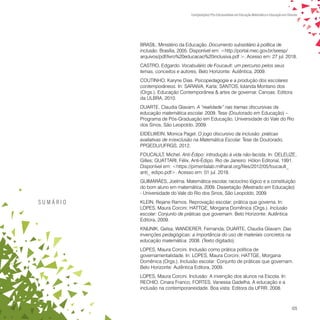
![126
Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências
S U M Á R I O
PINHEIRO, Josaine de Moura. Estudantes forjados nas arcadas do Colégio
Militar de Porto Alegre (CMPA): “novos talentos” da Olimpíada Brasileira de
Matemática das Escolas Públicas (OBMEP). 2014. 228 f. Tese (Doutorado
em Educação) – Programa de Pós-Graduação em Educação - UNISINOS.
Universidade do Vale do Rio dos Sinos, São Leopoldo-RS.
QUARTIERI, Marli. Jogos de linguagem e educação matemática em
Curso de Tecnologia em Gestão. 2012. Tese (Doutorado em Educação) -
Universidade do Vale do Rio dos Sinos, São Leopoldo, 2012.
ROPOLI, Edilene Aparecida, [et.al.]. A Educação Especial na Perspectiva
da Inclusão Escolar: a escola comum inclusiva. Brasília: Ministério da
Educação, Secretaria de Educação Especial; [Fortaleza]: Universidade
Federal do Ceará, 2010. v. 1. (Coleção A Educação Especial na
Perspectiva da Inclusão Escolar).
SILVA, Roberto Rafael Dias da. Universitários S/A: estudantes universitários
nas tramas de vestibular/ZH. São Leopoldo: UNISINOS, 2008. Dissertação,
Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade do Vale do Rio
dos Sinos, São Leopoldo, 2008.
SILVEIRA, Marisa Rosâni Abreu da. “Matemática é difícil”: um sentido
pré-construído evidenciado na fala dos alunos. Disponível em:
<www.25reuniao.anped.org.br/marisarosaniabreusilveirat19.rtf>. Acesso
em: 24 jul. 18.
TRAVERSINI, C. S.; BALEM, N.; COSTA, Z. Que discursos pedagógicos
escolares são validados por professores ao tratar de metodologias de
ensino? In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO UNISINOS:
PEDAGOGIAS (ENTRE) LUGARES E SABERES, 5., São Leopoldo, 2007.
Anais. São Leopoldo: Casa Leria, 2007.](https://image.slidesharecdn.com/ebookcomposicoes-200115152118/85/Com-posicoes-pos-estruturalistas-em-Educacao-Matematica-e-Educacao-em-Ciencias-127-320.jpg)





![132
Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências
S U M Á R I O
Já enunciado seria compreendido como aquilo que atra-
vessa as falas e os escritos, mas que não seria nem as falas nem
os escritos, ou seja, enunciado seria o que possibilita a existência
de uma língua, haja visto, que “a língua só existe a título de sistema
de construção para enunciados possíveis; mas, por outro lado, ela
só existe a título de descrição (mais ou menos exaustiva) obtida a
partir de um conjunto de enunciados reais. ” (FOUCAULT, 2008, p.
96). Com isso, um enunciado seria raro, ou seja, é menos do que os
atos de fala ou de escrita. Um enunciado também seria raro, pelo
fato de ser em menor número do que a combinação possível de
signos existentes, ou seja:
[...] poucas coisas, em suma, podem ser ditas, explicam que os
enunciados não sejam, como o ar que respiramos, uma transpa-
rência infinita; mas sim coisas que se transmitem e se conservam,
que têm um valor, e das quais procuramos nos apropriar; que repe-
timos, reproduzimos e transformamos. (FOUCAULT, 2008, p. 136).
Cabe também destacar que trabalhamos na exterioridade do
dito, ou seja, nosso trabalho se assemelha ao do arqueólogo que
procura no terreno diferentes objetos que contribuirão para contar
uma história. Com isto, quando encontra os diferentes artefatos,
não se interessa em abri-los para procurar o que há dentro deles,
mas procura na superfície destes vestígios, pistas que ajudarão a
entender um pouco a população que ali viveu. Assim, não procu-
ramos interpretar o que nos foi dito, nem pensávamos que algo
estivesse sendo-nos ocultado, mas trabalhamos na superfície
dos enunciados, entendendo que “não há texto embaixo, portanto
nenhuma pletora. O domínio enunciativo está, inteiro, em sua
própria superfície. Cada enunciado ocupa aí um lugar que só a ele
pertence. ” (FOUCAULT, 2008, p. 135).
Um enunciado teria, ainda, algumas características que
lhes são próprias, como o grau de remanência, os fenômenos de
recorrência e a forma de aditividade própria do enunciado. O grau](https://image.slidesharecdn.com/ebookcomposicoes-200115152118/85/Com-posicoes-pos-estruturalistas-em-Educacao-Matematica-e-Educacao-em-Ciencias-133-320.jpg)
![133
Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências
S U M Á R I O
de remanência de um enunciado tratar-se-ia dos suportes que um
enunciado utiliza para sua conservação, ou seja, livros, bibliotecas.
Com isso, “a remanência pertence, de pleno direito, ao enunciado;
o esquecimento e a destruição são apenas, de certa forma, o grau
zero da remanência.”. (FOUCAULT, 2008, p. 140). Já os fenômenos
de recorrência seriam o “campo de elementos antecedentes em
relação aos quais se situa [um enunciado], mas que tem o poder de
reorganizar e de redistribuir segundo relações novas” (FOUCAULT,
2008, p. 140), ou seja, a recorrência seria os enunciados que já
estão em circulação e que sustentam a emergência de outros enun-
ciados. Por último, um enunciado teria ainda uma forma de aditi-
vidade, que seria a maneira específica que diferentes discursos
têm de “se compor, de se anular, de se excluir, de se completar, de
formar grupos mais ou menos indissociáveis e dotados de proprie-
dades singulares”. (FOUCAULT, 2008, p. 140).
Além dos conceitos acima, que nos ajudaram a construir
outros olhares para o material que emergiu, também entendemos
a verdade como invenção, ou seja, “a verdade é deste mundo; ela
é produzida nele graças a múltiplas coerções e nele produz efeitos
regulamentados de poder”. (FOUCAULT, 2016, p. 52). Com isto, não
existiria uma verdade absoluta ou uma verdade a priori, ou seja,
cada sociedade e cada época elegem os procedimentos neces-
sários para a obtenção da verdade, e quais conhecimentos serão
considerados verdadeiros. Neste sentido, poderíamos propor que,
na atualidade, os conhecimentos pertencentes ao campo científico
são compreendidos como “verdades contemporâneas”.
Farejar o local...
Ao retroceder no tempo começo a lembrar-me de quando ainda
era um membro da comunidade canina, partilhando suas preo-
cupações, um cão entre cães e após um exame mais minucioso](https://image.slidesharecdn.com/ebookcomposicoes-200115152118/85/Com-posicoes-pos-estruturalistas-em-Educacao-Matematica-e-Educacao-em-Ciencias-134-320.jpg)
![134
Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências
S U M Á R I O
descubro que desde o início percebi alguma discrepância, alguns
pequenos desajustamentos, causando uma ligeira sensação de
mal-estar [...]. (KAFKA, 1998, p. 7).
Devir-cão para farejar o lugar, sentir seus odores e seus sons.
Tornar-se aquilo que ainda não se é; experimentar sensações outras
e intuições selvagens. Deixar-se surpreender pelo inesperado e
pela imprevisibilidade dos momentos e dos encontros. E assim, não
como um cão doméstico, mas quem sabe, como uma alcateia, nos
aventuramos por lugares que nos eram desconhecidos. E, como
lobos nômades que não cobiçavam dominar espaços, mas criar
alguns contornos transitórios, nos propomos a pesquisar o território
do curso de Licenciatura em Educação do Campo da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul- Campus Litoral Norte.
Cabe destacar que os cursos de Licenciatura em Educação
do Campo surgem a partir da publicação do Edital nº 2, de 23 de
abril de 2008, da SESU/SETEC/SECADI/MEC como parte integrante
do Programa de Apoio à Formação Superior em Licenciatura em
Educação do Campo – PROCAMPO. Neste edital foi realizada uma
chamada pública para as Universidades Federais interessadas em
oferecer tal curso, sendo o critério de seleção a avaliação dos PPCs
(Projeto Pedagógico de Curso) apresentados pelas instituições
proponentes. Estes deveriam contemplar duas especificidades:
a Pedagogia da Alternância e a organização curricular por áreas
de conhecimento. Além disso, era especificada a necessidade de
conhecer a realidade da comunidade que seria contemplada com o
curso. Neste edital foram selecionadas 04 Universidades. Posterior
a este, foram publicados o Edital nº 9, de 20 de abril de 2009 e o
Edital nº 2, de 05/09/2012 que contemplou 45 Universidades.
Assim, a Pedagogia da Alternância, a organização dos conte-
údos por área de conhecimento e a interdisciplinaridade são espe-
cificidades deste curso. Isto posto, procuramos entender porque a](https://image.slidesharecdn.com/ebookcomposicoes-200115152118/85/Com-posicoes-pos-estruturalistas-em-Educacao-Matematica-e-Educacao-em-Ciencias-135-320.jpg)
![135
Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências
S U M Á R I O
interdisciplinaridade1
foi escolhida como perspectiva que estrutu-
raria o currículo dos cursos de Licenciatura em Educação do Campo
no Brasil e nos deparamos com a recorrência da expressão “coleti-
vidade” nas enunciações dos autores do referido curso (FERREIRA
(2014); MOLINA (2014); LOPES (2014); BIZERRIL (2014); LOPES
(2014). Deste modo, pareceu-nos que, para estes autores, a cole-
tividade seria estruturante para a Educação do Campo e se cons-
tituiria em uma das condições de possibilidade para a construção
de um currículo interdisciplinar, por área do conhecimento. Isto
pode ser observado no trecho abaixo, quando Ferreira e Molina
(2014) afirmam que o trabalho coletivo seria tão importante para a
Educação do Campo que deveria acontecer já na construção dos
projetos pedagógicos.
[...] o trabalho coletivo, conjunto, em parceria e comunhão entre
docentes e entre docentes e educandos representa um espaço
singular e profícuo para a materialidade do projeto político pedagó-
gico escolar. (FERREIRA; MOLINA, 2014, p. 146).
Além disso, a formação por área de conhecimento possibilitaria
também, repensar os Planos de Estudos e, deste modo, assegurar
uma construção conjunta do currículo, que contemplasse o diálogo
entre as diferentes áreas do conhecimento pelo “trabalho coletivo de
educadores”, conforme é possível perceber no trecho abaixo:
A formação por área de conhecimento objetiva contribuir com a trans-
formação dos Planos de Estudos dos cursos, possibilitando novas
estratégias de seleção de conteúdos, aproximando-os tanto quanto
possível da realidade, bem como objetiva fomentar e promover o
trabalho coletivo dos educadores […] (MOLINA, 2014, p. 17).
Desta forma, percebemos que a construção coletiva de
um Projeto Pedagógico e de um Plano de Estudos, seriam, para
1. A discussão sobre interdisciplinaridade pode ser consultada na dissertação de mestrado intitu-
lada “Tudo é rede, conexão e simultaneidade! Problematizações foucaultianas sobre a interdisci-
plinaridade: um campo interdisciplinar de enunciabilidades disciplinares. Disponível em: https://
lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/172124/001057096.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://image.slidesharecdn.com/ebookcomposicoes-200115152118/85/Com-posicoes-pos-estruturalistas-em-Educacao-Matematica-e-Educacao-em-Ciencias-136-320.jpg)
![136
Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências
S U M Á R I O
os autores (FERREIRA (2014); MOLINA (2014); LOPES (2014);
BIZERRIL (2014); LOPES (2014), a possibilidade de “pensar cole-
tivamente” desde a construção do curso. Neste sentido, o trabalho
coletivo, para estes autores, seria possibilitado tanto pelo diálogo
entre os professores das diferentes áreas do conhecimento, na
busca por metodologias que possibilitassem uma visão mais ampla
da realidade, quanto por aproximações entre diferentes disciplinas,
com a intenção de romper com as fronteiras do conhecimento, o
que estabeleceria relações menos hegemônicas entre os diferentes
componentes curriculares. Neste sentido, não se desprezaria a indi-
vidualidade dos diferentes atores educacionais e nem as peculiari-
dades das diferentes áreas do conhecimento, pois acreditar-se-ia
que um trabalho conjunto poderia se beneficiar dos diferentes
“olhares”, a fim de possibilitar a compreensão dos diferentes mean-
dros da realidade, como é possível perceber nos trechos abaixo:
Um dos maiores desafios diz respeito à tensão enfrentada pelo cole-
tivo de educadores que atuam nestas Licenciaturas para selecionar os
conteúdos que devem ser ensinados, considerando-se não somente
a perspectiva dos desafios inerentes à proposta formativa organizada
a partir da interdisciplinaridade, […]. (MOLINA, 2014, p. 18)
[...]a ser realizado no coletivo dos docentes, discentes e instituição
como totalidade para que se estabeleça uma construção coletiva das
finalidades, conhecimento/conteúdo tratados nos processos forma-
tivos dos Educadores do Campo. (FERREIRA; MOLINA, 2014, p. 139).
[…] o diálogo realizado entre as diferentes áreas do conhecimento
caracteriza-se pela interdisciplinaridade que buscou superar a
fragmentação do conhecimento acadêmico, as ações isoladas na
formação dos estudantes, assim como na construção coletiva do
currículo[...] (VASCONCELOS; SCALABRIN, 2014, p. 159).
[…] os educadores, em planejamento coletivo, selecionam quais
conhecimentos/conteúdos de sua área serão necessários para
a compreensão do(s) tema(s) em estudo. (VASCONCELOS;
SCALABRIN, 2014, p. 167).
[...] buscamos motivar os docentes que participaram do processo de
formação realizado pelo Seminário das Áreas a registrar os passos
que têm sido dados para enfrentar estes desafios, buscando, cole-
tivamente, caminhos para sua superação. (MOLINA, 2014, p. 18).](https://image.slidesharecdn.com/ebookcomposicoes-200115152118/85/Com-posicoes-pos-estruturalistas-em-Educacao-Matematica-e-Educacao-em-Ciencias-137-320.jpg)
![137
Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências
S U M Á R I O
[…] os trabalhos se orientam pela formação continuada e o planeja-
mento coletivo, possibilitando implementar o currículo interdisciplinar
via tema gerador, [...] (VASCONCELOS, SCALABRIN, 2014, p. 176).
[…] considerar a interdisciplinaridade por meio de comunicação e
planejamento coletivo por profissionais ligados às ciências da natu-
reza[…]. (MORENO, 2014, p. 194).
[…] o trabalho coletivo e integrado de educadores dedicados propi-
ciaram concretamente caminhos para o trabalho interdisciplinar.
(LOPES; BIZERRIL, 2014, p. 226).
Também é importante salientar que a busca por relações
menos hegemônicas não se daria apenas na escolha das disci-
plinas e entre os professores dos diferentes componentes curricu-
lares, mas entre todos os envolvidos na construção do curso, que
não seriam apenas os professores e a equipe pedagógica, mas
também a comunidade. Assim, o “trabalho coletivo” deveria primar
pela participação de todos, de maneira que se acredita igualitária,
em prol do que se percebe como um bem comum. Com isto, os
autores entendem que “o coletivo” possibilitaria a construção de
relações mais justas e mais “humanas”. E o reflexo deste “pensar”
coletivo ocorreria na sala de aula, onde os alunos teriam “voz ativa”
em seu processo de aprendizagem, e assim, se estabeleceriam
relações menos hierarquizadas entre professores e alunos.
[…] na Educação do Campo é o trabalho coletivo e integrado que rege
muitas das relações em sala de aula. (LOPES; BIZERRIL, 2014, p. 206).
Os autores ainda acreditam que um currículo interdisciplinar,
por área de conhecimento, favoreceria a formação de sujeitos cons-
cientes e críticos, pois conhecendo a realidade em sua “totalidade”,
poderiam perceber como se engendram os processos sociais, e
assim, estariam aptos a lutar “coletivamente” por mudanças, na
busca por uma sociedade mais justa. Neste sentido, o “pensar cole-
tivo” poderia ser potencializado por um currículo interdisciplinar e
este ser ferramenta de luta por melhores condições de vida para os
sujeitos do campo.](https://image.slidesharecdn.com/ebookcomposicoes-200115152118/85/Com-posicoes-pos-estruturalistas-em-Educacao-Matematica-e-Educacao-em-Ciencias-138-320.jpg)
![138
Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências
S U M Á R I O
Por isso [a interdisciplinaridade] ela é tão essencial aos processos
que visam à leitura da realidade e sua transformação, pois o espe-
cialista, com a sua visão restrita, muitas vezes não carrega consigo a
disponibilidade de abrir-se para novas possibilidades que surgem a
partir de pensar coletivo e integrado. (LOPES; BIZERRIL, 2014, p. 207).
[…] o currículo é uma prática social exercida pelos sujeitos em um
coletivo de trabalho e de estudo, ou como nos antecipa Freire (2004),
prática social exercida pelos sujeitos em comunhão mediatizados
pelo mundo. (FERREIRA; MOLINA, 2014, p. 139).
Conforme o exposto acima, percebemos que o “coletivo” é
recorrente nas enunciações e não se limitaria a um “trabalho cole-
tivo”, mas também se almejaria um “pensar coletivo” viabilizado por
um “planejamento coletivo”. À vista disso, nos propomos a proble-
matizar a recorrência do enunciado que trata da importância da cole-
tividade para os sujeitos do campo, nas enunciações dos autores
da Licenciatura em Educação do Campo, e para tal problemati-
zação, nos aventuramos nos conceitos de: povo (FOUCAULT, 2008)
e de manada, bando, enxame, cardume (DELEUZE; GUATTARI,
2000) para pensar em devires-animais no curso de Licenciatura em
Educação do Campo.
Mordiscar sentidos...
- Ah! - Disse o camundongo-, o mundo se torna mais estreito a cada
dia. Primeiro ele era tão vasto que eu tinha medo, andava um pouco
e me alegrava por finalmente ver à distância paredes à direita e à
esquerda, mas essas longas paredes correm tão rapidamente uma
em direção à outra que já estou no último aposento, e ali no canto
está a armadilha para a qual me dirijo. (KAFKA, 2010, p.92).
Afastar um pouco as paredes para tornar o mundo um pouco
mais vasto e expandir os sentires. Neste sentido, entendemos que
o devir-animal seria a possibilidade de sentir de outros modos, pela
ação de deixar-se povoar por outros paladares, por outros tatos
e odores, para experimentar sensações outras, e se surpreender](https://image.slidesharecdn.com/ebookcomposicoes-200115152118/85/Com-posicoes-pos-estruturalistas-em-Educacao-Matematica-e-Educacao-em-Ciencias-139-320.jpg)

![140
Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências
S U M Á R I O
Nesta perspectiva, o devir seria minoritário, isto é, há devi-
res-animal, devires-mulher, devires-criança, mas não haveria um
devir-homem, haja vista ser o homem, branco, macho e europeu um
estado de dominação, ou seja, o modelo instituído. Neste sentido, o
devir seria aquilo que foge ao padrão e afirma a diferença e também
a multiplicidade: matilha, bando, cardume, enxame, multidão, ou
seja, uma “composição de velocidades e de afectos entre indivíduos
inteiramente diferentes” (Ibidem, p. 46). Sendo o devir, multidão, o
“devir lobo”, não seria devir um único lobo, mas um devir “matilha”.
Assim, a multiplicidade residiria no próprio devir, pois seria este um
povoamento da diferença. Neste sentido, entendemos que para os
devires, seriam necessários múltiplos agenciamentos, pois:
[...] um agenciamento põe em conexão certas multiplicidades
tomadas em cada uma destas ordens, de tal maneira que um livro
não tem sua continuação no livro seguinte, nem seu objeto no
mundo nem seu sujeito em um ou em vários autores. Resumindo,
parece-nos que a escrita nunca se fará suficientemente em nome
de um fora. O fora não tem imagem, nem significação, nem subjeti-
vidade. O livro, agenciamento com o fora contra o livro-imagem do
mundo. (DELEUZE; GUATTARI, 1995, p. 33).
Com isto, devires menores ou minorias não se referem a
números, ou seja, não seriam minorias por haver menos membros,
mas por serem aquilo que foge ao modelo ou que rompe com a
norma. Assim, as minorias são o devir, a invenção, enquanto a
maioria seria o instituído, isto é, o dominante. Com isto, por não ser
o padrão, mas a fissura do modelo, a potência dos devires menores
está na inventividade. Para pensar minorias, pensamos em devir-
-animal, que não seria um “imitar animal”, mas um transformar-se,
ou seja, tornar-se não um animal, ou um determinado animal, mas
tornar-se também animal. Desta forma, o devir não seria o resultado,
mas o movimento.
Devir-animal é precisamente fazer o movimento, traçar a linha de
fuga em toda a positividade, ultrapassar um limiar, atingir um conti-
nuum de intensidades que só valem por si mesmas, encontrar um](https://image.slidesharecdn.com/ebookcomposicoes-200115152118/85/Com-posicoes-pos-estruturalistas-em-Educacao-Matematica-e-Educacao-em-Ciencias-141-320.jpg)
![141
Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências
S U M Á R I O
mundo de intensidades puras, em que todas as formas se desfazem,
todas as significações também, significantes e significados, em
proveito de uma matéria não formada, de fluxos desterritorializados,
de signos assignificantes. (DELEUZE; GUATTARI, 2014, p. 27).
Pensar em devires menores nos instiga a pensar em línguas e
em literaturas menores. Segundo Gallo e Figueiredo (2015) haveria
uma “língua maior” e uma “língua menor”. A língua maior seria a dos
dominantes e por isso, entende como necessário a homogeneidade
e a organização. Seria a língua maior, o modelo, que preza pela
“pureza” e pela norma; enquanto a língua menor seria heterogênea,
múltipla, diversa, ou seja, seria devir e multiplicidade. Segundo
Deleuze e Guattari (2014) uma língua ou ainda, uma literatura menor
teria como característica ser revolucionária em relação a uma língua
ou a uma literatura maior, pois propõe a “desterritorialização da
língua, a ligação do individual no imediato-político e o agenciamento
coletivo de enunciação”. (Ibidem, p. 39). Nesta mesma lógica, por
entender que existem línguas maiores e línguas menores e que, em
geral, as línguas que utilizamos são as línguas dos colonizadores
e por isso, línguas maiores; Deleuze e Guattari nos propõem criar
línguas menores na nossa própria língua, ou ainda desterritorializar
a língua-maior de nosso idioma. Pois:
Quantas pessoas hoje vivem em uma língua que não é a sua? Ou
então não conhecem mesmo mais a sua, ou não ainda, conhecem
mal a língua maior de que são forçados a se servir? Problema dos
imigrados, e sobretudo de seus filhos. Problema das minorias.
Problema de uma literatura menor, mas também para nós todos:
como arrancar de sua própria língua uma literatura menor, capaz de
escavar a linguagem, e de fazê-la escoar seguindo uma linha revo-
lucionária sóbria? Como devir o nômade e o imigrante e o cigano
de sua própria língua? Kafka diz: roubar a criança no berço, dançar
sobre a corda bamba. (DELEUZE; GUATTARI, 2014, p. 40-41).
Para isto, “[...] aspiramos regressar a essa condição em
que estivemos tão fora de um idioma que todas as línguas eram
nossas[...]” (COUTO, 2011, p. 8), a fim de estranhar hábitos, que
nos aprisionam numa existência “já vivida” e que impossibilita](https://image.slidesharecdn.com/ebookcomposicoes-200115152118/85/Com-posicoes-pos-estruturalistas-em-Educacao-Matematica-e-Educacao-em-Ciencias-142-320.jpg)

![143
Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências
S U M Á R I O
até mesmo, a constituição de uma identidade. Outro conceito que
poderia ser utilizado para pensar o coletivo, seria o de população que
se contrapõe ao conceito de povo. Para Foucault (2008) haveria dife-
rença entre povo e população, ou seja, povo seria aquele que ainda
não foi normatizado, ou seja, é o selvagem enquanto a população
seriam os sujeitos disciplinados, ou seja, que já se enquadraram
às normas. Assim, população seria o sujeito coletivo, ou seja, que
abdica de seus instintos e desejos, em nome do grupo. No entanto:
[...] o povo aparece como sendo, de uma maneira geral, aquele que
resiste a regulação da população, que tenta escapar desse dispo-
sitivo pelo qual a população existe, se mantém, subsiste, e subsiste
num nível ótimo. (FOUCAULT, 2008, p. 58).
Assim, poderíamos pensar num bando-povo (GALLO;
FIGUEIREDO, 2015), para viabilizar a invenção de outros “modos
de vida”, ou talvez re-criar “pequenas” humanidades, que combi-
nariam diferentes devires-menores. Deste modo, ao invés de disci-
plinar para o enquadramento, poderíamos tentar perceber potências
no diferente, onde não haveria a dominação de um “modelo” de
humano (homem, branco, macho, europeu), mas diferentes experi-
mentações da humanidade/animalidade.
Não somente existem bandos humanos, como também, entre
eles, alguns particularmente refinados: a “mundanidade” distin-
gue-se da “socialidade” porque está mais próxima de uma matilha,
e o homem social tem do mundano uma certa imagem invejosa e
errônea, porque desconhece as posições e as hierarquias próprias,
as relações de força, as ambições e os projetos bastante especiais.
(DELEUZE; GUATTARI, 2000, p. 46).
Os conceitos de povo de Foucault e de devir-animal de
Deleuze e Guattari nos instigam a pensar quais seriam os devires
menores da Educação do Campo e assim, poder criar fissuras na
Educação-maior, ou seja, nas formas de ensinar que dominam o
ensino na atualidade e que impedem a criação de outras maneiras
de aprender, que sejam mais instintivas e instigantes. Neste sentido,](https://image.slidesharecdn.com/ebookcomposicoes-200115152118/85/Com-posicoes-pos-estruturalistas-em-Educacao-Matematica-e-Educacao-em-Ciencias-144-320.jpg)










![154
Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências
S U M Á R I O
morais prezados pela instituição escolar. No entanto, percebi que
a moral ensinada nas atividades desse componente curricular é a
moral cristã. No primeiro semestre de 2017, em uma entrevista com
essa professora, ela mencionou sobre a importância do cristianismo
na função educativa da pequena comunidade, desde o primeiro
ano em que trabalha lá. Segundo ela, a escola já esteve muito mais
envolvida em atividades ligadas a rituais cristãos, assim como maior
quantidade de objetos dentro da escola em referência ao cristia-
nismo. A entrevista me mostrou a hegemonia da discursividade
cristã sobre outras religiões. A professora, embora reconhecendo a
existência de outras vertentes religiosas na escola, desconhece seus
nomes e informações atinentes. Foi somente durante a entrevista
em questão é que ela passou a pensar na possibilidade de desen-
volver debate também sobre outras religiões, que não somente a
católica. Segue abaixo um trecho dessa entrevista:
Professora - A nossa escola já foi mais participativa em relação à reli-
gião, até na comunidade, todos os eventos que tinham relacionados
à religião, aqui, à igreja, a gente estava sempre envolvido, quando eu
cheguei aqui. A gente participava de Corpus Christi, a gente partici-
pava das festas da igreja, a escola estava sempre representada por
alguma coisa, era muito integrado. O que a gente visualiza de uns
anos para cá: várias outras religiões entraram. As (crianças) que eram
mais católicas foram saindo e foram vindo outras de outras religiões.
Pesquisadora - Tu sabes quais são essas outras religiões?
Professora - Não, não sei de quais são. Nomes por nomes, assim,
não. Mas nós temos assim, em todas as salas, crianças de outras
religiões. Por isso que, assim, ó, cada vez que eu trabalho ensino
religioso é sempre relacionado à ética, princípios, moral, essas
coisas, [sobre] o certo, como que tu deve agir na sociedade para
ser aceito,... Ainda dei o texto de ética, como que a gente deve agir
na sociedade,... Ainda comentei com eles, quando a gente vai para
uma entrevista de emprego, quando a gente vai pedir um serviço em
algum lugar, eles sempre perguntam: tu é de onde? Quem é o teu
pai? Porque eles sabem que conforme a família, a pessoa tende a
ser guiado, geralmente é assim, né? Teria que ser assim, né? Alguns
se desvirtuam, enfim, né? Mas os princípios que os pais passam
para eles, eles afloram neles, né? E daí como tem essas várias reli-
giões, a gente trabalha relacionado a isso, mas eles, cada um na](https://image.slidesharecdn.com/ebookcomposicoes-200115152118/85/Com-posicoes-pos-estruturalistas-em-Educacao-Matematica-e-Educacao-em-Ciencias-155-320.jpg)
![155
Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências
S U M Á R I O
sua religião, eu vejo eles bem participativos. Eles [os alunos] são
[bem participativos], eles vão na igreja, tem uns que vão uns [certos]
dias na igreja e não podem ir para outro lugar, então tem coisas
assim como [por exemplo], acho que é na sexta-feira, que tem uma
religião que depois que o sol se põe eles não podem fazer nenhuma
atividade, só rezam, então, tem várias crianças aqui... Isso até seria
uma coisa interessante de a gente até trabalhar, de repente fazer um
trabalho relacionado às religiões para eles conhecerem as religiões
dos colegas, porque eles só sabem que eles [os “outros”] não são
católicos, são de outra, mas qual é a outra? O que é a outra? Isso
aqui me fez eu pensar nisso agora. Pensei em fazer algo sobre isso
agora, [mas] não sei se vai dar tempo esse ano.
“Rituais” – Outro exemplo que trago é o ritual da reza no
início da aula. Em entrevista com outra professora, a que ministra
aulas para a turma que contempla alunos de quatro e cinco anos de
idade, ela mencionou a importância de iniciar os trabalhos da tarde
convidando seus alunos a ficarem em silêncio e pedirem a proteção
de Deus, para assegurar o bem estar, a paz e a tranquilidade da
escola e da família. A professora alega não se tratar de um ritual
ligado a alguma religião específica, mas apenas um momento de
reflexão para despertar bons costumes.
“Filmes” – Os ensinamentos cristãos são reforçados também
através de filmes. Em uma das aulas de Ensino Religioso, o filme
“Deus não está morto” foi passado para as séries finais do ensino
fundamental. Esse filme glorifica o cristianismo, mostrando ateus
e pessoas de outras religiões como arrogantes e nocivas à cons-
tituição de sujeitos bons, enquanto os personagens cristãos como
sendo calmos, serenos, simpáticos e humildes. Algumas passa-
gens do filme foram aqui escritas para destacar enunciações cristãs
que circulam dentro da escola:
O universo sempre existiu. Por 2500 anos a Bíblia esteve certa e a
ciência esteve errada./Eu vejo Jesus como meu amigo. É filho de
Deus. Não quero decepcioná-lo./Fez você a imagem e semelhança
Dele, o que significa que Ele gosta de você./Para os cristãos, o
ponto fixo da moralidade, o que constitui o certo e o errado, é uma
linha reta que leva direto a Deus./Precisamos um Deus para sermos](https://image.slidesharecdn.com/ebookcomposicoes-200115152118/85/Com-posicoes-pos-estruturalistas-em-Educacao-Matematica-e-Educacao-em-Ciencias-156-320.jpg)






![162
Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências
S U M Á R I O
O espírito livre daí oriundo é aquele que pensa de modo
diverso das opiniões que predominam em seu tempo, pois o que
quer é se libertar da tradição para pensar em outros caminhos
possíveis. Ensina algo à sociedade: ele encontra energia e vitali-
dade selvagem para compor com genialidade novas e potentes
formas de vida. Ensina, assim, que não existe educação milagrosa.
O que existe são espíritos fecundos que, em situação adversa, exer-
citam destreza em criar caminhos em terreno ora intransponível. O
espírito livre constrói autenticamente seu caminho para dar nobre
valor à sua existência, e nessa construção de si cria seus valores
segundo sua própria medida de valor. O que quer, em meio a aridez
e agruras da vida, é criar novos valores éticos, pensar de modo
diverso das opiniões que predominam em seu tempo, se libertar da
moral e da tradição escrava para pensar outros caminhos possíveis
(NIETZSCHE, 2000).
A transvaloração de todos os valores implica perder a fé
apática na lei do consenso, rejeitar a integridade da moral vigente e
recusar o conforto de pertencer à massa disciplinada que segue as
regras morais do rebanho, para ousar experimentar a insegurança
dos saberes instintivos. A transvaloração leva à alegria da loucura –
não como fuga do mundo –, mas como (...) “o surgimento do que é
aleatório no sentimento, na visão e na audição, o desfrute da indis-
ciplina da mente, a alegria com a irracionalidade humana (...)”, pois
“O oposto do mundo da loucura não é a verdade e a certeza, mas
a universalidade de uma crença e o comprometimento total com ela,
em suma, o não aleatório nos julgamentos” (NIETZSCHE, 2016,
§76, p. 138) [grifos meus].
Tranvalorar é tornar a vida singular, única, afirmativa, “em
favor da exceção, com a condição de que nunca queira se trans-
formar em regra” (NIETZSCHE, 2016). É preciso ser leve para que
o andarilho possa plainar acima de seu tempo, se elevar, se movi-
mentar, se distanciar com autenticidade e liberdade. Para isso, é
preciso perguntar:](https://image.slidesharecdn.com/ebookcomposicoes-200115152118/85/Com-posicoes-pos-estruturalistas-em-Educacao-Matematica-e-Educacao-em-Ciencias-163-320.jpg)
![163
Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências
S U M Á R I O
(...) [S]e de fato conseguimos subir até lá. Isso pode depender de
diversas condições, mas principalmente em que medida somos
leves ou pesados, enfim, a questão do nosso ‘peso específico’.
precisamos ser muito leves, para impulsionar nossa vontade de
conhecimento até essa distância e também para além de nosso
tempo, para criarmos olhos capazes de uma visão panorâmica
sobre os milênios, e ainda por cima termos um céu puro nesses
olhos! Precisamos estar livres de muita coisa, que justamente nos
oprime, reprime, abafa e nos torna pesados, a nós, europeus de
hoje. A pessoa de tal além, que quer ter a visão das mais elevadas
medidas de valor do seu tempo, precisa, em primeiro lugar, ‘superar’
esse tempo em si mesma – é a prova de sua força – e, consequen-
temente, não apenas o seu tempo, mas também o seu mau humor
e a sua revolta contra esse tempo, o seu sofrimento por causa
desse tempo, a sua desconformidade com ele, o seu romantismo...
(NIETZSCHE, 2016, §380, p. 424-425) [grifos do autor].
Assim, tentando finalizar esse artigo, busco problematizar
se uma escola construtora de subjetividade cristã fomenta a vida,
expressando força plenitude e altivez, ou se a reprime, acovarda e
empobrece. Mais uma vez procurando exercitar um modo Nietzsche
de pensar, considero pertinente perguntar se, uma escola que abrisse
e desdobrasse cada vez mais heterogêneas possibilidades de expe-
riências, não fomentaria novas combinações de modos de pensar
e agir. Nesse sentido, talvez os sujeitos daí formados constituiriam
formas autenticamente diferentes para trilhar caminhos enobrece-
dores a uma existência singular. Sujeitos que vestem o “gorro de
guizos” se desamarram do consenso, se fortalecem em toda arte
petulante, flutuante, dançante e zombeteira para não perder a liber-
dade de se colocar acima das coisas, acima da moral, sem a rigidez
medrosa daquele que receia resvalar e cair a todo momento, mas sim
flutuar e brincar acima dela (NIETZSCHE, 2016, § 107, p. 190). Esse
tipo de educação, talvez seja um processo que não pretende chegar
a um ponto final ideal, mas, sim, fomentar estilísticas e experimenta-
ções, isto é, singularidades que superem a moral escrava para dar
espaço à criação de novos valores. Significa superar o idealismo, a
metafísica, a covardia, a passividade, o niilismo, as convicções abso-
lutas para dar espaço à expansão criativa de viver.](https://image.slidesharecdn.com/ebookcomposicoes-200115152118/85/Com-posicoes-pos-estruturalistas-em-Educacao-Matematica-e-Educacao-em-Ciencias-164-320.jpg)




![168
Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências
S U M Á R I O
De acordo com Leme (2018), o conceito de poder ubuesco
surgiu para dar resposta ao seguinte problema: por que razão é
corrente encontrar imbecis em lugares de liderança? Por que é que
o lugar estatutário do poder pode ser ocupado por figuras medío-
cres, nulas, imbecis? Por conta disso, segundo o autor, o principal
desafio de sua análise consiste na forma de combatê-lo. Isso porque
se trata de um mecanismo que recorre à despolitização e à exas-
peração que “começam pela autodesqualificação do governante e
terminam com o desespero dos governados, seja na forma do riso
resignado, seja na forma de desistência” (LEME, 2018, p. 185).
Tomando como base o método da Cartografia, pelo qual
buscamos acompanhar os modos de expressão do poder ubuesco,
revisitamos a obra foucaultiana Os Anormais (1974 - 1975) para uma
nova imersão nas onze aulas que a constituem.
Para tanto, dividimos o artigo em três seções. Na primeira
delas mapeamos os sentidos do poder ubuesco apresentadas
pelo professor Foucault. Na segunda seção trazemos à tona os
elementos ressonantes do referido conceito para as categorias
de poder, conforme caracterizadas por Veiga-Neto (2016), quais
sejam, poder pastoral, soberano e disciplinar. Por fim, apresen-
tamos algumas ressonâncias do poder ubuesco sobre questões
pertinentes ao campo da Educação Ambiental que possibilitam o
fortalecimento de seus regimes de verdade.
As onze aulas do curso Os Anormais (1974 - 1975)
[...] não sou um escritor, um filósofo nem uma grande figura da vida
intelectual: sou um professor [...] (FOUCAULT, 20171
).
1. Trecho da entrevista concedida na Universidade de Vermont (EUA) em 25 de outubro de 1982
(FOUCAULT, 2017).](https://image.slidesharecdn.com/ebookcomposicoes-200115152118/85/Com-posicoes-pos-estruturalistas-em-Educacao-Matematica-e-Educacao-em-Ciencias-169-320.jpg)
![169
Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências
S U M Á R I O
Em 08 de janeiro de 1975, o professor Foucault inicia a
primeira aula do curso com a leitura de três relatórios elaborados
por peritos psiquiatras em matéria penal contendo descrições
acerca dos réus. Essas descrições são realizadas a partir de hipó-
teses criadas pelos referidos peritos para justificar os crimes come-
tidos pelos acusados. Nelas constam termos que apelam para o
grosseiro, uma vez que os réus são descritos como “medíocres”,
“imorais” ou “cínicos”. Outros exemplos são descrições do tipo:
“[...] tanto mais que, morrendo o pai, viu-se sozinho com a mãe,
mulher de situação duvidosa [...]” e “[...] a maior característica de
seu caráter parece ser uma preguiça cujo tamanho nenhum qualita-
tivo seria capaz de dar ideia” (FOUCAULT, 2010, p. 4-6).
Por conta do uso de expressões como as acima descritas,
Foucault (2010, p. 6) chama a atenção para o discurso presente nos
relatórios lidos, “[...] porque, afinal de contas, na verdade são raros,
numa sociedade como a nossa, os discursos que possuem a uma só
vez três propriedades”. As três propriedades que Foucault se refere
são: i) o poder de determinar, direta ou indiretamente, a liberdade ou a
detenção de um homem (no limite disso, o poder de vida e de morte);
ii) o poder de verdade (no caso, qualificado pela instituição judiciária
e com estatuto cientifico) e iii) o poder de fazer rir. Ressaltamos que
o poder de fazer rir mencionado é o do riso que suscita a ironia. Isso
porque é um riso oriundo de um humor sarcástico, rude. Além disso,
os discursos que contêm essas três propriedades, segundo Foucault
(idem), “merecem um pouco de atenção”. Para mais, são conside-
rados como grotescos. Em suas palavras:
[...] – e quando digo “grotesco” gostaria de empregar a palavra num
sentido, se não absolutamente estrito, pelo menos um pouco rígido
ou sério. Chamarei de “grotesco” o fato, para um discurso ou para
um indivíduo, de deter por estatuto efeitos de poder de que sua
qualidade intrínseca deveria privá-los. O grotesco, ou se quiserem,
o “ubuesco” não é simplesmente uma categoria de injúrias, não
é um epíteto injurioso, e eu não queria empregá-lo nesse sentido
(FOUCAULT, 2010, p. 11).](https://image.slidesharecdn.com/ebookcomposicoes-200115152118/85/Com-posicoes-pos-estruturalistas-em-Educacao-Matematica-e-Educacao-em-Ciencias-170-320.jpg)
![170
Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências
S U M Á R I O
Ainda, a categoria do ubuesco poderia ser pensada como
uma “categoria precisa da análise histórico-política” e integraria a
instância da soberania arbitrária desqualificada pelo odioso, pelo
infame, pelo ridículo. Nesse sentido:
[...] o terror ubuesco, a soberania grotesca ou, em termos mais
austeros, a maximização dos efeitos do poder a partir da desqua-
lificação de quem os produz: isso, creio eu, não é um acidente na
história do poder, não é uma falha mecânica (FOUCAULT, 2010, p. 11).
Desse modo, a categoria do ubuesco é “uma das engrena-
gens que são parte inerente dos mecanismos de poder” (idem),
considerada como algo costumeiro no funcionamento político das
nossas sociedades, ou ainda, como algo inerente à burocracia
aplicada. Em vista disso, Foucault descreve a figura do “Ubu buro-
crata” como o grotesco administrativo, interpretado pelo funcionário
da administração pública que é, ao mesmo tempo, medíocre, nulo,
imbecil ... Também apresenta a figura do “Ubu douto”, incorporado
pela instituição judiciária e que fala doutamente. Além disso, chama
a atenção para o discurso do perito psiquiatra em matéria penal
por conter um dobramento do delito, uma vez que nos relatórios
elaborados percebe-se a ocorrência não só do ato criminoso, mas
de uma série de comportamentos dos réus que seriam a causa ou
o ponto de partida do delito, fazendo com que a punição dada ao
réu não seja pelo crime propriamente dito, mas pela “outra coisa
que não a infração” (idem, p. 17). Diante disso, Foucault o descreve
como o “Ubu psiquiátrico-penal” (idem, p. 14). Contudo, declara:
Não tenho nem força, nem coragem, nem tempo para consagrar
meu curso deste ano a esse tema. Mas gostaria pelo menos de
retomar o problema do grotesco a propósito dos textos que acabo
de ler para vocês (FOUCAULT, 2010, p. 13).
A partir disso, se propõe a estudar “os efeitos de poder que
são produzidos, na realidade, por um discurso que é, ao mesmo
tempo, estatutário e desqualificado” (idem) e elenca o que se pode
nomear de objetivo do curso iniciado, qual seja: “identificar, analisar](https://image.slidesharecdn.com/ebookcomposicoes-200115152118/85/Com-posicoes-pos-estruturalistas-em-Educacao-Matematica-e-Educacao-em-Ciencias-171-320.jpg)

![172
Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências
S U M Á R I O
sem voz – por conta de sua força e capacidade de inquietação) se
encontra dentro da problemática da anomalia. Recorda, então, seus
ouvintes sobre os relatórios lidos nas duas aulas anteriores:
Digamos numa palavra que o anormal (e isso até o fim do século XIX,
talvez XX; lembrem-se dos exames que li para vocês no início) é no
fundo um monstro cotidiano, um monstro banalizado (FOUCAULT,
2010, p. 49).
Valendo-se de exemplos como o caso de um natimorto, um
caso de irmãos siameses ou ainda casos sobre os hermafroditas,
Foucault (2010, p. 57) faz alusão aos diagnósticos médicos acerca
desses últimos, em que a justificativa para o fato de serem herma-
froditas se encontra na descrição que afirma “[...] só podia possuir
dois sexos porque tivera relações com Satanás [...]”. Notamos a
presença do grotesco no parecer médico comentado por Foucault.
A aula prossegue com o professor apresentando outros casos envol-
vendo pessoas hermafroditas. Por vezes, menciona os discursos
médicos elaborados contendo nas descrições os contextos e as
semelhanças acerca destes casos, ressaltando que neles sobrevém
“a atribuição de uma monstruosidade que não é mais jurídico-na-
tural, mas jurídico-moral” (FOUCAULT, 2010, p. 62). Aqui notamos o
dobramento do delito, tal como descrito na segunda aula do curso.
A quarta aula inicia com Foucault (2010, p. 70) discorrendo
sobre a monstruosidade apresentando indícios da criminalidade.
Recorda que “crime” era considerado como um dano voluntário
aos direitos e a vontade do soberano e não somente “uma lesão e
um dano aos interesses da sociedade inteira”. Por conseguinte, o
crime atingia a força do soberano. Na punição do crime cometido,
havia a vingança do soberano, sua revanche e a volta da sua força.
Nesse sentido, no castigo imputado ao criminoso deveria haver a
“intimidação de todo crime futuro” (idem, p. 71). Essa intimidação
acontecia pela manifestação excessiva do terror, dada por uma ceri-
mônia do poder de punir, utilizada como uma estratégia do poder.](https://image.slidesharecdn.com/ebookcomposicoes-200115152118/85/Com-posicoes-pos-estruturalistas-em-Educacao-Matematica-e-Educacao-em-Ciencias-173-320.jpg)
![173
Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências
S U M Á R I O
No que considera como a transformação dos mecanismos do poder,
Foucault (2010, p. 73) menciona textos que ressaltam a economia
de poder punitivo, em que cabe ao juiz e não mais ao soberano
buscar saber, por meio da confissão do criminoso, se o crime havia
sido cometido ou não. Por economia de poder punitivo entendemos
não somente a economia gerada pelas despesas financeiras, mas a
economia que diminui as possibilidades de resistência, de descon-
tentamento, de revolta que o poder monárquico poderia suscitar.
Crime, então, passa a ser o que tem uma natureza e o criminoso
é, em vista disso, um ser natural caracterizado por sua criminali-
dade. Nesse sentido, só serão punidos indivíduos após serem
julgados como criminosos, porém avaliados, apreciados, medidos
em termos de normal e patológico. De acordo com Foucault, essa
transformação dos mecanismos do poder assinala a história do
surgimento do monstro moral, em que ocorre a patologização do
crime. E apresenta o primeiro monstro moral: o monstro político
(também nomeado pelo autor como criminoso político). Descreve-o
dessa maneira:
O criminoso [político] é aquele que, rompendo o pacto que subs-
crevera, prefere seu interesse às leis que regem a sociedade de que
é membro. [...] o criminoso é sempre, de certo modo, um déspota,
que faz valer, como despotismo e em seu nível próprio, seu interesse
pessoal. [...] quanto mais despótico for o poder, mais numerosos
serão os criminosos (FOUCAULT, 2010, p. 78).
Para mais, Foucault caracteriza o criminoso político como “o
indivíduo que impõe sua violência, seus caprichos, sua não razão,
como lei geral ou como razão de Estado” (idem, p. 80). A aula
termina com o professor comentando sobre a problematização em
torno da figura do rei, elencado por ele como o primeiro monstro
moral. Para tanto, cita como exemplo as figuras do rei Luís XVI e de
Maria Antonieta. Nessa aula, o poder ubuesco está subtendido na
descrição do princípio do terror do poder soberano. Uma vez que
em sua formação encontramos a característica de provocar o medo,](https://image.slidesharecdn.com/ebookcomposicoes-200115152118/85/Com-posicoes-pos-estruturalistas-em-Educacao-Matematica-e-Educacao-em-Ciencias-174-320.jpg)
![174
Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências
S U M Á R I O
conforme comentado sobre os relatórios dos peritos psiquiatras em
matéria penal (ver segunda aula).
A quinta aula foi dedicada para falar sobre a passagem que
vai da figura do monstro ao anormal. Foucault comenta sobre três
crimes que não apresentaram boas razões para serem come-
tidos e que acabam fundando a psiquiatria criminal. Nisso acon-
tece o encontro entre o poder médico e o poder judiciário para
tentar resolver/explicar os crimes sem razão. Ou seja, “[...] o crime
sem razão é o embaraço absoluto para o sistema penal. Não se
pode, diante de um crime sem razão, exercer o poder de punir”
(FOUCAULT, 2010, p. 104). Por outro lado, “[...] o crime sem razão,
se se consegue identificá-lo e analisá-lo é a prova de força da
psiquiatria, é a prova de seu saber, é a justificativa de seu poder”
(idem). Um exemplo pelo qual se pode perceber os dois meca-
nismos em ação é o caso de Henriette Cornier que após ter cortado
a cabeça de uma criança comenta como única explicação para o
ato cometido de que “[...] foi uma ideia” (idem, p. 96). Em um dos
relatórios mencionados por Foucault sobre o caso Henriette Cornier,
em vista da descrição utilizada, encontramos o apelo ao ubuesco:
“[...] de fato, Henriette Cornier estava menstruada no momento do
crime, e como todo mundo sabe ...” (FOUCAULT, 2010, p. 108).
Na sexta aula do curso, Foucault (2010, p. 118), retomando
o exemplo do caso Henriette Cornier, afirma que a “psiquiatria
descobre o instinto” e o caracteriza como uma “espécie de engre-
nagem que permite que dois mecanismos de poder engrenem um
no outro: o mecanismo penal e o mecanismo psiquiátrico” (idem).
Ou seja, o instinto permite reduzir, por meio de termos inteligíveis, o
que seria a explicação para um crime sem interesse. Desse modo,
acontece gradativamente a inserção da psiquiatria nos mecanismos
de poder, em que ela se insinua numa espécie de posição subordi-
nada entre elementos disciplinares, tais como a família, a vizinhança,
a casa de correção, uma vez que todos esses elementos passam](https://image.slidesharecdn.com/ebookcomposicoes-200115152118/85/Com-posicoes-pos-estruturalistas-em-Educacao-Matematica-e-Educacao-em-Ciencias-175-320.jpg)
![175
Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências
S U M Á R I O
a ser campo da intervenção médica. Como de costume, Foucault
menciona textos contendo descrições de casos que exemplificam
o que está sustentando. Novamente o que chama a atenção é o
caráter das expressões utilizadas, como o relatório que lê em aula
sobre um ex-militante da Comuna de Paris. Eis um trecho:
[...] na realidade a expressão geral e habitual da fisionomia tinha
certa dureza, algo de feroz e uma extrema arrogância, as narinas
achatadas e largamente abertas exalavam a sensualidade, assim
como seus lábios um pouco carnudos e cobertos em parte por uma
barba longa e densa, negra com reflexos ruivos. Seu riso era sarcás-
tico, a palavra breve e imperativa, sua mania de aterrorizar levava-o
a carregar no timbre da voz para torná-la mais terrivelmente sonora
(FOUCAULT, 2010, p. 133).
No final desta leitura, Foucault relembra seus ouvintes que
esse relatório chega ao nível dos discursos dos exames psiquiá-
tricos apresentados na primeira aula do curso. Recorda, ainda, que
foi esse tipo de descrição, de análise, de desqualificação que a
psiquiatria assumiu. Além disso, Foucault (2010, p. 139) descreve a
psiquiatria como a ciência e a técnica dos anormais, dos indivíduos
anormais e das condutas anormais, pela qual sobrevêm processos
de normalização.
A partir da sétima aula do curso, Foucault (2010, p. 143)
passa a tratar do campo da anomalia atravessado pelo problema
da sexualidade. Nesse sentido, afirma que a sexualidade pode ser
compreendida como um efeito de um procedimento de poder, uma
vez que pode ser assim descrita: “[a sexualidade] não é o que se
cala, não é o que se é obrigado a calar, mas é o que se é obrigado
a revelar” (FOUCAULT, 2010, p. 144). Acerca desse procedimento
de poder, o professor comenta ser “um procedimento perfeitamente
codificado, perfeitamente exigente, altamente institucionalizado,
da revelação sexual, que era a confissão sacramental” (idem). No
que concerne ao ubuesco, notamos que essa categoria de poder
se mostra nos textos que constavam nos manuais de confissão,](https://image.slidesharecdn.com/ebookcomposicoes-200115152118/85/Com-posicoes-pos-estruturalistas-em-Educacao-Matematica-e-Educacao-em-Ciencias-176-320.jpg)
![176
Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências
S U M Á R I O
distribuídos ao confessores e diretores de consciência [dos semina-
ristas], com orientações do tipo:
[...] ele precisa também, sem dizer nada, observar seu compor-
tamento, suas roupas, seus gestos, suas atitudes, o som da sua
voz, mandar embora é claro, as mulheres que viessem frisadas,
maquiadas [e empoadas] (FOUCAULT, 2010, p. 156).
Em vista disso, por meio de uma evolução da confissão, o
confessor passa a fazer um interrogatório ao penitente que envolve
uma espécie de “cartografia pecaminosa do corpo” (idem, p. 161),
em que o corpo passa a ser incriminado. Perguntas do tipo: Você se
vestiu de maneira indecente? Sentiu prazer ao vestir-se? Fez “jogos”
desonestos? Durante a dança, você fez “movimentos sensuais”
ao pegar na mão de uma pessoa, ou vendo posturas ou atitudes
afeminadas? Sentiu prazer ao ouvir a voz, o canto, as melodias? Tais
exemplos de perguntas assinalam a presença do ubuesco na lite-
ratura de confissão, como também marcam a passagem em que a
masturbação passa a ser “a forma primeira da sexualidade revelável”
(idem, p. 165). Assim, numa espécie de fisiologia moral da carne, a
masturbação se torna um problema pedagógico e médico, trazendo
a sexualidade para o campo da anomalia, ao mesmo tempo em que
ocorre o crescimento do disciplinamento do corpo.
Na oitava aula do curso, o tema de estudo consistiu na abor-
dagem de um novo procedimento de exame: desqualificação do
corpo como carne e culpabilização do corpo pela carne. O corpo,
que é descrito pelo professor como “a sede das intensidades múlti-
plas de prazer e deleitação” (FOUCAULT, 2010, p. 173), passa a ser
apresentado como corpo enfeitiçado, corpo possuído e corpo em
estado de convulsão, por conta de seus desejos. Assim, a partir
do exame da convulsão (entendida como um distúrbio carnal), em
que ocorre o deslocamento da direção espiritual como possível
tratamento anticonvulsivo para o campo da medicina por meio da
neuropatologia e para os sistemas disciplinares e educacionais, é](https://image.slidesharecdn.com/ebookcomposicoes-200115152118/85/Com-posicoes-pos-estruturalistas-em-Educacao-Matematica-e-Educacao-em-Ciencias-177-320.jpg)
![177
Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências
S U M Á R I O
que se dá a ligação com o poder ubuesco. Mais uma vez, esse
conceito aparece na forma das expressões contidas nos modelos
de manuais que Foucault lê em aula, em que há instruções de como
o confessor deve proceder ao interrogar o penitente que se percebe
a presença do grotesco, por exemplo:
[...] é necessário descobrir na confissão não apenas [todos] os atos
consumados, mas também [todos] os toques sensuais, todos os
olhares impuros, todas as palavras obscenas, principalmente se
houver prazer (FOUCAULT, 2010, p. 189).
A nona aula do curso inicia com Foucault comentando sobre
a evolução do controle da sexualidade no interior dos estabeleci-
mentos da formação escolar cristã, sobretudo a católica. Conforme
Foucault (2010, p. 202), isso ocorre pela disposição dos lugares e
das coisas (dos dormitórios e da sala de aula: bancos e carteiras),
acusando uma designação dos perigos do corpo, em que se
busca o controle das “almas, dos corpos e dos desejos”. A partir
disso, surgem [meados do século XVIII] textos, livros, prospectos
e panfletos numa cruzada que o professor denomina de “literatura
antimasturbatória” (idem, p. 204), em que acontece a “culpabili-
zação da criança” numa espécie de patologização da infância. É
no contexto da literatura acima mencionada que as descrições rela-
cionadas ao poder ubuesco se apresentam. A primeira descrição
para qual Foucault chama a atenção está presente em um texto
científico, tal como transcrevemos: “esse rapaz estava no marasmo
mais completo, sua vista tinha decaído inteiramente. Ele satis-
fazia onde quer que estivesse as necessidades da natureza [...]”
(FOUCAULT, 2010, p. 207). Ou ainda em textos em que a mastur-
bação é considerada uma doença e que a responsabilidade do
corpo estar doente é do próprio doente, uma vez que “se você está
doente, é porque quis; se seu corpo foi atingido, é porque você o
tocou” (idem, p. 210). As orientações médicas sobre como proceder
em relação à criança masturbadora são dadas aos pais para que
possam conduzir a disciplina do corpo da criança. Dentre elas a](https://image.slidesharecdn.com/ebookcomposicoes-200115152118/85/Com-posicoes-pos-estruturalistas-em-Educacao-Matematica-e-Educacao-em-Ciencias-178-320.jpg)
![178
Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências
S U M Á R I O
orientação de que é preciso aos pais ficarem atentos “à criança que
busca a sombra e a solidão, que fica muito tempo sozinha sem
poder dar bons motivos para esse isolamento” (idem, p. 214). Da
relação médico-familiar em torno da criança masturbadora resulta
uma família medicalizada, como também a relação pais-filhos medi-
calizados, que acaba funcionando como princípio da normalização,
como princípio de correção do anormal.
Chegamos na décima aula do curso. Foucault relembra com
seus ouvintes o tema da aula anterior:
[...] o corpo da criança, sua valorização e a instauração de um medo
em torno desse corpo, bem como a culpabilização e a responsabi-
lização simultâneas dos pais e dos filhos em torno desse mesmo
corpo (FOUCAULT, 2010, p. 233).
Com base nisso, surge o tema do incesto considerado como
“o ponto de origem de todas as pequenas anomalias” (idem, p.
235). Nos exemplos das campanhas para evitar o incesto é que o
poder ubuesco aparece nessa aula, sob a forma de um discurso que
provoca o medo (ver segunda aula). Seguem dois exemplos: i) “seus
filhos, quando se tocam, podem estar certos de que é em vocês que
estão pensando”; e ii) “não toquem em seus filhos. Vocês não ganha-
riam nada com isso e, para dizer a verdade, até perderiam muito”
(FOUCAULT, 2010, p. 239). A partir desse momento da aula, Foucault
faz uma breve retomada do curso e passa a comentar sobre a teoria
da degeneração, passando pelo que era nomeado de aberrações
sexuais chegando às “condutas instintivas anormais, aberrantes,
suscetíveis de psiquiatrização” (FOUCAULT, 2010, p. 251).
Em 19 de março de 1975, acontece a décima primeira e última
aula do curso desse ano. O professor inicia a aula comentando que
a criança indócil, ou o indivíduo a ser corrigido, só apresentará o seu
perfil deixando “em branco sua genealogia” (FOUCAULT, 2010, p.
255). Desse modo, descreve um caso em que aparece uma figura](https://image.slidesharecdn.com/ebookcomposicoes-200115152118/85/Com-posicoes-pos-estruturalistas-em-Educacao-Matematica-e-Educacao-em-Ciencias-179-320.jpg)
![179
Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências
S U M Á R I O
mista, composta pelo monstro, o masturbador e o inassimilável ao
sistema normativo da educação, personificado no caso do jovem
Charles Jouy. Um trecho de sua ficha, após passar por exame
psiquiátrico, o descreve assim:
[...] é filho natural, sua mãe morreu quando ainda era bem moço.
Viveu ao deus-dará, meio à margem da aldeia, pouco escolarizado,
meio beberrão, solitário, mal pago [...] (idem, p. 256).
Foucault (idem, p. 259) vale-se do modelo desse caso como
referência de um apelo às instâncias de controle (técnicas, médicas,
judiciárias) que se apresentam de forma mista para resultar na
psiquiatrização e, por conseguinte, na normalização do indivíduo.
Nesse sentido, apresenta algumas descrições contidas nos relató-
rios elaborados sobre Charles Jouy. Eis:
[...] a face não oferece com o crânio a simetria conforme deveríamos
encontrar normalmente [...] constata-se assim que a boca é larga
demais e que o palato apresenta uma curvatura que é característica
da imbecilidade [...] ele não é mau, dizem a propósito de Jouy, ele
é até meigo, mas o senso moral está abortado [...] primordialmente
acometido de aborto mental, não tem sido submetido a nenhum
benefício da educação [...] (FOUCAULT, 2010, p. 260-262).
Por fim, no desfecho dessa última aula, Foucault comenta
sobre as descrições apresentadas por ele para exemplificar o apare-
cimento do personagem do anormal e do domínio das anomalias
como objetivo da psiquiatria. Em suas palavras:
E essas famosas descrições ubuescas que ainda hoje encontramos
nos exames médico-legais e em que se faz um retrato tão incrível ao
mesmo tempo da hereditariedade, da ascendência, da infância, do
comportamento do indivíduo, têm um sentido histórico perfeitamente
preciso. [...] no fundo eu queria mostrar é que essa literatura, que
parece uma literatura ao mesmo tempo trágica e maluca, tem sua
genealogia histórica [...] ainda hoje encontramos em atividade esses
procedimentos e essas noções (FOUCAULT, 2010, p. 278-279).
O curso termina e a partir da composição das aulas do
professor Foucault a obra Os Anormais (1974-1975) é publicada.](https://image.slidesharecdn.com/ebookcomposicoes-200115152118/85/Com-posicoes-pos-estruturalistas-em-Educacao-Matematica-e-Educacao-em-Ciencias-180-320.jpg)
![180
Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências
S U M Á R I O
Ressonâncias do poder ubuesco nas categorias de poder na
obra Os Anormais (1974 - 1975)
Discorrer sobre o poder em Foucault envolve lidar, primeira-
mente, com as diferentes categorias de poder que se entrelaçam
e que operam simultaneamente. Nesse sentido, é para o poder
tratado como relações de poder que se voltam os olhares. Em linhas
gerais, essas relações de poder são caracterizadas como “modos
de ação complexos sobre a ação dos outros” (REVEL, 2011, p. 121).
Nas palavras de Foucault:
[...] as relações de poder existem entre um homem e uma mulher,
entre aquele que sabe e aquele que não sabe, entre os pais e as
crianças na família. Na sociedade, há milhares e milhares de rela-
ções de poder e, por conseguinte, relações de forças de pequenos
enfrentamentos, microlutas, de algum modo. [...] as relações de
poder são relações de força, enfrentamentos, portanto sempre
reversíveis. Não há relações de poder que sejam completamente
triunfantes e cuja dominação seja incontornável (2015, p. 226-227).
Pelo caráter de reversibilidade das relações de poder,
Foucault inventa esse conceito [relações de poder] mostrando que
não há opressor nem oprimido, mas que há relações de subjeti-
vação e assujeitamento que se estreitam ou se alargam. As rela-
ções de poder, na medida em que sempre podem ser contornáveis,
supõem que sejam estabelecidas entre sujeitos livres – excluindo,
nesses casos, os casos de dominação que, por vezes, se estabe-
lecem. Desse modo, ao tratar do poder como relação, Foucault o
estudou como “um operador capaz de explicar como nos subje-
tivamos imersos em suas redes” (VEIGA-NETO, 2016, p. 62). Por
conta disso, Veiga-Neto (2016) descreve três categorias de poder
derivadas da obra foucaultiana, sinalizando como podem ser carac-
terizadas as relações de poder, quais sejam: o poder pastoral,
soberano e disciplinar.](https://image.slidesharecdn.com/ebookcomposicoes-200115152118/85/Com-posicoes-pos-estruturalistas-em-Educacao-Matematica-e-Educacao-em-Ciencias-181-320.jpg)
![181
Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências
S U M Á R I O
Opoderpastoralfoiinstitucionalizadonaspráticascristãsmedie-
vais, na qual o poder político era exercido por meio de um conjunto de
princípios configurados sob a verticalidade, fazendo alusão ao modo
como um pastor conduz suas ovelhas. Ou seja, o poder encontra
seu lugar na relação estabelecida entre um pastor e o seu rebanho,
do qual o rebanho depende e sem o qual se dispersa. Isso porque a
função do pastor consiste em conhecer, orientar e governar cada vida
de seu rebanho e, por conta disso, “ele é individualizante e detalhista”
(VEIGA-NETO, 2016, p. 68). Contudo, como se trata de relações de
força, o pastor também depende do rebanho e por causa dele encon-
tra-se na condição de ter que sacrificar a própria vida.
Segundo Castro (2017, p. 329), a Reforma protestante e a
Contrarreforma católica conduziram a “uma reativação profunda
das técnicas do poder pastoral”, sendo a confissão a mais expres-
siva dessas técnicas, uma vez que envolve a “relação obrigatória de
si para consigo” (FOUCAULT, 2012, p. 51) e possibilita ao pastor o
julgamento e o posterior direcionamento da consciência do indivíduo.
Desse modo, mediante a direção da consciência por meio da prática
da confissão, o poder pastoral se faz presente na obra Os Anormais
(1974 - 1975), uma vez que mostra de que modo “o corpo foi desqua-
lificado e culpabilizado como carne, ou seja, como corpo atraves-
sado pelo desejo libidinoso” (CASTRO, 2017, p. 102). Nesse caso, a
confissão é mencionada na obra como um procedimento de poder
em que se é obrigado a revelar, principalmente, nas questões que se
referem à sexualidade. Como exemplo segue um trecho que integra
um dos manuais de confissão lidos em aula em que a técnica do poder
pastoral é apresentada como primeiro passo para a cura da mastur-
bação e que contém elementos que remetem ao poder ubuesco:
Os pais devem, portanto, vigiar, espiar, chegar pé ante pé, levantar
cobertas, dormir do lado [do filho]; mas, descoberto o mal, têm de
fazer o médico intervir imediatamente para curá-lo. Ora, essa cura só
será verdadeira e efetiva se o doente aceitá-la e participar. O doente
tem de reconhecer seu mal; tem de compreender as consequên-
cias dele; tem de aceitar o tratamento. Em suma, tem de confessar
(FOUCAULT, 2010, p. 218).](https://image.slidesharecdn.com/ebookcomposicoes-200115152118/85/Com-posicoes-pos-estruturalistas-em-Educacao-Matematica-e-Educacao-em-Ciencias-182-320.jpg)
![182
Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências
S U M Á R I O
Outra categoria de poder descrita por Veiga-Neto (2016) refe-
re-se ao poder de soberania. Nesse caso, o poder político é exercido
na relação do soberano com seus súditos. O soberano, diferente do
pastor, não pretende ser salvacionista, nem piedoso nem mesmo
individualizante. A relação de poder soberana é efetivada pela
violência sobre os corpos dos seus súditos. Para mais, o discurso
do rei tem o poder de vida e morte legitimados pelo seu direito de
soberano. Isso porque essa categoria de poder diz respeito à visão
jurídica do poder, em que o poder é considerado desde o ponto
de vista da lei, servindo ao soberano para fins de justificar tanto a
posição ocupada como a execução dos castigos aplicados. Isso
porque “é a pedido do poder real, em seu proveito e para servir-
-lhe de instrumento ou justificação que o edifício jurídico das nossas
sociedades foi elaborado” (FOUCAULT, 2006, p. 180). Na obra Os
Anormais (1974 - 1975) o poder soberano aparece descrito sob
forma arbitrária e infame quando Foucault (2010) menciona o poder
ubuesco como um procedimento inerente à soberania.
Soma-se a isso a característica intrínseca do ubuesco de
provocar o medo, oriundo do princípio do terror do qual se valia o
soberano como forma de controlar os seus súditos. Nesse sentido,
refere-se à inevitabilidade do poder que pode “precisamente
funcionar com todo o seu rigor e na ponta extrema da racionali-
dade violenta, mesmo quando está nas mãos de alguém efetiva-
mente desqualificado” (FOUCAULT, 2010, p. 13). Como exemplos
para a soberania infame e os soberanos desqualificados a fim de
caracterizar o poder ubuesco, Foucault menciona os reis das tragé-
dias shakespearianas, passando por Nero, imperador romano,
chegando até ao:
[...] homenzinho de mãos trêmulas que, no fundo de seu bunker,
coroado por quarenta milhões de mortos, não pedia mais que
duas coisas: que todo o resto fosse destruído acima dele e
que lhe trouxessem, até arrebentar, doces de chocolate [...]
(FOUCAULT, 2010, p. 13).](https://image.slidesharecdn.com/ebookcomposicoes-200115152118/85/Com-posicoes-pos-estruturalistas-em-Educacao-Matematica-e-Educacao-em-Ciencias-183-320.jpg)

![184
Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências
S U M Á R I O
de Charles Jouy, incriminado de ter tentado violentar uma menina
da aldeia em que vivia. Ainda, como a tal menina teria masturbado
Jouy no mato em troca de moedas, tanto a família como os aldeões
apelam aos psiquiatras para que também aconteça a internação
dela em uma casa de correção até o período da maioridade. Nesse
caso percebemos a ocorrência do recurso às instâncias de controle,
passando pela família da menina, pela aldeia [moradores], pelo
prefeito da aldeia e pelo médico, em função de disciplinarização
para a normalização dos dois indivíduos envolvidos.
Ao comentar sobre o sistema de “disciplina para a normali-
zação” instaurado no século XVIII, Foucault (2010, p. 44) o entende
como um poder que não é repressivo, mas produtivo. Ressalta
ainda que não se trata de um poder conservador, referindo-se ao
poder como algo que é inventivo, “um poder que detém em si os
princípios de transformação e de inovação” (idem). Essa caracterís-
tica de ser produtivo envolve pensar o poder como algo vantajoso
para governar as próprias condutas, como, também, a conduta dos
outros. Nessa perspectiva, o poder é entendido “não como algo
ao qual devemos nos opor, mas que devemos compreender para
envergar, dobrar, reconduzir”, conforme afirmam Bello e Sperrhake
(2016, p. 416). É sobre essa visão positiva dos mecanismos do
poder que Foucault pretendeu analisar no curso de 1974-1975 a
normalização no domínio da sexualidade, conforme:
Parece-me enfim que o século XVIII instituiu, com as disciplinas e a
normalização, um tipo de poder que não é ligado ao desconhecimento,
mas que, ao contrário, só pode funcionar graças à formação de um
saber, que é para ele tanto um efeito quanto uma condição de exer-
cício. Assim, é a essa concepção positiva dos mecanismos do poder
e dos efeitos desse poder que procurarei me referir, analisando de que
maneira, do século XVIII até o fim do século XIX, tentou se praticar a
normalização no domínio da sexualidade (FOUCAULT, 2010, p. 45).
Ainda sobre a obra Os Anormais (1974 - 1975), Veiga-Neto
afirma que Foucault ao analisar a genealogia dos anormais, tecendo](https://image.slidesharecdn.com/ebookcomposicoes-200115152118/85/Com-posicoes-pos-estruturalistas-em-Educacao-Matematica-e-Educacao-em-Ciencias-185-320.jpg)
![185
Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências
S U M Á R I O
por meio da construção discursiva a emergência da noção de anor-
malidade, mostra que no interior desse processo “se instituiu um
conjunto de saberes e um correlato poder de normalização” (VEIGA-
NETO, 2016, p. 74). Por conjunto de saberes entendemos os saberes
científicos que emergiram com as “novas ciências humanas, como
a psiquiatria e a criminologia” (DREYFUS; RABINOW, 1995, p. 213).
Tais ciências, então, tinham como objetivo a expansão da normali-
zação do indivíduo considerado delinquente, funcionando a partir
da noção de anormalidade atribuída a esse indivíduo, o qual deveria
ser tratado e, consequentemente, reformado.
Por conta disso, Veiga-Neto (2016, p. 74) elenca alguns
desdobramentos que ocorreram com a institucionalização desses
saberes correspondentes ao poder de normalização que são: a
psiquiatrização e a psicologia da infância, a formação da família
nuclear, bem como a invenção da delinquência. Em relação ao
que é considerado norma, Veiga-Neto (idem) sustenta que é ela [a
norma] que articula os mecanismos disciplinares que atuam sobre
o corpo com os mecanismos regulamentadores que atuam sobre a
população. A norma também diz respeito ao elemento que permite
a comparação entre os indivíduos, uma vez que ela individualiza ao
mesmo tempo que remete ao conjunto de indivíduos. Leia-se:
Nesse processo de individualizar e, ao mesmo tempo, remeter ao
conjunto, dão-se as comparações horizontais – entre os elementos
individuais – e verticais – entre cada elemento e conjunto. E, ao fazer
isso, chama-se de anormal aqueles cuja diferença em relação à
maioria se convencionou por excessivo, insuportável. Tal diferença
passa a ser considerada um desvio, isso é, algo indesejável porque
desvia, tira do rumo, leva à perdição (VEIGA-NETO, 2016, p. 74-75).
Do exposto, podemos aferir que acontece um apelo ao poder
ubuescoemcadaumadascategoriasdepodercaracterizadasacima.
Esse apelo pode ser percebido por meio dos discursos contendo
descrições que se apoiavam na categoria do poder ubuesco
buscando nessa “engrenagem inerente ao mecanismo de poder” um](https://image.slidesharecdn.com/ebookcomposicoes-200115152118/85/Com-posicoes-pos-estruturalistas-em-Educacao-Matematica-e-Educacao-em-Ciencias-186-320.jpg)
![186
Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências
S U M Á R I O
fortalecimento de seus efeitos. Além disso, nas aulas do curso que
constituiu a obra Os Anormais (1974 - 1975), Foucault (2010) operou
com o poder ubuesco buscando nas descrições presentes em
escritos diversos um certo tipo de mecanismo que, além de validar
a categoria de poder que ora se apresentava [ainda que não fossem
nomeadas diretamente], servia para potencializar os seus efeitos.
Desse modo, o poder ubuesco pode ser descrito como um meca-
nismo de poder que diagonaliza as demais categorias, sendo utili-
zado sempre que se quer maximizar os efeitos de poder.
Por ora, algumas considerações
A partir da tarefa realizada na qual revisitamos as onze aulas
que integram a obra Os Anormais (1974 - 1975) é possível inferir que
a categoria do poder ubuesco diagonaliza as demais categorias de
poder, possibilitando o fortalecimento dos efeitos tanto do poder
disciplinar como dos poderes pastoral e soberano. Relembrando
que essa categoria é considerada um mecanismo inerente nas
engrenagens do poder.
De resto, o estudo realizado não esgota as possibilidades
de pensar o poder ubuesco na dinâmica que envolve as relações
de poder no campo da Educação Ambiental. Da mesma maneira,
entendemos que esse conceito se constitui como ferramenta de
análise histórico-política para a pesquisa em andamento. Pois, de
acordo com o que foi pesquisado, podemos afirmar que o referido
conceito, compreendido como integrante de um discurso, faz parte
da rede discursiva da Educação Ambiental. Nesse sentido, o que se
está mapeando é um tipo de poder que constitui a rede discursiva
da Educação Ambiental e que cria condições de possibilidade para
potencializar o discurso da mencionada educação. Entendemos que
esse discurso maximiza a Educação Ambiental por conta de seu](https://image.slidesharecdn.com/ebookcomposicoes-200115152118/85/Com-posicoes-pos-estruturalistas-em-Educacao-Matematica-e-Educacao-em-Ciencias-187-320.jpg)



![190
Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências
S U M Á R I O
Entre tempos históricos
Muitossãoosconhecimentosteóricosarespeitodosconceitos
de Tempo, Educação do Campo e Pedagogia da Alternância.
Historicamente, a Educação do/no Campo1
é uma conquista dos
movimentos sociais, enquanto educação como meio de produção
de vida. Pensar a Alternância no curso de Licenciatura em Educação
do Campo: Ciências da Natureza na Universidade Federal do Rio
Grande do Sul - Campus Litoral Norte (UFRGS/CLN) nos lança para
alguns anos atrás. É preciso uma digressão para conhecer a traje-
tória dessa pedagogia e para que possamos compreender como
esta pedagogia chega ao referido curso. Portanto, nos propomos
a mostrar alguns acontecimentos que nos ajudam a rabiscar uma
breve linha do tempo até os dias atuais.
Começamos lá em 1935, na França, com um grupo de
camponeses que, insatisfeitos com o sistema de educação do país,
uniram-se e lutaram por educação que fizesse sentido, que dialo-
gasse com a realidade de vida dos jovens camponeses. As Escolas
Familiares Agrícolas (EFAs), organizadas pelas famílias de campo-
neses, construíam educação com identidade familiar de trabalho
no campo e de movimento social. Essas escolas tornaram-se um
meio de luta e resistência dos povos do campo2
em busca de uma
educação voltada à realidade dos sujeitos do campo.
A Pedagogia da Alternância atravessou o Oceano Atlântico e
chegou ao Brasil na bagagem do então seminarista Italiano Humberto
Pietrogrande, que desembarcou em Salvador pela primeira vez
1.De acordo com Caldart (2002, p. 26): “[...] No: o povo do campo tem direito a educação no lugar onde
vive; Do: o povo tem direito a uma educação pensada desde o seu lugar e com sua participação.”.
2. DECRETO Nº 7.352, DE 4 DE NOVEMBRO DE 2012. Artº 1º § 1º I - Para os efeitos deste
Decreto, entende-se por: I - populações do campo: os agricultores familiares, os extrativistas,
os pescadores artesanais, os ribeirinhos, os assentados e acampados da reforma agrária, os
trabalhadores assalariados rurais, os quilombolas, os caiçaras, os povos da floresta, os caboclos
e outros que produzam suas condições materiais de existência a partir do trabalho no meio rural.](https://image.slidesharecdn.com/ebookcomposicoes-200115152118/85/Com-posicoes-pos-estruturalistas-em-Educacao-Matematica-e-Educacao-em-Ciencias-191-320.jpg)



![194
Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências
S U M Á R I O
instantes, determinaram o vai-e-vem da pesquisa que “pode-se
apenas marcar caminhos e movimentos, com coeficientes de sorte
e de perigo”. (DELEUZE, 2008, p.48) Cartografar os sentidos do
tempo nas concepções da Pedagogia da Alternância na Educação
do Campo é, pois, construir um mapa, composto por diferentes
linhas [...] “conectável, desmontável, reversível, suscetível de
receber modificações constantemente”. (DELEUZE; GUATTARI,
2000, p.21). Embora a cartografia tenha seu sentido na geografia -
que é o de produzir e estudar mapa -, queremos mostrar que essa
pesquisa e esse método:
trata-se da vida, da subjetividade, de algo que é ao mesmo tempo
singular e coletivo, que se faz entre o que é mais íntimo e aquilo que
está fora, algo que está sempre em movimento, que nunca é exata-
mente uma coisa porque está sempre entre. (COSTA, 2014, p. 67)
A cartografia não é um método estanque, parado, estag-
nado. Exige movimento do pesquisador, exige contornar as curvas
voluptuosas e estar sensível às modificações que um território de
pesquisa possa ter. O cartógrafo usa o corpo para dar corpo aos
contornos que os movimentos da pesquisa proporcionaram. Na
pesquisa, foi preciso criar/inventar uma sistematização do diverso, o
que possibilitou uma organização na leitura e assim, contribuiu para
a emergência das densidades de sentido dessa pesquisa.
Analisamos o que permeia, o que está entre o discurso da
Pedagogia da Alternância – no que se refere à concepção de tempo
– e, para isso, fizemos uma análise documental, mas “não será o
sentido último ou interior que procurarei evidenciar nos escritos”,
(SANTOS, 2009, p. 50) procuramos olhar para os documentos em
forma de monumentos. Essa pesquisa:
[...]não trata o discurso como documento, como signo de outra
coisa, como elemento que deveria ser transparente, mas cuja opaci-
dade importuna é preciso atravessar frequentemente para reencon-
trar, enfim, aí onde se mantém à parte, a profundidade do essencial;
ela se dirige ao discurso em seu volume próprio, na qualidade de
monumento. (FOUCAULT, 2008, p. 157)](https://image.slidesharecdn.com/ebookcomposicoes-200115152118/85/Com-posicoes-pos-estruturalistas-em-Educacao-Matematica-e-Educacao-em-Ciencias-195-320.jpg)


![197
Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências
S U M Á R I O
docente do/no campo segue a normativa e a sugestão do parecer,
propondo a adoção da Alternância Integrativa real ou copulativa.
Seguem excertos:
Pedagogia da Alternância na concepção de alternância formativa,
isto é, alternância integrativa real ou copulativa, de forma a permitir
a formação integral do educando, inclusive para prosseguimento de
estudos, e contribuir positivamente para o desenvolvimento rural
integrado e autossustentável, particularmente naquelas regiões/
localidades em que prevalece a agricultura familiar. [Grifos Nossos]
FONTE: Brasil (2012)
O currículo da licenciatura, ao considerar a dinâmica da realidade
do campo, afirma que a escola não é o único espaço educativo
dessa realidade, e problematiza outros processos educativos que
ocorrem na experiência de vida desses sujeitos, sobre as formas
e manifestações de subjetivação aí existentes. Ao organizar meto-
dologicamente o currículo por alternância entre Tempo/Espaço
Escola-Curso e Tempo/Espaço Comunidade-Escola do Campo, a
proposta curricular do curso integra e interdisciplinariza a atuação
dos sujeitos educandos na construção do conhecimento necessário
à sua formação enquanto educadores, não apenas nos espaços
formativos escolares, mas também nos diversos espaços das comu-
nidades onde estão localizadas as escolas de ensino fundamental
do campo. [Grifos Nossos]
FONTE: UFRGS (2013)
Inferindo dos excertos e para esta pesquisa, a Pedagogia da
Alternância Integrativa real ou copulativa, por considerar tempo de
aprendizagem em espaços não escolares e com objetivo de contri-
buir para o desenvolvimento sustentável do campo assinala ser a
mais indicada para educação do/no campo. Legitimada por movi-
mentos sociais do campo, a Pedagogia da Alternância é potência
para formação docente, assim,
[...] pode-se dizer que a Pedagogia da Alternância prevê uma opor-
tunidade formativa que leva em conta outros espaços educativos, ou
seja, considera que a aprendizagem ocorre além dos muros esco-
lares e tem como um de seus objetivos romper a cisão teoria-prática.
Em linhas gerais, ela permite um processo de alternação entre os
espaços educacionais formais e não formais, a partir do qual se cria
a possibilidade de pensar outros formatos para o processo formativo
do professor. (DUARTE; FARIA, 2017, p 84)](https://image.slidesharecdn.com/ebookcomposicoes-200115152118/85/Com-posicoes-pos-estruturalistas-em-Educacao-Matematica-e-Educacao-em-Ciencias-198-320.jpg)
![198
Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências
S U M Á R I O
A Licenciatura em Educação do Campo: Ciências da
Natureza/UFRGS tem como intencionalidade ofertar educação
“do campo”, tendo como pressupostos considerar os saberes do
campo e as especificidades em relação ao trabalho dos sujeitos no
campo que, geralmente, é um trabalho executado por todo o grupo
familiar. Essas especificidades vêm de uma ordem cronológica de
ensino e de trabalho diferente da ordem urbana.
O atendimento educacional dos povos do campo não se fará pela
transposição de modelos instituídos a partir da dinâmica social
e espacial urbana. Esta constatação, aliada à compreensão da
grande diversidade de ambientes físicos e sociais de que se cons-
titui o universo rural brasileiro, impõe importantes desafios que vão
desde o reconhecimento de formas alternativas de organização de
tempos e espaços escolares até a definição de estratégias espe-
cíficas de formação de profissionais e de elaboração de material.
[Grifos Nosso]
FONTE: Brasil (2012)
A proposta da Licenciatura em Educação do Campo não é
somente levar o conhecimento acadêmico até os povos do campo,
mas articular os diferentes saberes, proporcionando formação inte-
gral aos sujeitos sem afastá-los de sua comunidade. Nesse sentido
a LEdoC1
, inverte a lógica, rompendo com paradigmas ao oferecer
uma formação docente para o campo e “no campo”. Na busca
da formação integral dos sujeitos, a LEdoC adota a Pedagogia da
Alternância, pois vê nela a potência para alcançar a formação de
educadores aliada ao território de vida dos sujeitos que considere
as especificidades do campo. Entende-se que:
Através do território, é muito mais possível reconhecer e analisar as
situações. A sociedade apenas existe, empiricamente, através dos
pedaços do território em que se distribui. É através das regiões e
dos lugares, que essa sociedade aparece como ela é, una e diver-
sificada, de modo mais corpóreo e concreto, permitindo que nos
apossemos, analiticamente, de seus traços dominantes. (SANTOS;
SILVEIRA, 2000, p. 11)
1.LEdoC: Licenciatura em Educação do Campo](https://image.slidesharecdn.com/ebookcomposicoes-200115152118/85/Com-posicoes-pos-estruturalistas-em-Educacao-Matematica-e-Educacao-em-Ciencias-199-320.jpg)


![201
Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências
S U M Á R I O
com a academia e mantendo o estudante próximo a sua realidade
do campo. Ainda, o estudante não percorre esse caminho sozinho,
cada estudante tem um professor orientador que realiza visitas para
orientação do trabalho interdisciplinar na comunidade que o estu-
dante está inserido, geralmente, uma vez a cada período de Tempo
Comunidade. A orientação acontece in lócus.
A carga horária do Tempo Comunidade será integralizada nas ativi-
dades planejadas pelos alunos e professores no Tempo Universidade
as quais serão orientadas pelos professores que farão visitas in loco
e acompanharão os trabalhos com o uso de ambientes virtuais de
aprendizagem. Neste sentido o planejamento de cada semestre
será feito pelo grupo de professores que atuará na etapa do curso
de modo colaborativo e participativo. [Grifos nossos]
FONTE: UFRGS (2013)
Conforme mostra o excerto acima, constante do projeto
pedagógico do curso de Licenciatura em Educação do Campo:
Ciências da Natureza/UFRGS, exige-se integração no que se diz
respeito ao planejamento das atividades. Bem como, “desenvolver
estratégias de formação para a docência interdisciplinar em uma
organização curricular por áreas do conhecimento nas escolas do
campo e outros espaços educativos.” (UFRGS, 2013 p. 10)
Podemos compreender que a proposta de ensino em alter-
nância tem como possibilidade alternar os territórios em seu tempo
espacializado e organizado cronologicamente. Com a fragmen-
tação do tempo/espaço das etapas em TC e TU, a Pedagogia da
Alternância nos mostra a concepção de um tempo território, seja
esse acadêmico ou não. É um tempo espacializado, por promover
organização de tempos e espaços diferentes de aprendizagem.
Essa concepção de tempo espacializado é possibilidade de
aprender em espaços e tempos diferentes dos espaços e tempos
dos bancos e horas/aulas escolares. A Pedagogia da Alternância
na Educação do/no Campo tem como diretriz proporcionar apren-](https://image.slidesharecdn.com/ebookcomposicoes-200115152118/85/Com-posicoes-pos-estruturalistas-em-Educacao-Matematica-e-Educacao-em-Ciencias-202-320.jpg)
![202
Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências
S U M Á R I O
dizados e ensinamentos em territórios distintos. Alternância do
tempo está contida nas descontinuidades do espaço [territórios]
de conhecimentos estabelecidos. O Tempo Comunidade é lugar
de aprendizagem por meios de degustação de experiências e
práticas desenvolvidas no campo e para o campo, aliado ao Tempo
Universidade que, se mostra tempo/espaço da aprendizagem
do conteúdo científico interdisciplinar, mas também é espaço de
preparação para as atividades no Tempo Comunidade. O TU se
mostra potente para estabelecer itinerários, conexões e interação
nos diferentes espaços/tempos de ensino e aprendizagem, procu-
rando articular sentido entre os saberes das comunidades e os
saberes acadêmicos.
ii) Entre Ensino –Tempo – Aprendizagem
[...] não há tempo perdido no aprender, se formos capazes de reco-
nhecer as diferenças. Atentos ao processo, mais do que ao produto,
precisamos ter olhos para ver, para poder valorizar cada aconteci-
mento singular. (GALLO, 2012, p.10)
A proposta de articular e dar (re)significações as aprendiza-
gens dos tempos Comunidade e Universidade nos parece o grande
desafio da Pedagogia da Alternância. Ao longo dos anos, muitas
concepções de educação foram se consolidando na arte de ensinar
e aprender, sempre em busca de espaços escolares e tempos de
aprendizagens para unificar uma educação para todos.
A importância do diálogo entre os saberes, técnicos e cultu-
rais, e aproximação do estudante com a comunidade, considerados
nos documentos normativos e do curso, nos remetem ao aprender
em movimento com captação de sinais, um aprender em contato.
Aprender, segundo Deleuze:](https://image.slidesharecdn.com/ebookcomposicoes-200115152118/85/Com-posicoes-pos-estruturalistas-em-Educacao-Matematica-e-Educacao-em-Ciencias-203-320.jpg)
![203
Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências
S U M Á R I O
[...] diz respeito essencialmente aos signos. Os signos são objeto
de um aprendizado temporal, não de um saber abstrato. Aprender
é, de início, considerar uma matéria, um objeto, um ser, como se
emitissem signos a serem decifrados, interpretados. Não existe
aprendiz que não seja “egiptólogo” de alguma coisa. Alguém só
se torna marceneiro tornando-se sensível aos signos da madeira,
e médico tornando-se sensível aos signos da doença. A vocação
é sempre uma predestinação com relação a signos. Tudo que nos
ensina alguma coisa emite signos, todo ato de aprender é uma inter-
pretação de signos ou de hieróglifos. (2003, p.4)
Uma das intencionalidades da Pedagogia da Alternância,
como já vimos, é proporcionar aos estudantes um aprender entre
movimentos de espaço/tempo, com uma organização de educação
contida em alternar espaços articulando o tempo linear, o tempo
chrónos, tempo de ordem, cronometrado. Nesse sentido, a metodo-
logia da Pedagogia da Alternância com e no movimento de alternar
os espaços entre TC e TU espacializa o tempo, trazendo caracterís-
ticas distintas para o espaço/tempo durante o tempo de curso.
O Tempo Comunidade não será um apêndice das aulas no Tempo
Universidade, e, sim, parte integrante e orgânica das disciplinas que
se constituem na relação dialética entre teoria e prática, entre Tempo
Comunidade e Tempo Universidade. Pretende-se ter um novo modo
de “olhar” para os processos de ensino e aprendizagem; um olhar que
amplie as possibilidades de construção de autonomia. [Grifos nossos]
FONTE: UFRGS (2013)
Assim como os conhecimentos não devem ser subordinados
uns aos outros, também o TU e TC devem ter a mesma importância
de sentido para os estudantes, organizados de formas diferentes,
mas pensados de maneira que haja subsídios de aprendizado entre
eles. Durante o Tempo Universidade, com períodos de 10 (dez)
dias consecutivos, os estudantes participam de aulas com tendên-
cias interdisciplinares. Ao final de cada TU, inicia-se o período de
Tempo Comunidade, no qual os alunos retornam para as suas
Comunidades. Nessa alternância de espaços e diferentes concep-
ções de organização do tempo/aprendizagem, consideramos que](https://image.slidesharecdn.com/ebookcomposicoes-200115152118/85/Com-posicoes-pos-estruturalistas-em-Educacao-Matematica-e-Educacao-em-Ciencias-204-320.jpg)


![206
Com(posições) Pós Estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências
S U M Á R I O
A repetição não é generalidade. De várias maneiras deve a repe-
tição ser distinguida da generalidade. Toda fórmula que implique sua
confusão é deplorável, como quando dizemos que duas coisas se
assemelham como duas gotas d’água ou quando identificamos “só
há ciência do geral” e “só há ciência do que se repete. Entre a repe-
tição e a semelhança, mesmo extrema a diferença é da natureza.
Ao lermos mais atentamente as súmulas do componente, o
que pudemos inferir, em um primeiro momento é de que o compo-
nente curricular Seminário Integrador, ferramenta metodológica da
alternância, desempenha o papel de “articulador”, com intenção de
aproximar as aprendizagens entre os TC e TU. Assim, prosseguimos
com o recorte da 1ª e da 8ª súmula, para exemplificar o que encon-
tramos. Seguem excertos
Seminários Integradores 01: Súmula: Articulação entre os principais conceitos
trabalhados ao longo das disciplinas em seus tempos universidade e comunidade
tomando como ponto de partida o exercício e diagnóstico dos contextos
educativos nos quais os alunos-professores atuam. Discussão sobre as TICs
e apropriação dos ambientes virtuais de aprendizagem disponíveis para o
desenvolvimento e acompanhamento das atividades nos tempos universidade e
comunidade. [Grifos Nosso]
FONTE: UFRGS (2013)
Seminários Integradores 08: Súmula: Momentos de discussão e articulação
entre os conceitos estudados e as práticas desenvolvidas ao longo da
etapa considerando as atividades desenvolvidas nos tempos universidade
e comunidade, com especial atenção ao estágio de docência. Relato e
apresentação das experiências de estágio de docência. Apresentação dos
Trabalhos de Conclusão de Curso. [Grifos Nosso]
FONTE: UFRGS (2013)
Em ambos os excertos das súmulas encontramos as
seguintes palavras: Articulação; conceitos estudados; tempos
universidade e comunidade; práticas desenvolvidas– essa última
com exceção a primeira etapa.](https://image.slidesharecdn.com/ebookcomposicoes-200115152118/85/Com-posicoes-pos-estruturalistas-em-Educacao-Matematica-e-Educacao-em-Ciencias-207-320.jpg)















