Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer
- 2. Atena Editora POLÍTICAS PÚBLICAS NA EDUCAÇÃO BRASILEIRA: PENSAR E FAZER __________________________________________ Atena Editora 2018
- 3. 2018 by Atena Editora Copyright da Atena Editora Editora Chefe: Profª Drª Antonella Carvalho de Oliveira Edição de Arte e Capa: Geraldo Alves Revisão: Os autores Conselho Editorial Profª Drª Adriana Regina Redivo – Universidade do Estado de Mato Grosso Prof. Dr. Alan Mario Zuffo – Pesquisador da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul Prof. Dr. Álvaro Augusto de Borba Barreto – Universidade Federal de Pelotas Prof. Dr. Antonio Carlos Frasson – Universidade Tecnológica Federal do Paraná Prof. Dr. Antonio Isidro-Filho – Universidade de Brasília Prof. Dr. Carlos Javier Mosquera Suárez – Universidad Distrital de Bogotá-Colombia Prof. Dr. Constantino Ribeiro de Oliveira Junior – Universidade Estadual de Ponta Grossa Profª. Drª. Daiane Garabeli Trojan – Universidade Norte do Paraná Profª Drª. Deusilene Souza Vieira Dall’Acqua – Universidade Federal de Rondônia Prof. Dr. Fábio Steiner – Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul Prof. Dr. Gilmei Fleck – Universidade Estadual do Oeste do Paraná Profª Drª Ivone Goulart Lopes – Istituto Internazionele delle Figlie de Maria Ausiliatrice Prof. Dr. Julio Candido de Meirelles Junior – Universidade Federal Fluminense Profª Drª Lina Maria Gonçalves – Universidade Federal do Tocantins Profª. Drª. Natiéli Piovesan – Instituto Federal do Rio Grande do Norte Profª Drª Paola Andressa Scortegagna – Universidade Estadual de Ponta Grossa Profª Drª Raissa Rachel Salustriano da Silva Matos – Universidade Federal do Maranhão Prof. Dr. Ronilson Freitas de Souza – Universidade do Estado do Pará Prof. Dr. Takeshy Tachizawa – Faculdade de Campo Limpo Paulista Prof. Dr. Urandi João Rodrigues Junior – Universidade Federal do Oeste do Pará Prof. Dr. Valdemar Antonio Paffaro Junior – Universidade Federal de Alfenas Profª Drª Vanessa Bordin Viera – Universidade Federal de Campina Grande Prof. Dr. Willian Douglas Guilherme – Universidade Federal do Tocantins Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) (eDOC BRASIL, Belo Horizonte/MG) P769 Políticas públicas na educação brasileira: pensar e fazer / Organização Atena Editora. – Ponta Grossa (PR): Atena Editora, 2018. 248 p. : 2.852 kbytes – (Políticas Públicas na Educação Brasileira; v. 10) Inclui bibliografia ISBN 978-85-93243-84-4 DOI 10.22533/at.ed.844182304 1. Educação e Estado – Brasil. 2. Educação – Aspectos sociais. 3. Escolas – Organização e administração. I. Série. CDD 379.81 Elaborado por Maurício Amormino Júnior – CRB6/2422 O conteúdo do livro e seus dados em sua forma, correção e confiabilidade são de responsabilidade exclusiva dos autores. 2018 Permitido o download da obra e o compartilhamento desde que sejam atribuídos créditos aos autores, mas sem a possibilidade de alterá-la de nenhuma forma ou utilizá-la para fins comerciais. www.atenaeditora.com.br E-mail: contato@atenaeditora.com.br
- 4. 3Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer SUMÁRIO CAPÍTULO I A DEMANDA DE UMA CONSCIÊNCIA CRÍTICA E POLÍTICA: O PAPEL DA EDUCAÇÃO MEDIANTE A FRAGMENTAÇÃO DO SABER E A FORMAÇÃO DO TRABALHO NA ATUALIDADE BRASILEIRA Francinalda Maria da Silva e Luiz Arthur Pereira Saraiva............................................6 CAPÍTULO II A IMPORTÂNCIA DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (PBF) NA EDUCAÇÃO: UMA ANÁLISE NA ESCOLA MUNICIPAL NAZINHA BARBOSA DA FRANCA Celyane Souza dos Santos, Erivânia da Silva Marinho, Maria Nazaré dos Santos Galdino, Suenia Aparecida da Silva Santos e Maria de Fátima Leite Gomes..........19 CAPÍTULO III A VISÃO DA GESTÃO DE PESSOAS SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE RECIFE NO ESTADO DE PERNAMBUCO Cybelle Leão Ferreira, Gyselle Leão Ferreira e Viviana Maria dos Santos................33 CAPÍTULO IV AS CONTRADIÇÕES DO PROGRAMA UM COMPUTADOR POR ALUNO, SEUS LIMITES E POSSIBILIDADES RUMO A CONSTRUÇÃO DE COMUNIDADES DE APRENDIZAGEM Josemar Farias da Silva, Selma Suely Baçal de Oliveira e Laudicea Farias da Silva ........................................................................................................................................41 CAPÍTULO V AVALIAÇÃO POR RESULTADO EM PERNAMBUCO: QUAL O IMPACTO NA PRÁTICA DE DOCENTES DE ESCOLAS INTEGRAIS? Vilma Cleucia de Macedo Jurema Freire .....................................................................59 CAPÍTULO VI CONSELHO TUTELAR: INSTRUMENTO DE DEMOCRATIZAÇÃO DO DIREITO À EDUCAÇÃO Andressa Garcias Pinheiro, Tyciana Vasconcelos Batalha e Carlos André Sousa Dublante.........................................................................................................................72 CAPÍTULO VII DEFICIÊNCIA E PRIVAÇÃO CULTURAL: EFEITOS NA FORMAÇÃO DOS SUJEITOS Silvia Roberta da Mota Rocha e Laís Venâncio de Melo............................................84 CAPÍTULO VIII ENSINO MÉDIO NA AMÉRICA LATINA: IMPLICAÇÕES AOS SUJEITOS IDEALIZADOS – PROCESSOS EDUCATIVOS Dayvison Bandeira de Moura e Maria Aparecida Monteiro da Silva.........................97
- 5. 4Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer CAPÍTULO IX FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR VERSUS ORÇAMENTOS PÚBLICOS: UMA ANÁLISE DOS ORÇAMENTOS DAS UNIVERSIDADES ESTADUAIS BAIANAS Marta Rosa Farias de Almeida Miranda Silva.......................................................... 111 CAPÍTULO X HISTÓRIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO NAS CONSTITUIÇÕES BRASILEIRAS: DE 1824 À CONSTITUIÇÃO DE 1988 Débora de Oliveira Lopes do Rego Luna e Ítalo Martins de Oliveira...................... 124 CAPÍTULO XI O IMPACTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS NO CONTROLE DA EVASÃO: REFLEXÕES A PARTIR DA EXPERIÊNCIA NO INSTITUTO FEDERAL DE SÃO PAULO Eder Aparecido de Carvalho, Alexandre da Silva de Paula e Ivair Fernandes Amorim ..................................................................................................................................... 136 CAPÍTULO XII OS ROTEIROS DE ATIVIDADES DE MATEMÁTICA PROPOSTOS PELO CECIERJ PARA TURMAS DA 1º SÉRIE DO ENSINO MÉDIO: UMA BREVE ANÁLISE Jonas da Conceição Ricardo, Raquel Costa da Silva Nascimento, Herivelton Nunes Paiva e Reginaldo Vandré Menezes da Mota........................................................... 160 CAPÍTULO XIII POLÍTICA EDUCACIONAL EM MANAUS: INICIATIVAS E DESAFIOS PARA MELHORIAS DO IDEB Vilma Terezinha de Araújo Lima, Edilza Laray de Jesus, Gilson Nazareno da Conceição Dias e Suzianne Lima de Moraes........................................................... 173 CAPÍTULO XIV POLÍTICAS EDUCACIONAIS E INTERCULTURALIDADE: UMA ANÁLISE DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À INCLUSÃO DIGITAL NAS COMUNIDADES INDÍGENAS Neide Borges Pedrosa, Rogéria Moreira Rezende Isobe e Fernanda Borges de Andrade....................................................................................................................... 186 CAPÍTULO XV QUE EDUCAÇÃO, PARA QUE PAÍS? PERCEPÇÕES E TEMÁTICAS EMERGENTES Denise Rangel Miranda, Joselaine Cordeiro Pereira e Elita Betânia de Andrade Martins ........................................................................................................................ 196 CAPÍTULO XVI UM BREVE OLHAR NAS POLÍTICAS E DISCURSOS EDUCATIVOS NO PERÍODO DITATORIAL NO BRASIL E EM PORTUGAL: AMARRAS DE UM PROJETO NACIONALISTA AUTORITÁRIO Joel Severino da Silva ................................................................................................ 203
- 6. 5Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer CAPÍTULO XVII UM QUINTETO HISTÓRICO E SUA RELAÇÃO COM POLÍTICAS PÚBLICAS E FRACASSO ESCOLAR Vicente de Paulo Morais Junior................................................................................. 215 CAPÍTULO XVIII UMA HERANÇA CONSERVADORA DA AUTOCRACIA BURGUESA PARA A EDUCAÇÃO BRASILEIRA EM UM CONTEXTO DE CONTRARREFORMA DO ESTADO Angely Dias da Cunha, Ingridy Lammonikelly da Silva Lima, Bernadete de Lourdes Figueiredo de Almeida e Jéfitha Kaliny dos Santos................................................. 225 Sobre os autores..........................................................................................................241
- 7. 6Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer CAPÍTULO I A DEMANDA DE UMA CONSCIÊNCIA CRÍTICA E POLÍTICA: O PAPEL DA EDUCAÇÃO MEDIANTE A FRAGMENTAÇÃO DO SABER E A FORMAÇÃO DO TRABALHO NA ATUALIDADE BRASILEIRA ________________________ Francinalda Maria da Silva Luiz Arthur Pereira Saraiva
- 8. 7Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer A DEMANDA DE UMA CONSCIÊNCIA CRÍTICA E POLÍTICA: O PAPEL DA EDUCAÇÃO MEDIANTE A FRAGMENTAÇÃO DO SABER E A FORMAÇÃO DO TRABALHO NA ATUALIDADE BRASILEIRA Francinalda Maria da Silva Universidade Estadual da Paraíba. Departamento de Geografia Guarabira - Paraíba Luiz Arthur Pereira Saraiva Universidade Estadual da Paraíba. Departamento de Geografia Guarabira - Paraíba RESUMO: O trabalho aborda como o conhecimento no âmbito escolar está sendo gerido contemporaneamente diante das novas demandas neoliberais para a educação, enfatizando o reflexo da fragmentação do saber e da consolidação de medidas voltadas para o ensino técnico mediante a Reforma do Ensino Médio (Lei nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017), na qual se predominam práticas que reestruturam a permanência da hierarquia político-social do país; e, no âmbito do trabalho, com a Consolidação das Leis do Trabalho (Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017) que enfoca como a educação e o trabalho são predominantes ao sistema capitalista. A educação, tratada como mercadoria, vem delimitar as novas demandas deste sistema, perpetuando um conhecimento que se volta para o âmbito do trabalho, da “produção de massas”, e não mais do ser social como proposta de consolidação de uma efetiva educação, onde leis são geridas sem compreensão da totalidade social, evocando a necessidade de alternativas na prática histórica. Desse modo, a pesquisa desenvolvido com apoio das discussões e atividades realizadas pelo projeto “Ensino de Geografia e Filosofia: questões ontológicas, epistemológicas e ético-políticas na perspectiva socioespacial das escolas públicas no Agreste paraibano”, mediante o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC/CNPq), debate sobre como se estrutura a educação em meio a essas novas reformas e propõe reflexões de que, metodologias efetivas, professores ativos e uma educação problematizada, crítica e política podem ser a chave para romper com a lógica do fatalismo, de um sistema que não pode ser reformulado. PALAVRAS-CHAVE: reformas, fragmentação do saber, consciência crítica e política, educação neoliberal. 1. INTRODUÇÃO Em pleno século XXI, vivemos em uma sociedade influente, por diversos agentes políticos, sociais e econômicos. Somos atingidos diariamente por decisões que não participamos, mas que nos afetam diretamente, em que parte da população sofre as piores consequências da exclusão: na lógica do capital, os grupos menos favorecidos serão os menos “educados”. Os líderes políticos, em suas atitudes, são apenas meros coautores dos interesses capitalistas. São esses e outros diversos
- 9. 8Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer fatores que permitem refletir sobre como se encontra o país e em que rumo está caminhando, ou para onde está sendo direcionado. Diante das duas reformas mais efetivas e impactantes – a Reforma do Ensino Médio (Lei nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017) e a Consolidação das Leis do Trabalho (Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017), o seguinte trabalho discute sobre as concepções e finalidades em que tais demandas podem estimular ainda mais a manutenção do sistema capitalista. Aborda-se também a questão de representatividade e a reflexão sobre a importância de uma consciência crítica e política, mediante uma ação educadora efetiva. A importância e o papel desta consciência são necessários para a constituição humana da sociedade e, por isso, não podem ser negligenciadas: elas estão unidas ao conhecimento, à criticidade e à participação/cidadania? Porque, de que vale o conhecimento se este não se dissemina socialmente? Dessa forma, a discussão e o debate são conceptíveis a projetos e planos de ações que possibilitem a não perpetuação de tal conjuntura e as formas de subordinações tidas como normalidade, estas toleradas cotidianamente. A pesquisa motiva o entendimento dos condicionantes que configuram a realidade concreta e medita a respeito da dificuldade de ir além com a ruptura da lógica determinante que oprime, marginaliza e perpetua. Assim, o papel da educação escolar na construção do conhecimento e como mediadora de uma noção política efetiva e significativa permite o começo de uma ação alternativa de mudança concreta. 2. METODOLOGIA A pesquisa desenvolve-se na abordagem crítico-dialética, na qual propõe abordar determinadas condutas voltadas ao âmbito social, mediante a reflexão que tais mudanças podem repercutir de forma desigual quanto à população. Nesta abordagem, se trabalha a relação entre o sujeito e o objeto, no enfoque de uma noção mais crítica da realidade concreta, na qual a busca da verdade é constante, mediante as contradições das ideias, como elemento construtor ao fruto da razão e a construção do conhecimento, pois “o ser humano não possui ideias inatas, mas uma faculdade inata de classificar todas as impressões dos nossos sentidos em diferentes grupos e categorias” (SPOSITO, 2004, p. 40). Logo, o conhecimento permite o entendimento da vida em sua totalidade, conhecimento mediante dialética que promove a desalienação real, que compreende o entendimento dos processos que são administrados por determinados indivíduos, que se beneficiam e submetem os outros a uma estrutura sociopolítica e econômica dentro de seus âmbitos de empreendimento.
- 10. 9Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer 3. AS REFORMAS ATUAIS E SUAS INFLUÊNCIAS A velha ideia e tão proferida frase instrumentalizada de que “política, religião e futebol não se discutem” vem articulada às formas de opressão que deixam camufladas que tais discussões não são importantes (ou melhor, adequados) para se debater, questionar. O preceito imposto é a concepção de que não é valido gastar tempo argumentando e deixa-se esta indagação para “quem entende”. E como fica para quem não a compreende? Quem não participa? A opressão e a ignorância são iminentes. O medo subjugado diante das novas demandas de avaliação do capital e apoiadas pelo governo é condicionante a um sistema que banaliza o futuro da população, aliado com a mais importante forma estratégica do discurso neoliberal, que faz de um instrumento necessário à construção social – a educação – uma arma eficaz às propostas de dominação e desigualdade. Diante das inúmeras leis adotadas no país, as duas últimas reformas – Ensino Médio e Consolidação das Leis do Trabalho – trouxeram à tona a concepção de que a representatividade política, de fato, não exerce sua função a favor da sociedade que a foi destinada – inviabilizando sua participação. Aprovada em meio às críticas, protestos e diante de uma crise político-econômica nacional, a Reforma do Ensino Médio, Lei nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017 (BRASIL, 2017), na qual será o ponto chave de abordagem desta pesquisa, apresenta propostas viáveis a uma melhor qualidade e integridade da educação, habilitando um predomínio específico, com um conteúdo em que áreas são geridas conforme a opção do educando, como se observa em um de seus artigos: Art. 36. O currículo do ensino médio será composto pela Base Nacional Comum Curricular e por itinerários formativos, que deverão ser organizados por meio da oferta de diferentes arranjos curriculares, conforme a relevância para o contexto local e a possibilidade dos sistemas de ensino, a saber: I - linguagens e suas tecnologias; II - matemática e suas tecnologias; III - ciências da natureza e suas tecnologias; IV - ciências humanas e sociais aplicadas; V - formação técnica e profissional. A formação torna-se, desse modo, optativa e decisiva, primeiro, por selecionar áreas em que o discente se identifica, segundo, por impor uma decisão precoce sobre o rumo a ser trilhado da própria vida, em conjunto com a “oportunidade” da formação técnica e profissional, na qual, com a conclusão do ensino básico, a pessoa está apta a pleitear uma oportunidade de emprego no concorrido mercado. Oportunidade a uma educação efetiva ou a “produção em massa” de trabalhadores? O conhecimento e o pensamento complexo se fazem imprescindíveis na educação básica, pois “a fragmentação do pensamento e do saber é o modo mais eficiente de controle social, quer dizer, da submissão de pessoas a um modelo excludente de sociedade” (MOSÉ, 2013, p. 52). Assim, esta flexibilização curricular, na realidade, “reforça a desigualdade de oportunidades educacionais, pois priva de terem acesso
- 11. 10Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer a conceitos e conteúdos fundamentais à sua formação integral, a uma compreensão crítica do mundo” (PIRES, 2017, p. 238), na qual este processo traz consigo soluções que podem ser, na verdade, “ciladas” para a construção de uma sociedade mais subjugada, onde o emprego tornou-se um “fim em si mesmo” para a autonomia do indivíduo – no pensamento do modelo capitalista, sua soberania financeira. Sem dúvidas, a oportunidade de exercício do emprego é necessária, mas deve ser justamente ofertada na condição de esclarecimento e valorização, de escolhas essenciais dentro de um entendimento amplo do conhecimento e não apenas de um saber específico. Sobre o termo de educação, Mészáros aborda que “trata-se de uma questão de internalização pelos indivíduos, [...] da legitimidade da posição que lhes foi atribuída na hierarquia social, juntamente com suas expectativas adequadas e as formas de conduta certa” (MÉSZAROS 2008, p. 44). Logo, nesta perspectiva, os objetivos da classe trabalhadora são limitados, pré-determinados, para que se comportem com “o objetivo obviamente [de] manter o proletariado no seu lugar” (MÉSZAROS, 2008, p. 49). O que se concretiza nas mudanças da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017 (BRASIL, 2017), que legitimam a adesão de propostas que ofertam um “progresso”, permitindo inovações no sistema, mas que também deixa em descrédito o próprio trabalhador, a exemplo do trabalho intermitente e exclusão de direitos essenciais, como Art. 58. § 2° O tempo despendido pelo empregado desde a sua residência até a efetiva ocupação do posto de trabalho e para o seu retorno, caminhando ou por qualquer meio de transporte, inclusive o fornecido pelo empregador, não será computado na jornada de trabalho, por não ser tempo à disposição do empregador. Art. 59. A duração diária do trabalho poderá ser acrescida de horas extras, em número não excedente de duas, por acordo individual, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Um direito a menos é uma grade a mais na luta pela emancipação social. Estas reformas, apesar do caráter “progressivo” atribuído pelo governo vigente, impõem certa conservação das práticas alienantes, questionando a negligência e particularidades de determinadas políticas públicas no capitalismo neoliberal, em que “respondem simultaneamente às necessidades de valorização do capital e de mediação política dos interesses antagônicos que perpassam a sociedade urbano- industrial” (NEVES, 2005, p. 14). O Estado passa, diante do contexto, da garantia do bem comum à população, para uma efetiva doutrina do postulado neoliberal, na qual se torna um instrumento político suscitado por concepções da classe dominante, sustentando o conjunto de suas relações, “mediante dispositivos jurídico- administrativos, bem como por meio de processos propriamente ideológicos” (SEVERINO, 1994, p. 167). Desse modo, há reformas ou deformas na sociedade contemporânea? O importante neste contexto não é definir o que é “certo” ou o que é “errado”, mas explicitar os porquês destas abordagens na sociedade e com a sociedade – este é o foco, pois “o capitalismo convive com a noção de reforma constantemente e é
- 12. 11Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer através dos processos reformadores que se vai adequando às novas exigências históricas” (OLIVEIRA, 2003, p. 20). Dessa maneira, permitir a disseminação do conhecimento útil, do pensamento autêntico e a concepção da realidade negada é uma ação conjunta a uma efetiva práxis na superação da modelagem petrificada das ações governamentais aliadas ao capital, que marginalizam a educação real e intimida o homem, preconizada no círculo concêntrico de uma formação sem significado que conserva a classe dominante em sua ampla superioridade. Porém, o início da mudança diante deste contraste social terá validade “somente quando os oprimidos descobrem, nitidamente, o opressor e se engajam na luta organizada por sua libertação, começam a crer em si mesmos, superando, assim, sua convivência com o regime opressor” (FREIRE, 2005, p. 58-59). Assim, se propõe a esperança efetiva na possibilidade de igualdade, em que os interesses individualistas e opressores devem ser deixados de lado e a coletividade ser o ponto forte na tomada de decisões, promovendo um modo de vida comum e justo. Isto só se torna efetivo a partir de práticas emancipadoras, mediante uma educação crítica-reflexiva e ampla. 4. A EDUCAÇÃO E O CONTEXTO NEOLIBERAL VIGENTE – ENTRE O PÚBLICO E O PRIVADO Por um país justo e igual clamamos por mais educação. Mas que educação é esta? Para o que? Para quem? Historicamente, a educação passa pelo processo de adaptação ao sistema/contexto que a engloba, apesar de reformas dirigidas à expansão da educação em prol do desenvolvimento da cidadania, as propostas em prol ao atendimento das necessidades capitalistas são mais “interessantes” e, por isso, mais consentidas, pois, a educação serviria à ordem vigente capitalista, “formando a força de trabalho necessária aos diferentes estágios de desenvolvimento do capitalismo. Contudo ela não tem uma aplicação direta e exterior aos interesses dos trabalhadores” (OLIVEIRA, 2003, p. 19). Logo, esta “educação” desabilita o próprio homem, tornando-o puro objeto, uma concepção, segundo Freire, bancária, pois, “insiste em manter ocultas certas razões que explicam a maneira como estão sendo os homens no mundo e, para isto, mistifica a [sua] realidade” (FREIRE, 2005, p. 83). Evidentemente, a educação deve ser entendida em sua amplitude pois, apesar de universal, não está dirigida a todos, nem na mesma abordagem: é diferente para um burguês e para um proletariado, já que ambos não habitam o mesmo espaço de ensino dirigente a um futuro pré- construído, que para o primeiro pode ser opcional, mas para o segundo é condição de “oportunidade”, mérito. Nos últimos anos, a relação contraditória entre o público e o privado vem crescendo com a adesão de propostas neoliberais, que incrementam mais o discurso indecoroso que persiste na ideia de que a educação pública não supre as necessidades viáveis a uma boa qualidade de ensino e inovação de propostas disciplinares. Isto segundo Gentilli; Silva, se daria porque
- 13. 12Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer as escolas públicas não estão no estado em que estão simplesmente porque gerenciam mal seus recursos ou porque seus métodos ou currículos são inadequados. Elas não têm os recursos que deveriam ter porque a população a que servem está colocada numa posição subordinada em relação às relações dominantes de poder (GENTILLI; SILVA, 2010, p. 20). O que fica evidente é que a educação real, que vivenciamos, é uma ação de modelagem do homem ao sistema, na qual “a educação passa a ser analisada com critérios próprios do mercado e a escola é comparada a uma empresa” (TOMASSY; WARDE; HADDAD, 2007, p. 140). A ausência de voz dos educadores e da própria pedagogia na elaboração de propostas para a melhoria da qualidade da educação são negligências caras à liberdade do homem e a sua condição de vida. Assim, o discurso neoliberal acaba por validar pensamentos ao processo destas ações, promovendo concepções sociais que o âmbito privado conduz chances maiores na opção de trabalho, pois “as soluções neoliberais devem muito ao pensamento econômico e muito pouco à economia política” (GENTILLI; SILVA, 2010, p. 24). Mas a educação se volta ao trabalho ou ao homem como agente social? Esta condição é hierárquica, pois é preciso validar primeiro o ser, enquanto sujeito para proporcionar consequentemente o conhecimento que lhe dará o esclarecimento e a necessária condição ao trabalho. O primeiro predomina o segundo, mas, de acordo com o inciso I, do parágrafo 6 do artigo 36 da Reforma do Ensino Médio, tal concepção é adjunta: § 6° A critério dos sistemas de ensino, a oferta de formação com ênfase técnica e profissional considerará: I - a inclusão de vivências práticas de trabalho no setor produtivo ou em ambientes de simulação, estabelecendo parcerias e fazendo uso, quando aplicável, de instrumentos estabelecidos pela legislação sobre aprendizagem profissional. A argumentação das experiências de trabalho dentro do ensino pode culminar a uma aceitação rápida e passiva de gerenciamento dos setores que lhe são ofertados. Não que isto seja inconveniente, mas é condicionante a uma concepção que tolera a adesão dos educandos do setor público a um trabalho voltado ao técnico, que não lhe exige grandes esforços e habilidades cognitivas, intelectuais, pois tal domínio do saber científico não lhe é solicitado, pois este poder é “a mais importante força produtiva do modo de produção capitalista na atualidade, [na qual] constitui instrumento fundamental de emancipação do trabalho da dominação do capital” (NEVES, 2005, p. 22). Logo, determinadas lógicas comprometem as finalidades objetivas do ensino, dependendo dos agentes sociais envolvidos. Desse modo, a filtragem social estimula e propaga a continuação da classe dominante, por participar de diversos graus de ensino no âmbito privado, menosprezando o saber das suas vítimas, que estão presentes no ensino público, em prol da sua própria segurança na hierarquia sociopolítico e econômica. E assim se faz precisa uma ação dialógica dos homens com o mundo: permitir que se tornem
- 14. 13Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer livres da condição que lhe é imposta, e isto se dá através de uma educação de qualidade, em que “educadores e educandos se fazem sujeitos do seu processo, superando o intelectualismo alienante” (FREIRE, 2005, p. 86) permitindo, desse modo, uma consciência real do mundo e uma reflexão verdadeiramente prática que, na verdade, é refeita constantemente. Apesar de haver uma desvalorização conceitual não apenas no ensino, mas também nos próprios educadores, especialmente nesta nova reforma do ensino, na qual o inciso do artigo 61 abre um destaque aos IV - profissionais com notório saber reconhecido pelos respectivos sistemas de ensino, para ministrar conteúdos de áreas afins à sua formação ou experiência profissional, atestados por titulação específica ou prática de ensino em unidades educacionais da rede pública ou privada ou das corporações privadas em que tenham atuado, exclusivamente para atender ao inciso V do caput do art. Dessa forma, os educadores são também alarmados pelo contexto ideológico, sofrendo também com as mudanças, em que o impõe a adentrar na práxis do silêncio da conjuntura sistemática do processo de um ensino vago em dialética e diálogo, uma vez que o seu próprio emprego está ameaçado, de tal modo que a desqualificação sofrida pelos professores nos processos de reforma que tendem a retirar deles a autonomia, entendida como condição de participar da concepção e organização de seu trabalho, aliada à desvalorização desses docentes - pela negação e desprezo pelo seu saber profissional -, contribui para o fortalecimento da sensação de mal-estar desses professores, oriunda da suposição de que a escola prescinda de profissionais (OLIVEIRA, 2003, p. 33). O desafio está imposto e as barreiras são inúmeras. A educação hoje, principalmente a educação pública, está entrando em estado de declínio a favor da lógica dominante. Tanto o ensino-aprendizagem quanto a formação de professores devem, diante desta nova demanda, ser moldados para que a desesperança não seja consolidada. Exige-se rápida ação, participação da sociedade no ensino, no questionamento e nas políticas públicas, pois basta à sociedade difundir os porquês e buscar as almejadas respostas para que o sistema não seja apenas dirigido a determinados grupos, mas ao todo. Reflexão e ação devem ser cultivadas. 5. POR UMA EDUCAÇÃO EXPRESSIVA E AUTORREFLEXIVA: SUPERAÇÃO DO CONHECIMENTO “SIMPLÓRIO” As reformas são processos de prevalecimento de discursos ilusórios que permitiram remediar os efeitos da ordem reprodutiva capitalista. Neste sentido, Mészáros aponta que é preciso romper com a lógica do capital, do idealismo de que tal sistema é irreformável, incorrigível, devendo tal concepção ser superada e começar a introduzir o caminho de uma transformação, de medidas realmente
- 15. 14Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer eficazes, que adentram no universo real do sistema, permitindo o desenvolvimento do conhecimento no qual “o papel da educação é soberano, tanto para a elaboração de estratégias apropriadas e adequadas para mudar as condições objetivas de reprodução, como para a automudança consciente dos indivíduos chamados a concretizar a criação de uma ordem social metabólica radicalmente diferente” (MÉSZAROS, 2008, p. 65). Neste contexto, recordamos o dilema sobre a questão da neutralidade na educação – diante das novas preocupações da sociedade concreta, o que se ensina? A educação deve ficar alheia a estas questões? Para que possa haver mudanças, temos que levar em conta o que Paulo Freire já advertiu a respeito da prática educativa política e gnosiológica. O discurso da acomodação ou de sua defesa, o discurso da exaltação do silêncio imposto de que resulta a imobilidade dos silenciados, o discurso negador da humanização de cuja responsabilidade não podemos nos eximir. A adaptação a situações negadoras da humanização só pode ser aceita como consequência da experiência dominadora, ou como exercício de resistência, como tática na luta política (FREIRE, 1996, p. 76). Desse modo, as discussões da realidade em que se encontra o país são de extrema importância para uma efetiva compreensão da realidade determinada, diante de um universo que promove ordens desumanas, injustas e alienantes, na qual os objetivos adotados e as metas estabelecidas estão condicionados com a possibilidade do próprio sistema. Assim, a ruptura se faz necessária, urgente a partir de uma educação efetiva e radical, em que esta não se imponha como depósito de conteúdos “mas a da problematização dos homens em suas relações com o mundo” (FREIRE, 2005, p. 77), pois tais perspectivas de melhorias tornam-se cruciais diante das escolhas alicerçadas, norteadas pela decisão e responsabilidade dos portadores da transformação – os professores, consequentemente os alunos, a comunidade escolar e os que lutam pela equidade. A consciência crítica e política devem ser estimuladas e praticadas, deve ser objetiva às pretensões da própria sociedade e não a interesses particulares. Há um problema ainda na concepção da participação e o não exercício desta demanda: estamos tão ocupados em jornadas de vida trabalhista e “mergulhados” nos discursos dos meios midiáticos, que não temos a consciência para o entendimento político em sua totalidade e radicalidade: isto nos torna “presas fáceis”, permitindo ainda mais a construção de barreiras para o desenvolvimento de uma ação coerente. Uma atitude inconsequente para o próprio futuro dos que carecem mais de recursos. A realidade que “o saber é igualmente uma forma de poder” (SEVERINO, 1994. p. 184) se faz efetiva na condição presente da dominação burguesa, mas, logicamente, também poderá ser efetiva na emancipação em prol de um projeto dos dominados. O pensar se faz efetivo com ação, mediante a criticidade. É por isso que implantar uma educação que, por ventura, seja proibida, é deixar de lado uma cultura apolítica e irreflexiva, pois a “ideologia tem um poder de persuasão indiscutível. O discurso ideológico nos ameaça de anestesiar a mente, de confundir a curiosidade,
- 16. 15Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer de distorcer a percepção dos fatos, das coisas, dos acontecimentos” (FREIRE, 1996, p. 132). A solução, dessa maneira, segundo Mészáros (2008, p. 45), é “romper com a lógica do capital no interesse da sobrevivência humana” (grifo do autor), na qual tais mudanças sejam essenciais e não formais. 6. CONSIDERAÇÕES FINAIS Desta maneira, se faz urgente a consolidação de uma concepção crítica na educação e, consequentemente, política sobre o que a cerca. Em tempos-espaços de retrocesso sociopolítico, muitas questões presentes na literatura da década de 1990, quando da consolidação do neoliberalismo no Brasil, vem sendo retomadas e/ou atualizadas ao novo contexto nacional, caracterizado, por um lado uma posição de potência emergente nesse início de século e, por outro, o “caos” em termos de governabilidade, que legitima golpes à democracia e à cidadania no Brasil. A educação é o caminho para a superação da dominação e subordinação, do pensamento surreal/absurdo do mundo que é negado, desde que educadores e agentes sociais permitam que esteja aliada à sociedade que a viabiliza, e não às formas de organização existentes que a consolida. É necessária uma ação radical através de uma educação mais ampla e significativa, que permita verdadeiras transformações, dentro do âmbito escolar, para repercussão na sociedade. Mediante um entendimento da circunstância atual, da desvalorização da educação e de políticas públicas que menosprezam mais o saber, que já se apresenta desigual, e que valoriza o trabalho irregular, a pesquisa se propõe a discussões junto da urgência de uma educação que valorizem os professores que, por sua vez, devem promover um “saber proibido” e alternativo à conjuntura atual, que atinge o ser na concretização de suas próprias escolhas na sociedade e no trabalho, permitindo com que a sociedade “colha estes frutos”, no presente em que a subordinação, o fatalismo, a ignorância devem ser rompidos e combatidos. Metodologias engajadas com o meio social ponderam na relação do entendimento das engrenagens e das políticas pedagógicas na atualidade, pois a escola está preparando pessoas ativas para desenvolver práticas tradicionais, inová- las, ou melhorar e revolucionar os métodos de ensino e o modo de avaliação? É fundamental que a escola prepare cidadãos, seres sociais que não permitam perpetuar tal conjuntura, habilitando o ser ao mundo “real”, pois, não há sentido para a educação na sociedade burguesa senão resultado da crítica e da resistência à sociedade vigente responsável pela desumanização. A educação crítica é tendencialmente subversiva. É preciso romper com a educação enquanto mera apropriação de instrumental técnico e receituário para a eficiência, insistindo no aprendizado aberto a elaboração da historia e ao contato com o outro não- idêntico, o diferenciado (ADORNO, 1995, p. 27).
- 17. 16Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer Inserir práticas críticas em uma abordagem que valoriza o educando, que compreenda a cultura vigente para propor caminhos é preponderante a uma nova abordagem de ensino, pois faz acreditar que os prepara para a vida, através da práxis, não apenas impondo conceitos, mas demostrando determinadas dominações impostas pelo sistema, que maquia o saber, o indagar, a verdade. Nas teorias que embasam as reformas, segundo quem as propõe, as leis apresentam concepções fascinantes, mas, na prática, dentro de um mundo de luta de classes, tal concepção não é válida, existindo, ainda, um abismo profundo entre as propostas viáveis a equidade social e educacional. Dessa forma, se faz necessário colocar os educadores, os discentes, os oprimidos, como protagonistas e abarcar engrenagens mais amplas para expandir os processos de ensino e do trabalho social. Os desafios são muitos, as reformas estão a serem concretizadas, mas não impossíveis de ser superadas: é preciso agir, conscientizar. Professores devem aguçar esse diálogo com os alunos, com a sociedade para que juntos possam permitir com que tal consolidação seja efetiva a todos, mediante uma “emancipação pela demolição da estrutura vigente [...] e por intermédio de uma oferta formativa bastante diferenciada e múltipla em todos os níveis, [...] possibilitando, desse modo, o desenvolvimento da emancipação em cada indivíduo” (ADORNO, 1995, p. 170). Assim a escola exerce um papel fundamental no preparo para a cidadania, que visa também inserir o homem no mercado de trabalho, mas sua abordagem é relevante no entendimento para compreender as mazelas e vielas das ideologias impostas e preponderante para a execução do bem-estar educacional crítico, mediante a resistência e manutenção de uma sociedade cada vez mais construtiva e perseverante diante de imposições destrutivas e desiguais. REFERÊNCIAS ADORNO, Theodor Ludwig Wiesengrund. Educação e emancipação. 3. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1995. BRASIL. Lei nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017. Altera as Leis nos 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Diário Oficial [da] União, Brasília, 17 de fev. 2017. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ _ato2015-2018/2017/lei/L13415.htm>. Acesso em 07 out. 2017. ______. Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017. Altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Diário Oficial [da] união, Brasília, 13 de jul. 2017. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13467.htm Acesso em 07 out. 2017. FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1996.
- 18. 17Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer ______. Pedagogia do oprimido. 41. ed. Rio de Janeiro Paz e Terra, 2005. GENTILLI, Pablo Antonio Amadeo; SILVA, Tomaz Tadeu da. Neoliberalismo, qualidade total e educação: visões críticas. Petrópolis: Vozes, 2002. MÉSZÁROS, István. A educação para além do capital. São Paulo: Boitempo, 2008. MOSÉ, Viviane. A escola e os desafios contemporâneos. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2013. NEVES, Lúcia Maria Wanderley. Educação e política no Brasil de hoje. São Paulo: Cortez. 2005. OLIVEIRA, Dalila Andrade. Reformas educacionais na América Latina e os trabalhadores docentes. Belo Horizonte: Autêntica, 2003. PIRES. Lucineide Mendes. Políticas educacionais e curriculares em curso no Brasil: a reforma do Ensino Médio e a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). In: ASCENÇÃO. Valéria de Oliveira Roque (Org.). Conhecimentos da Geografia: percursos de formação docente e práticas na educação básica. Belo Horizonte: IGC, 2017. p. 232-260. TOMASSY, Lívia de; WARDE, Mirian Jorge; HADDAD, Sérgio. O Banco Mundial e as políticas educacionais. São Paulo: Cortez, 2007. SEVERINO, Antônio Joaquim. Filosofia. São Paulo: Cortez, 1994. SPOSITO, Eliseu Savério. Geografia e filosofia: contribuições para o ensino do pensamento geográfico. São Paulo: Unesp, 2004. ABSTRACT: The paper discusses how knowledge in the school context is being managed contemporaneously with the new neoliberal demands for education, emphasizing the reflection of the fragmentation of knowledge and the consolidation of measures aimed at technical education through the Reform of Secondary Education (Law nº 13.415, of February 16, 2017), in which practices that restructure the permanence of the political-social hierarchy of the country predominate; and in the scope of work, with the Consolidation of Labor Laws (Law 13467 of July 13, 2017) which focuses on how education and labor are predominant in the capitalist system. Education, treated as a commodity, delimits the new demands of this system, perpetuating a knowledge that goes back to the scope of work, of "mass production", and no longer of the social being as a proposal to consolidate an effective education, where laws are managed without understanding the social totality, evoking the need for alternatives in historical practice. Thus, research developed with the support of the discussions and activities carried out by the project "Teaching Geography and Philosophy: ontological, epistemological and ethical-political issues in the socio-
- 19. 18Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer spatial perspective of public schools in Agreste Paraíbano", through the Institutional Scholarship Program of Scientific Initiation (PIBIC/CNPq), discusses how education is structured in the midst of these new reforms and proposes reflections that effective methodologies, active teachers and problematized, critical and political education may be the key to breaking the logic of fatalism, of a system that can not be reformulated. KEYWORDS: reforms, fragmentation of knowledge, critical and political consciousness, neoliberal education.
- 20. 19Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer CAPÍTULO II A IMPORTÂNCIA DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (PBF) NA EDUCAÇÃO: UMA ANÁLISE NA ESCOLA MUNICIPAL NAZINHA BARBOSA DA FRANCA ________________________ Celyane Souza dos Santos Erivânia da Silva Marinho Maria Nazaré dos Santos Galdino Suenia Aparecida da Silva Santos Maria de Fátima Leite Gomes
- 21. 20Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer A IMPORTÂNCIA DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (PBF) NA EDUCAÇÃO: UMA ANÁLISE NA ESCOLA MUNICIPAL NAZINHA BARBOSA DA FRANCA Celyane Souza dos Santos Universidade Federal da Paraíba (UFPB) João Pessoa- Paraíba Erivânia da Silva Marinho Universidade Federal da Paraíba (UFPB) João Pessoa- Paraíba Maria Nazaré dos Santos Galdino Universidade Federal da Paraíba (UFPB) João Pessoa- Paraíba Suenia Aparecida da Silva Santos Universidade Federal da Paraíba (UFPB) João Pessoa- Paraíba Maria de Fátima Leite Gomes Universidade Federal da Paraíba (UFPB) João Pessoa- Paraíba RESUMO O artigo parte do relato de experiência do Projeto de Extensão, intitulado: O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (PBF) E SUAS CONDICIONALIDADES NA EDUCAÇÃO: o acompanhamento e monitoramento dos (as) alunos (as) em descumprimento na Escola Municipal Nazinha Barbosa da Franca, localizada no bairro de Manaíra, em João Pessoa – PB, em que faz-se uma análise dos (as) alunos (as) matriculados do 1º ao 9º ano, do Ensino Fundamental I e II, que são beneficiários do Programa de Transferência de Renda Bolsa Família (PBF). Objetiva-se buscar compreender a importância do (PBF) na Educação, por meio da sua condicionalidade, e verificar o quantitativo de alunos (as) que estão em descumprimento, através das possíveis razões que contemplem as consequentes faltas dos (as) alunos (as) beneficiários do (PBF). Contudo, proporciona-se a todos os sujeitos envolvidos, uma envoltura com relação às sanções impostas no (PBF), de modo crítico, para que possa obter o fortalecimento da cidadania e dos direitos sociais. Com isso, faz-se necessário propor melhores estratégias de enfrentamento para o descumprimento da frequência escolar, proporcionando o estímulo e a prevenção dos (as) alunos (as) faltosos. Entretanto, a evasão escolar, se dá, especialmente, pelo fato das condições de vulnerabilidade social que os (as) alunos (as) se encontram, tais como: a violência, negligência familiar, tráfico de drogas, entre outros. Desta feita, sinaliza-se que o PBF pode ser visto como um veículo social que viabilize a inserção no contexto da sociedade, daqueles que se encontram em estado de exclusão social. PALAVRAS-CHAVE: Programa Social, Bolsa Família, Educação, Condicionalidades.
- 22. 21Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer 1- INTRODUÇÃO O presente artigo é resultado do projeto de extensão, intitulado: “O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (PBF) E SUAS CONDICIONALIDADES NA EDUCAÇÃO: acompanhamento e monitoramento dos (as) alunos (as), em descumprimento na Escola Nazinha Barbosa da Franca”, localizada no bairro de Manaíra, na cidade de João Pessoa-PB., cujo objetivo busca monitorar e acompanhar alunos(as) matriculados(as) do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental I e II, beneficiários do referido Programa, nos turnos manhã e tarde. Deste modo, o artigo em tela objetiva verificar o descumprimento de alunos da frequência escolar, a fim de buscar compreender as possíveis razões para o citado descumprimento e, igualmente, apresentar os dados e análises alcançados, na intenção de proporcionar à mencionada unidade escolar, elementos que viabilizem uma interlocução pautada em orientação crítica, quanto às sanções impostas pelo PBF, aos que se encontrarem em descumprimento da frequência, bem como em advertência, bloqueio, suspensão e cancelamento da renda, de modo que criem-se estratégias de estimular a prevenção de tais situações e fortalecer a cidadania destes. Espera-se, com o presente artigo, igualmente, estimular às unidades escolares como um todo, a fortalecer a relação aluno – escola – PBF, a fim de viabilizarem o acesso à educação como um canal de inserção social. 2- OS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA: UM OLHAR SOBRE O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (PBF) Os Programas de Transferência de Renda assumem um papel relevante na sociedade brasileira, como um importante mecanismo de enfrentamento da pobreza e extrema pobreza, tendo como objetivo central o repasse de uma renda mínima destinada às famílias e indivíduos pobres e extremamente pobres, sendo essa transferência, no contexto brasileiro, articulada à possibilidade de acesso e inserção aos demais serviços nas áreas da educação, saúde e assistência social. Neste sentido, enfatiza-se o Programa de Transferência de Renda Bolsa Família, criado em 2003, tendo como condicionalidades, o acesso à escola, à saúde, e a renda, às famílias pobres, com renda mensal, per capita, entre R$ 85,01 e R$ 170,00 e, para famílias extremamente pobres, com renda mensal de até R$ 85,01 per capita. Para o MDS (2017) é possível observar que cada benefício é disponibilizado de acordo com a renda per capita mensal da família e da composição familiar, com valores diferenciados para aqueles considerados pobres e extremamente pobres. As famílias que não possuem crianças ou adolescentes em sua composição também poderão receber o benefício do Bolsa Família, o chamado benefício básico, no valor de R$ 85,00. A referida caracterização implica também que, ao entrar no programa, a família se compromete a cumprir suas condicionalidades, tais como: manter a
- 23. 22Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer frequência escolar das crianças e adolescentes e cumprir os cuidados básicos em saúde. A presença na escola deve atingir 85% para crianças e adolescentes até 15 anos, e 75% para adolescentes entre 16 e 17 anos. Os pais também devem assumir a responsabilidade de manter constantemente o acompanhamento do estado de saúde da criança, além de prestar informação semestralmente sobre o crescimento e desenvolvimento das crianças menores de sete anos; deve haver o pré-natal das gestantes e acompanhamento das nutrizes. Deste modo, a sua relevância social dos Programas de Transferência de Renda, a exemplo do PBF, se dá em torno da pretensão em articular as necessidades das demandas provenientes das unidades escolares, à luz da participação e do engajamento dos(as) alunos(as), bem como, seus familiares em grupos multidisdisciplinares, com o propósito do empoderamento dos sujeitos envolvidos na ação, cujas expectativas referem-se a inserção social dos sujeitos em vulnerabilidade social, no exercício de seus direitos. Igualmente, ressalta-se a importância do empoderamento desses sujeitos no processo de acesso à educação, através da frequência escolar, de modo que possibilite aos mesmos o exercício da cidadania e a efetivação de seus direitos. Porém, salienta-se que a frequência não se trata de um mecanismo apenas para manter o PBF, e sim para que no futuro ocorra a emancipação e transformação social, o que poderá proporcionar a saída da família do referido programa. É preciso, também, que ao se constatar a infrequência, busque-se identificar as causas, pois, além das expressões da questão social que ocasionam a necessidade do benefício, podem ocorrer outras variáveis que causam a infrequência, e estas precisam ser minimizadas e, se possível, sanadas, para reduzir ou erradicar o descumprimento das condicionalidades. Para tanto, faz-se necessário que a equipe multidisciplinar de cada escola trace diversas estratégias, de maneira a reconduzir à sala de aula os alunos em situação de infrequência escolar. Faz-se mister registrar que os gestores são sujeitos imprescindíveis no desdobramento desse processo, no sentido de conduzir ações proativas que favoreçam a participação de todos os sujeitos envolvidos no cenário da escola. 3- O PAPEL DAS CONDICIONALIDADES DO PBF As condicionalidades do PBF apresentam-se como essencial, visto que, possibilita garantir a permanência na escola por meio da frequência escolar, sendo possível viabilizar o estímulo do aluno que se encontra em vulnerabilidade social a manter-se na Escola. O propósito da imposição de condições para o acesso ao Bolsa Família remete-se ao fortalecimento e ampliação do acesso das famílias usuárias do programa aos direitos sociais básicos como educação, saúde e assistência social. Nesse sentido, objetiva-se através das condicionalidades, identificar as condições de
- 24. 23Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer risco social as quais as famílias possam estar submetidas e como enfrentá-las. Conforme Ximenes et al. (2011, p. 12): Pretende-se com as condicionalidades reforçar o acesso das famílias beneficiárias às políticas de educação, saúde e assistência social, promovendo melhoria das condições de vida, bem como levar o poder público a assegurar a oferta desses serviços. O adequado acompanhamento das condicionalidades possibilita a identificação de situações de vulnerabilidade no contexto familiar que interfiram no acesso aos serviços básicos a que as famílias têm direito, demandando ações do poder público no atendimento a essas situações. Segundo o MDS (2017), espera-se por meio das condicionalidades, além da melhoria das condições de vida das famílias beneficiárias do PBF, a ruptura do ciclo intergerencial da pobreza, uma vez que, ao terem acesso, por exemplo, a educação, crianças e adolescentes poderão ter condições de se qualificarem e ingressarem no mercado de trabalho, podendo assim, romper com o referido ciclo. Conforme o MDS (2008), Portaria n° 321, que regulamenta a gestão das condicionalidades do Programa Bolsa Família, assegura-se que: [...] no contexto do Programa Bolsa Família, busca-se com as condicionalidades reforçar o direito de acesso das famílias às políticas de saúde educação e assistência social, promovendo a melhoria das condições de vida da população beneficiária, assim como levar o Poder Público a assegurar a oferta desses serviços. [...]que o adequado monitoramento das condicionalidades permite a identificação de vulnerabilidades sociais que afetam ou impedem o acesso das famílias beneficiárias aos serviços a que têm direito, demandando ações do Poder Público voltadas ao acompanhamento das famílias em situação de descumprimento. (Portaria n° 321, 2008, p. 1). De acordo com a referida Portaria, o MDS (2017), por meio destas exigências, procura incentivar as famílias ao exercício e acesso a programas básicos e, por consequência, garantir as mesmas, melhores condições de vida. Concomitante, cabe também ao Poder Público local, além de garantir os serviços de educação, saúde e assistência social, propiciar condições necessárias para que os usuários do PBF tenham acesso aos serviços ofertados e sejam acompanhados, caso estejam em situação descumprimento. A gestão das condicionalidades do PBF ocorre através do monitoramento e fiscalização das famílias, pelos entes federativos, de forma a averiguar se as famílias usuárias estão cumprindo com seus compromissos. Assim, foram criadas em 2004, a Portarias Interministerial n° 3.789, de 17 de novembro e a Portaria Interministerial n° 2.509, de 18 de novembro, as quais dispõe, respectivamente, sobre as atribuições e normas para o cumprimento das condicionalidades pertinentes à educação e sobre as atribuições e normas para a oferta e monitoramento das demais condicionalidades.
- 25. 24Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer Ainda sobre a organização das condicionalidades, tem-se a Portaria n° 321, de 29 de setembro 2008, já mencionada anteriormente, que reza que as condicionalidades devem ocorrer de forma descentralizada, com articulação entre as políticas de Educação, Saúde e Assistência Social, além de contar com a participação dos entres federados (União, Estados e Municípios) por meio de ações interligadas. De acordo com a Portaria acima (2008, p.5), as famílias deverão ter conhecimento e orientação acerca dos seus direitos e deveres, cabendo aos responsáveis pela gestão do PBF no governo federal, estados e municípios, assim como as instâncias de controle social em suas respectivas esferas informar e orientar. Outro aspecto que é importante destacar trata das responsabilidades de cada esfera de governo para com as condicionalidades. Desta forma, segundo o MDS (Portaria n° 321, art. 15. 2008) compete aos coordenadores estaduais do PBF: I - realizar articulações com os gestores das políticas setoriais específicas para que seja realizada a coleta e o registro das condicionalidades previstas no Programa, quando o acesso ao serviço se realizar em estabelecimento estadual; II - atuar em cooperação com os municípios para garantir o registro das informações relativas às condicionalidades; III - apoiar os municípios localizados em seu território na realização da gestão de condicionalidades do Programa; e V - elaborar planejamento anual intersetorial do estado, em parceria com as áreas de assistência social, saúde e educação, para o desenvolvimento e apoio das ações de gestão de condicionalidades do PBF e acompanhamento familiar. Nessa lógica, corresponde ao gestor municipal a atribuição mediante os termos de adesão específicos assinados pelos municípios: I - atuar em cooperação com os responsáveis pelo registro do acompanhamento das condicionalidades nas áreas de saúde, educação e assistência social, para garantir a coleta das informações de acordo com os calendários definidos; II - realizar as ações de gestão de benefícios, em decorrência do provimento do recurso administrativo de que trata art. 11 desta Portaria; III - notificar formalmente o responsável pela Unidade Familiar, quando necessário, nos casos de descumprimento de condicionalidades, sem prejuízo de outras formas de notificação; IV - analisar as informações sobre não cumprimento de condicionalidades e encaminhar as famílias beneficiárias do PBF, em situação de descumprimento, às áreas responsáveis pelo acompanhamento familiar e oferta dos serviços sócioassistenciais; V - elaborar planejamento anual inter-setorial do município, em parceria com as áreas de assistência social, saúde e educação, para o desenvolvimento das ações de gestão de condicionalidades do PBF e de acompanhamento familiar. (Portaria n° 321, art. 16.)
- 26. 25Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer Além das atribuições impostas aos Estados e Municípios pela Portaria n° 321, art. 20, esta também impõe algumas proibições no que diz respeito às condicionalidades, as quais pode-se citar: I - instituir outros efeitos relacionados às condicionalidades sobre os benefícios financeiros pagos às famílias além dos previstos nesta Portaria; II - instituir outras condicionalidades à família; e III - utilizar formas de comunicação humilhantes ou constrangedoras a respeito do descumprimento das condicionalidades. Vale salientar que, o responsável pela articulação das ações da gestão dos compromissos do PBF no âmbito nacional é de responsabilidade do Departamento de Condicionalidades (DECON) e do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS). Enquanto aos Estados compete a responsabilidade pela coordenação em âmbito Estadual. Aos municípios, a competência é do gestor municipal do PBF. As condicionalidades vinculadas a Educação, tratam da necessidade de que todas as crianças e adolescentes entre 6 e 15 anos devem está devidamente matriculados e com frequência mensal mínima de 85% e, para estudantes entre 16 e 17 anos, devem ter frequência mínima de 75%, com a finalidade de “enfrentar os mecanismos de reprodução da pobreza”, em outras palavras, “romper o ciclo intergerencial da pobreza”, como afirma Pires (2013, p.514). Pressupõe-se que essas crianças e adolescentes, a partir da frequência escolar, possam inserir-se futuramente no mercado de trabalho e, por conseguinte, sair da condição de pobreza ou de extrema pobreza. Assim, o acompanhamento familiar, permite identificar os motivos que impedem as famílias de cumprirem as condicionalidades do programa, e ao mesmo tempo a busca por soluções. É importante ressaltar que a interrupção temporária dos efeitos sobre o benefício tem duração de seis meses, podendo ser ampliada pelo mesmo período, mediante solicitação e avaliação do município, se essa avaliação não for realizada, a família volta a receber sanções em casos de descumprimento de condicionalidades. Nesse sentido, o acompanhamento familiar é um processo essencial para a proteção das famílias do PBF, que se encontram em situação de vulnerabilidade social e requer, a realização de acompanhamento. Outra discussão em torno das condicionalidades trata-se da permanente cobrança por porta de saída do programa, com base em evitar o acomodamento e a dependência das famílias ao mesmo. Ou seja, criar estratégias para que os beneficiários não se tornem dependentes do governo. Segundo Rodrigues (2008), a permanência das famílias no PBF deve ser de curto prazo, uma vez que existe um enorme contingente de pessoas a espera do benefício e também, que o programa seja apenas um mecanismo temporário de redução de danos, ao tempo em que possibilite elementos de autonomia financeira aos seus participantes.
- 27. 26Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer 1- O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA: UMA EXPERIÊNCIA NA ESCOLA NAZINHA BARBOSA DA FRANCA Em se tratando da realidade da Escola Nazinha Barbosa da Franca, esta em sua totalidade, possui 663 alunos (as) matriculados, sendo no Fundamental I 325 alunos (as) e no Fundamental II 338 alunos (as), porém apenas 618 alunos (as) frequentam regularmente a escola do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental I e II. O Projeto ampliou o seu raio de ação, para o Fundamental II, e na atualidade o alunado do 1º ao 5º ano do Fundamental I, correspondem a 292 alunos (as) beneficiários do Programa Bolsa Família, que consistem em 101 alunos (as) em descumprimento do PBF, considerando 34,5% do alunado. No Fundamental II, do 6º ao 9º ano, 159 participam do Programa Bolsa Família, e faz-se o recorte dos dados pelas disciplinas de português e matemática, visto que são disciplinas mais recorrentes no Ensino Fundamental II, com relação à disciplina de Português, são 40 alunos (as) e em Matemática, são 23 alunos (as), no qual, totalizam 63 alunos (as), atribuídos em 39,6% de alunos (as) em descumprimento. Quadro 1 – Alunos beneficiários do PBF em descumprimento da frequência escolar – Fundamental I e I Fonte: Primária, 2017. Vale salientar que na Escola Municipal Nazinha Barbosa da Franca, grande parte dos estudantes são moradores do bairro São José, cujo território é marcado pela extrema vulnerabilidade social e isso implica em fatores predominantes da infrequência escolar, considerando-se que, estes fatores estão associados aos graves problemas sociais, e que têm como consequência o descumprimento do PBF, que podem ser imbricados pela negligência familiar, pelo tráfico de drogas, a violência urbana, bullying, trabalho infantil, entre outros fatores. 325 292 101 338 159 63 0 50 100 150 200 250 300 350 400 T. de Alunos Alunos beneficiários Alunos descumpridores Fundamental I Fundamental II
- 28. 27Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer O principal objetivo da condicionalidade de educação é apoiar a inclusão, permanência e progressão escolar de crianças de famílias em situação de pobreza ou de extrema pobreza. A condicionalidade de educação representa, portanto, um farol de alerta, um ponto de monitoramento para a gestão pública, para se equalizar em uma linha positiva as trajetórias escolares de todas as crianças e adolescentes, independentemente de sua condição socioeconômica. (CRAVEIRO; XIMENES, 2013, p.115) As condicionalidades do PBF na Educação são acompanhadas pelo Programa de Acompanhamento da Frequência Escolar de Crianças e Jovens em Vulnerabilidade, que visa propor estratégias para o enfrentamento da vulnerabilidade social. Sendo assim, o registro da frequência é enviado para o referido Programa de Acompanhamento, em consonância com os entes federados bimestralmente e nos casos de descumprimentos, faz-se necessário expor, suas as razões: No caso de descumprimento (não frequência ou baixa frequência), é necessário registrar o motivo indicativo, para que ações complementares sejam planejadas com a finalidade de enfrentamento e superação destes motivos, com vistas à melhoria da qualidade da educação das populações em situação de risco e de vulnerabilidade social. Estes registros são efetivados diretamente pelas unidades escolares. (CRAVEIRO; XIMENES, 2013, p.113) Desta maneira, a importância das condicionalidades do PBF permite, de modo geral, diminuir a evasão escolar e obter o enfrentamento dos condicionantes da vulnerabilidade social, pois, de acordo com a Portaria Interministerial nº 3789, de 17 de novembro de 2004, cabe aqui destacar a importância da Escola e do Programa Bolsa Família, considerando-se que a escola é um espaço de construção de conhecimento, formação humana e proteção social às crianças e adolescentes e que o baixo índice de frequência escolar é um dos indicadores de situação de risco que deve ser considerado na definição de políticas de proteção à família. (BRASIL, 2004). 2- CONSIDERAÇÕES FINAIS Diante do exposto, considera-se que as condicionalidades na educação são primordiais, pois, possibilitam a redução das faltas, melhoras no índice de aprendizado e a minimização da evasão escolar, contudo, salienta-se a necessidade de uma articulação mais efetiva entre escola e família, na relação da inclusão social destes alunos (as) faltosos, particularmente por estas famílias se encontrarem em situação de risco social e não abarcarem informações precisas sobre a frequência escolar, bem como acerca dos direitos constituídos no Programa Bolsa Família. Faz-se mister que também sejam informadas de todas as consequências ou sanções que são impostas pelo PBF aos descumprimentos das condicionalidades, a saber: advertência, bloqueio, suspensão e cancelamento da renda.
- 29. 28Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer No entanto, os cumprimentos das condicionalidades não devem ocorrer apenas para evitar as sanções, e sim porque, o beneficiário precisa estar na escola para adquirir conhecimento, pois, é o aprendizado que lhe permitirá no futuro a emancipação, até porque o PBF por si só, não conduz a uma transformação social. Para tanto, é preciso que ocorra a estimulação da conscientização da família, e que sejam elaboradas estratégias que fortaleçam o vínculo família-escola, assim como um trabalho conjunto da equipe multidisciplinar, mediante a realização de diversas formas interventivas como: reuniões de pais, entrevistas sociais e visitas domiciliares, com o intuito de conhecer o arranjo familiar, da criança e do adolescente, sendo possível desnudar o motivo das faltas. Também pode-se proporcionar através de oficinas pedagógicas, temas diversificados que envolvam: o bullying; a relação da família e a escola, drogas, entre outros fatores que colaborem com a infrequência escolar, sendo indispensável propor melhores intervenções que delineie estratégias mais efetivas, para procurar relacionar não somente o cumprimento das condicionalidades do PBF, mas incluir esses alunos ausentes no âmbito educacional, a fim de ter o aparato de transformação social, no qual, a educação é um pilar fundamental para esta construção social. Tais razões comprovam a importância das condicionalidades do PBF na Educação, há vista que estas colaboram na integração dessas famílias que estão em estado de pobreza e extrema pobreza para o viés do direito social e do acesso à Educação. REFERÊNCIAS ACANDA, Jorge Luiz. Sociedade civil e Hegemonia. Rio de Janeiro: UFRJ, 2006. BARBOSA, Alexandre de Freitas. Mundo Globalizado. São Paulo: Contexto, 2001. BARDIN, Laurence. Analise de Conteúdo. Trad. Luiz Antero Reto e Augusto Pinheiro. 3. ed. Lisboa, 2007. BEHRING, Elaine Rosseti. Brasil em Contra-Reforma: desestruturação do Estado e perda de direitos. São Paulo: Cortez, 2003. BEHRING, Elaine Rosseti; BOSCHETTI, Ivanete. Política Social: fundamentos e história. São Paulo: Cortez, 2006. Biblioteca Básica de Serviço Social. V.2. BRASIL, República Federativa. Diário Oficial da União. Portaria Interministerial nº 3.789, de 17 de novembro de 2004. Estabelece atribuições e normas para o cumprimento da Condicionalidade da Frequência Escolar no Programa Bolsa Família.
- 30. 29Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer CRAVEIRO, Clélia Brandão Alvarenga; XIMENES, Daniel de Aquino. Dez anos do Programa Bolsa Família: desafios e perspectivas para a universalização da educação básica no Brasil. In: Programa Bolsa Família: uma década de inclusão e cidadania/ org: Tereza Campello, Marcelo Côrtes Neri. Brasília: Ipea, 2013, p. 109-123. COTTA, Tereza Cristina; PAIVA, Luis Henrique. O Programa Bolsa Família e a Proteção Social no Brasil. In: 2003-2010: Bolsa Família 2003-2010: avanços e desafios. V.1, IPEA. COUTINHO, Carlos Nelson. A Hegemonia da Pequena Política. In: OLIVEIRA, Francisco de; BRAGA; Ruy; RIZEK; Cibeli (orgs). Hegemonia às Avessas. São Paulo: Boitemsepo, 2010. DIAS, Edmundo Fernandes. Política brasileira: embate de projetos hegemônicos. São Paulo: Instituto José Luís e Rosa Sundermann, 2006. FONSECA, Ana M. M. Família e Política de Renda Mínima. São Paulo: Cortez, 2001. v. 1. GABRIEL, Edilma Moreira; MACHADO, Clarisse Drummond Martins; OLIVEIRA, Raquel Loureiro. Focalização de Políticas Públicas: O Programa Bolsa Família como política pública focalizada para superação da desigualdade e exclusão. [201-?]. Disponível em: < >. Acesso em: 12 out. 2014. GOMES, Simone da Silva Ribeiro. Notas preliminares de uma crítica feminista aos programas de transferência direta de renda: o caso do Bolsa Família no Brasil. Textos & Contextos (Porto Alegre), v. 10, n. 1, p. 69 - 81, jan./jul. 2011. GOMES, Maria de Fátima Leite. O Programa Bolsa família (PBF) e suas condicionalidades na educação: o acompanhamento e monitoramento dos(as) alunos(as) em descumprimento na Escola Municipal Nazinha Barbosa da Franca – João Pessoa, 2017. GRAMSCI, Antônio. Cadernos do Cárcere. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006. IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/>. Acesso em: 08 setembro. 2017. MDS. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Condicionalidade de Educação. Disponível em: <http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/condicionalidades/gestao-de condicionalidades/condicionalidades-de-educacao%20>. Acesso em: 16 setembro. 2014
- 31. 30Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer ______. Condicionalidade de Saúde. Disponível em: <http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/condicionalidades/gestao-de condicionalidades/condicionalidades-de-saude%20>. Acesso em: 16 setembro. 2017. ______. Condicionalidades do Bolsa Família. s/d. Disponível em: <http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/condicionalidades>. Acesso em: 10. setembro. 2017. ______. Secretaria Nacional de Renda de cidadania. Instrução Operacional Conjunta nº 19/SENARC/SNAS. Brasília, 7 de setembro de 2017. Ministério do de 29 de setembro de 2008. Regulamenta a gestão das condicionalidades do Programa Bolsa Família, revoga a portaria GM/MDS nº 551, de 9 de novembro de 2005, e dá outras providências.Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Portaria GM/MDS nº 321. MOTA, Ana Elizabete. Cultura da Crise e Seguridade Social: um estudo sobre as tendências da previdência e da assistência social brasileira nos anos 80 e 90. São Paulo: Cortez, 1995. NETTO, José Paulo. A assistência social entre a produção e a reprodução social. Cadernos do Núcleo de Seguridade e Assistência Social da Puc Sp, PUC/SP/S. Paulo/SP, v. 2, p. 63-78, 1995. OFFE, C. Dominação de classe e sistema político: sobre a seletividade das instituições políticos. In: OFFE, C. (Org.) Problemas estruturais do Estado capitalista. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1984. OLIVEIRA, Francisco de; BRAGA, Ruy; RIZEK, Cibeli (Orgs.). Hegemonia às Avessas. São Paulo: Boitempo, 2010. PAULANI, Leda Maria. Capitalismo Financeiro, Estado e Emergência Econômico e Hegemonia às avessas no Brasil. In: OLIVEIRA, Francisco de; BRAGA, Ruy; RIZEK, cibeli (orgs.). Hegemonia às avessas. São Paulo: Boitempo, 2010. PIRES, André. Afinal para que servem as condicionalidades em educação do Programa Bolsa Família?. Ensaio: aval. pol. públ. Educ. Rio de Janeiro, v. 21, n.80, p. 513-532. 2013. RODRIGUES, Marlene Teixeira. Equidade de gênero e transferência de renda: reflexões a partir do Programa Bolsa Família. In: BOCHETI, I., BERING. E. R., SANTOS, S. M. de M., MIOTO, R. MC. T. Política Social no capitalismo: tendências contemporâneas. São Paulo: Cortez, 2008.
- 32. 31Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer SANTIAGO, Maria das Graças de Oliveira; GRAMACHO, Maria Vitória de Souza Dantas; DAZZANI, Maria Virginia Machado. Programa Bolsa Família acompanhamento familiar no sistema único de assistência social. Cadernos Gestão Pública e Cidadania: São Paulo, v. 18, n. 63, Jul./Dez. 2013. SANTOS, Francisco Waleison dos. et al. Análise crítica acerca do programa de transferência de renda bolsa família na esfera compensatória da ofensiva neoliberal. II Colóquio Sociedade, Políticas Públicas, Cultura e Desenvolvimento. 2012. SEIBEL, E.; OLIVEIRA, H. Clientelismo e seletividade: desafios às políticas sociais. Revista de Ciências Humanas. Florianópolis, n° 39, abril/2006. SILVA, Maria Ozanira da Silva e . Renda Mínima: características e tendências da experiência brasileira. In: Aldaíza Sposati. (Org.). Renda Mínima no Debate Internacional. 1. ed. São Paulo: PUC/SP, 2001, v. 1, p. 101-117. SILVA, Maria Ozanira da Silva e. Renda Minima e Reestruturação Produtiva. 1. ed. SÃO PAULO: CORTEZ, 1997. SPOSATI, Aldaiza de Oliveira. Renda Mínima e crise mundial: saída ou agravamento. São Paulo: Cortez, 1997. TEIXERA, Francisco José Soares. Pensando com Marx: uma leitura crítico-comentada de O Capital. São Paulo: Ensaio, 1995. TREVISANI, Jorginete de Jesus Damião. Avaliação da implementação das condicionalidades de saúde do Programa Bolsa Família e seu papel no cuidado à saúde: estudo de caso do município do Rio de Janeiro. São Paulo, 2012. XIMENES, Daniel de Aquino; AGATTE, Juliana Picoli. A gestão das condicionalidades do Programa Bolsa Família: uma experiência intersetorial e federativa. Inc. Soc., Brasília, DF, v. 5 n. 1, p. 11-19, 2011. YAZBEK, Maria Carmelita. Classes subalternas e assistência social. São Paulo: Cortez, 1999. ABSTRACT The article starts with the experience report of the extension project, entitled: The Bolsa Família Program (PBF) and its conditionalities in education: the monitoring of students in noncompliance at the municipal school nazinha barbosa da franca, located in the district of manaíra, in joão pessoa - pb, in which an analysis is made of the students enrolled from 1st to 9th grade, elementary school i and ii, who are beneficiaries of the income transfer program bolsa family (pbf). the aim is to understand the importance of the pbf in education, through its conditionality, and to
- 33. 32Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer verify the number of students who are in noncompliance, through the possible reasons that contemplate the consequent students' absences (the ) beneficiaries of the (pbf). however, all the subjects involved are provided with an envelope in relation to the sanctions imposed in the (pbf), in a critical way, so that it can obtain the strengthening of citizenship and social rights. thus, it is necessary to propose better coping strategies for noncompliance with school attendance, providing the encouragement and prevention of the students in need. however, school dropout is especially due to the fact that the social vulnerability of the students, such as: violence, family neglect, drug trafficking, among others. this time, it is pointed out that the pbf can be seen as a social vehicle that enables the insertion in the context of society, of those who are in a state of social exclusion. KEYWORDS: Social Program, Bolsa Familia Program, Education, Conditioalities.
- 34. 33Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer CAPÍTULO III A VISÃO DA GESTÃO DE PESSOAS SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE RECIFE NO ESTADO DE PERNAMBUCO ________________________ Cybelle Leão Ferreira Gyselle Leão Ferreira Viviana Maria dos Santos
- 35. 34Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer A VISÃO DA GESTÃO DE PESSOAS SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE RECIFE NO ESTADO DE PERNAMBUCO Cybelle Leão Ferreira Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) Recife – PE Gyselle Leão Ferreira Instituto Federal de Educação e Tecnologia de Pernambuco (IFPE) Recife – PE Viviana Maria dos Santos Escola Estadual Marcelino Champagnat Recife – PE RESUMO: O salário é uma das recompensas mais esperadas por quem trabalha. Existem vários critérios para o valor final desta remuneração e uma das funções da Gestão de Pessoas é buscar valores justos e compatíveis com o porte da empresa, produtividade do colaborador, nível de escolaridade, entre outros. Infelizmente, muitas profissões ainda estão aquém em comparação a outras, tanto em nível salarial, como em qualidade de vida no trabalho e prestígio social. Neste trabalho serão abordadas as influências da remuneração nas atividades profissionais de professores da educação básica considerando os vencimentos iniciais dos docentes da Região Metropolitana do Recife. Antes de 2008 não havia uma regulamentação do piso salarial desta categoria, portanto, víamos salários considerados baixos quando comparado somente a escolaridade. Mas com a sua regulamentação, ocorrida em 2008 com aplicação a partir de 2009, houve uma valorização da remuneração desses profissionais, com o salário fixado, naquela época, em R$ 950,00, enquanto o salário mínimo estava em R$ 465,00. Porém, mesmo com a regulamentação, foi verificado que muitas prefeituras ainda não pagam o piso salarial a esses profissionais, utilizando de artifícios, como a redução de carga horária ou complementando o salário bruto com gratificações temporárias para alcançar o valor base. Essas divergências de valores prejudicam o rendimento laboral do assalariado pois o mesmo pode não si sentir valorizado em sua função e as gratificações temporárias complementares costumam não ser incorporadas nas aposentadorias, ocasionando uma redução no valor salarial. PALAVRA-CHAVE: Gestão de Pessoas, salário, valorização profissional. 1. INTRODUÇÃO A pretensão salarial compatível com a função exigida para um cargo é uma busca constante entre as mais diversas profissões. Para os professores da educação básica, tanto no setor privado como no público, é uma luta constante em busca de melhores salários. O atual cenário visto, em diversos setores, é de maiores
- 36. 35Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer exigências em produtividade e nível de escolaridade em detrimento da remuneração e qualidade de vida no trabalho. O objetivo geral deste estudo é analisar, sob a ótica da Gestão de Pessoas, a valorização profissional docente por parte das prefeituras dos municípios da Região Metropolitana de Recife, no Estado de Pernambuco, levando em consideração somente o salário base inicial mensal. Este artigo pertence ao trabalho produzido na graduação já concluída da autora (Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos) com o apoio de graduandas em licenciatura (as coautoras). A importância deste trabalho para a área da Educação é mostrar aos futuros docentes uma análise dos vencimentos oferecidos aos servidores na esfera municipal do Estado em questão. 2. METODOLOGIA Foi realizado um comparativo dos pagamentos oferecidos aos ingressantes de cargos públicos, citados em editais de concurso público, para professores do ensino fundamental I e II dos municípios analisados. Nos municípios aonde as seleções para cargos efetivos foram anteriores a 2010 foram incluídas algumas seleções simplificadas (seleção com o propósito de contratar profissionais temporários para cobrir eventuais falta de servidores) para fins de comparação. Os editais analisados foram no período entre setembro de 2006 e março de 2017. Para embasamento da valorização profissional em cima da remuneração foi feita revisão bibliográfica na área de Administração de Cargos e Salários. 3. A IMPORTÂNCIA DO SALÁRIO PARA A SOCIEDADE Para as pessoas, o recebimento de proventos é visto como uma recompensa pela prestação de seus serviços e funciona com uma moeda de troca, o funcionário produz para a empresa e em contrapartida ele recebe uma retribuição por ter se empenhado em fazer a sua parte. Já para as organizações, o pagamento dos salários é, ao mesmo tempo, um custo e um investimento, custo por ser um valor a ser retirado dos capitais empresariais e investimento por ser um motivacional para as pessoas na produção de bens e serviços para uma empresa. Chiavenato (2003, p. 35-36) fala o seguinte sobre a importância de pagamentos aos colaboradores. A compensação é provavelmente a maior razão pela qual as pessoas buscam um emprego. Ela é importante do ponto de vista de cada pessoa, como uma necessidade vital. Pagamento é o meio pelo qual uma pessoa proporciona satisfação de suas necessidades e de sua família. Para muitas pessoas com atitude instrumental quanto ao trabalho, é a maior razão para trabalhar. Entretanto, o trabalho pode ser mais do que um elemento que proporcione satisfação para as necessidades fisiológicas das pessoas.
- 37. 36Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer A compensação define o nível de importância de uma pessoa para sua organização. Então podemos afirmar o seguinte: quanto mais elevado for o ordenado, maior o poder aquisitivo proporcionado, ocasionando melhoria da qualidade de vida e expansão dos serviços na sociedade. Porém, enquanto os salários crescem, o consumo sobe, ocasionando um aumento da inflação e a elevação dos preços. Com isto, as demandas de produtos e serviços caem, causando a diminuição da produção e, consequentemente, a redução dos cargos requeridos para a produção daqueles produtos e serviços. Contudo, se o aumento salarial é compensado por um aumento da produtividade, estes vencimentos elevados poderão contribuir para o bem-estar econômico da sociedade. 4. FATORES PARA A COMPOSIÇÃO SALARIAL A composição salarial depende de fatores internos e externos e a atuação destes irão determinar os valores finais. As variáveis dos fatores dependem do tipo de empresa e profissão, por isso temos salários diversificados para o mesmo nível de escolaridade. Os fatores internos são os componentes de cunho organizacional, como: tipos de cargos, política salarial, capacidade financeira, desempenho geral e a competitividade empresarial. Os externos são influenciados pelo ambiente, são eles: o mercado de trabalho e de clientes, conjuntura econômica, decisões sindicais e coletivas, legislação e concorrência no mercado. 5. CONSIDERAÇÕES SOBRE O PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA No Brasil, para um profissional do magistério público da educação básica, a escolaridade mínima exigida para o ensino em nível fundamental I (do primeiro ao quinto ano) é o Normal Médio ou Magistério (curso de nível médio) ou curso superior em Pedagogia e para o ensino em nível fundamental II (do sexto ao nono ano) é necessária a Licenciatura na área da disciplina a ser ministrada. O piso salarial referente a esta carreira é regido pela Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008 a ser aplicado a partir do ano de 2009. Os valores deste piso são fundamentados para uma jornada de 40 (quarenta) horas semanais e escolaridade mínima de nível médio. No gráfico abaixo segue a evolução, desde a sua implantação, do piso salarial dos professores da educação básica em comparação ao salário mínimo vigente da época, aonde a barra laranja corresponde ao piso salarial dos professores (P.S.P.) e a barra azul o salário mínimo vigente (S.M.).
- 38. 37Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer Gráfico 1: Evolução do piso salarial dos professores da educação básica do ano de 2008 até o ano 2017. 6. DADOS SALARIAIS DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE RECIFE Os dados coletados na tabela abaixo são dos salários base, informados em edital, oferecidos aos ingressantes dos cargos nos anos de divulgação dos processos seletivos. Nesta, só foram incluídas as gratificações e outros benefícios citados em editais, aonde os dados omitidos não implicam, necessariamente, que em outras prefeituras não detenham gratificações. Tabela 1: Salário base oferecidos aos ingressantes pelas prefeituras analisadas Cidade Ano da seleção Vencimentos para ensino no nível Fundamental I Vencimentos para ensino no nível Fundamental II Carga horária Abreu e Lima 2008 R$743,00 R$1.883,00 Não informado 2016* R$ 1.437,75 Não houve seleção 150 h/a mensais Araçoiaba 2007 R$350,00 R$ 2,34 h/a 4,5 horas diárias e 150 h/a mensais R$ 415,00 R$ 465,00 R$ 510,00 R$ 545,00 R$ 622,00 R$ 678,00 R$ 724,00 R$ 788,00 R$ 880,00 R$ 937,00 R$ 950,00 R$ 1.024,67 R$ 1.187,08 R$ 1.451,00 R$ 1.567,00 R$ 1.697,00 R$ 1.917,78 R$ 2.135,64 R$ 2.298,80 R$ 0,00 R$ 500,00 R$ 1.000,00 R$ 1.500,00 R$ 2.000,00 R$ 2.500,00 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 P. S. P. R$ 950,00 R$ 1.024,6 R$ 1.187,0 R$ 1.451,0 R$ 1.567,0 R$ 1.697,0 R$ 1.917,7 R$ 2.135,6 R$ 2.298,8 S. M. R$ 415,00 R$ 465,00 R$ 510,00 R$ 545,00 R$ 622,00 R$ 678,00 R$ 724,00 R$ 788,00 R$ 880,00 R$ 937,00
- 39. 38Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer Cabo de Santo Agostinho 2006 R$350,00 R$ 2,45 h/a 150 h/a mensais 2016 R$1.351,60 R$1.351,60 30 h/a semanais Camaragibe 2008 Não houve seleção R$721,31 30 h/a semanais 2012 R$1.157,40 Não houve seleção 150 h/a mensais Igarassu 2011 R$890,00 + 30% gratificação R$988,18 + 30% gratificação 150 h/a mensais Ilha de Itamaracá 2010 R$488,25 + 40% gratificação Não houve seleção 30 h/a semanais Ipojuca 2013 R$1.776,60 R$1.776,60 189 h/a mensais Itapissuma 2012 R$1.088,00 + 50% gratificação R$1.251,00 + 50% gratificação 150 h/a mensais Jaboatão dos Guararapes 2015 R$ 11,04 h/a R$ 12,36 h/a 100 h/a até 200 h/a mensais Moreno 2009 R$950,00 R$950,00 150 h/a mensais 2017 R$ 11,50 R$ 11,50 Não informado Olinda 2006 R$ 269,76 + 50% gratificação R$ 378,82 + R$ 189,41 gratificação Não informado 2011 R$848,51 R$959,95 150 h/a mensais Paulista 2016 R$ 1.665,30 R$ 1.602,00 156 h/a e 150 h/a mensais Recife 2007 R$ 546,65 Não houve seleção Não informado 2014 R$ 1.315,15 R$ 13,02h/a 145 h/a até 270 h/a mensais São Lourenço da Mata 2010 R$ 604,44 + 70% gratificação Não houve seleção 150 h/a mensais * Seleção simplificada cancelada conforme edital 03/2016. 7. ANÁLISE DA VALORIZAÇÃO SALARIAL DA PROFISSÃO De acordo com os dados demonstrados neste artigo, após a regulamentação do piso, houve uma notória valorização salarial dos docentes em comparação ao salário mínimo, porém ainda não alcançou os rendimentos de outras carreiras com o mesmo nível de escolaridade. Além disso, nos munícipios analisados, foram verificados em maioria deles uma redução de carga horária aonde ocorre o encolhimento do valor base dos proventos. Outro fator relevante é a falta de uma
- 40. 39Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer gratificação por nível de escolaridade, gerando uma sensação da não compensação por ter uma instrução maior. A longo prazo isto pode limitar o profissional educacionalmente, pois não há uma contrapartida por parte do munícipio. Para exemplo geral, será analisado a remuneração inicial (considerando somente o valor monetário, sem levar em consideração a carga horária trabalhada e eventuais gratificações não informadas) do município do Cabo de Santo Agostinho. Nele, podemos verificar vários fatores: A prefeitura desta cidade oferecia para o ensino em nível fundamental I, em 2006, o equivalente ao salário mínimo da época, R$ 350,00, e na seleção em 2016, aonde já havia a regulamentação do piso salarial, foi oferecido o valor de R$ 1.351,60, contrastando com o salário mínimo da época que estava em R$ 880,00. No entanto o valor oferecido ainda estava muito abaixo do piso salarial regido na época, de R$ 2.135,64. Uma das justificativas para esse valor ser abaixo do piso é a carga horária, de 30 horas semanais, e a legislação exige 40 horas semanais. 8. CONCLUSÕES Os valores das remunerações, conforme informados neste artigo, possuem diversos elementos. O exercício do magistério na educação básica ainda carece de valorização profissional em várias vertentes, inclusive na questão dos pagamentos. Falta um reconhecimento real para o nível de escolaridade mínimo exigido para a função e tampouco nos editais informam estímulos remuneratório para os que possuem pós-graduação. Porém, de acordo com as análises dos valores salariais dos editais, houve uma valorização salarial dos profissionais de magistério da educação básica em comparação ao salário mínimo após a regulamentação do piso salarial pela Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008, porém, os valores dos proventos em editais em serviço público não chegam a ser atraentes financeiramente, pois há um encolhimento da carga horária para poder pagar um valor menor (para ficar proporcional ao piso salarial). Esta redução da carga horária em detrimento do rendimento, faz o docente procurar uma segunda remuneração, ocasionando algumas vezes uma redução da qualidade de vida. Em algumas prefeituras ocorrem também do salário base ser menor que o piso e é colocado uma porcentagem como gratificação para alcançar o valor. Tudo isso traz desconforto a esses profissionais, ocasionando um falso privilégio no presente, mas podendo acarretar no futuro um comprometimento da renda, pois a gratificação é uma parte do vencimento aonde pode ser alterado a qualquer momento e não é incorporado ao salário, trazendo desvantagens em caso de licença e aposentadoria. Além de que as pessoas no geral tendem a enxergar o exercício da docência como um trabalho não qualificado ao comparar seus salários com o de outros profissionais de mesmo nível de escolaridade. O estudo encomendado pela Fundação Victor Civita no final de 2009 abordou a questão salarial e a falta de plano de carreira, e mostrou que a opção de escolha
- 41. 40Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer pela carreira de professor vem caindo bastante. É a garantia de valorização salarial, profissional e planos de carreira, que fará com que esses dados mudem. REFERÊNCIAS ---. et al. Atratividade da carreira docente no Brasil. In: FUNDAÇÃO VICTOR CIVITA. Estudos e pesquisas educacionais. São Paulo: FVC, 2009. BRASIL, Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008. Regulamenta a alínea “e” do inciso III do caput do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para instituir o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica. Publicado no DOU em 17 de julho de 2008. CHIAVENATO, Idalberto. Remuneração, Benefícios e Relações de Trabalho: como reter talentos na organização. 3.ed. São Paulo: Atlas, 2003. 200p. Ministério da Educação. Todas as notícias. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/todas-as-noticias?view=noticias>. Acesso em: 20 de junho de 2017. PCI Concursos. Concursos em Pernambuco. Disponível em: <https://www.pciconcursos.com.br/ concursos/pe/>. Acesso em: 13 de junho de 2017. ---. Tabelas dos valores nominais do salário mínimo. Disponível em: < http:// www.guia trabalhista.com.br/guia/salario_minimo.htm>. Acesso em: 20 de maio de 2016.
- 42. 41Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer CAPÍTULO IV AS CONTRADIÇÕES DO PROGRAMA UM COMPUTADOR POR ALUNO, SEUS LIMITES E POSSIBILIDADES RUMO A CONSTRUÇÃO DE COMUNIDADES DE APRENDIZAGEM ________________________ Josemar Farias da Silva Selma Suely Baçal de Oliveira Laudicea Farias da Silva
- 43. 42Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer AS CONTRADIÇÕES DO PROGRAMA UM COMPUTADOR POR ALUNO, SEUS LIMITES E POSSIBILIDADES RUMO A CONSTRUÇÃO DE COMUNIDADES DE APRENDIZAGEM Josemar Farias da Silva Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas - IFAM Manaus – AM Selma Suely Baçal de Oliveira Universidade Federal do Amazonas – UFAM. Manaus – AM. Laudicea Farias da Silva Secretaria de Educação de Pernambuco. Macaparana - PE RESUMO: Este trabalho se propõe a partir dos pressupostos da Psicologia Histórico- Cultural, ancoradas no Materialismo Histórico e Dialético, a compreender o contexto de intensificação das Políticas Públicas Educacionais que tem visado intensificar o uso do computador na escola pública. Dentro dessa proposta situamos o nosso objeto de estudo levando em consideração o contexto e as contradições existentes em nossa sociedade, decorrentes do nosso modelo de produção capitalista. Concluímos que o uso massivo das tecnologias na educação tem sido cada vez mais requerido ante o contexto de reestruturação produtiva, em que a escola tem sido chamada a dar conta de demandas geradas no bojo da exclusão do próprio capital. Propomos formas mais críticas de se enxergar esses aparatos tecnológicos de forma a serem instrumentos de mediação capazes de contribuir com a melhoria da escola pública, a partir da formação crítica dos sujeitos comprometidos com um novo projeto societário mais justo e menos excludente. Entre limites e possibilidades compreendemos o uso do computador na educação enquanto instrumento de mediação no processo de ensino-aprendizagem, e o papel importante desempenhado pelo professor nesse processo, visando o desenvolvimento no ambiente escolar de comunidades de aprendizagem. PALAVRAS CHAVES: Tecnologias na Educação. Psicologia Histórico-Cultural. Comunidades de aprendizagem. 1. UMA BREVE INTRODUÇÃO A escola hoje tem sido impactada por uma política pública educacional que concebe o uso da tecnologia enquanto meio que possibilitaria a melhoria na qualidade do ensino e principalmente segundo documentos oficiais, proporcionaria a chamada inclusão digital. Dois modelos de políticas públicas1, que propõem distribuir computadores a escolas públicas para uso pedagógico, estão em circulação hoje em dia, embora se baseiem em perspectivas e concepções de aprendizagem diferentes, trazem em comum à pretensa ideia de que a melhoria da qualidade da escola pública passa 1 Serão abordados em linhas gerais, mais adiante no decorrer do trabalho.
- 44. 43Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer necessariamente pela introdução de insumos que em conjunto assegurariam melhoria nos processos de aprendizagem. Nesse contexto torna-se urgente e necessário promovermos discussões e reflexões sobre as políticas públicas, e mais especificamente acerca do uso massivo das tecnologias na educação para assim, refletir sobre suas potencialidades, numa perspectiva crítica, que se constitui como aquela que [...] partindo da visão de que a sociedade atual se estrutura sobre relações de dominação de uma classe social sobre outra e de determinados grupos sociais sobre outros, preconizam a necessidade de superação dessa sociedade. [...] Todas as teorias críticas têm em comum a busca de desfetichização das formas pelas quais a educação reproduz as relações de dominação, pois entendem isso como fundamental para a própria luta contra essas relações. (DUARTE, 2006, p. 94). Assim é o que nos propomos no presente artigo, buscar referenciais teóricos que nos permitam estabelecer um diálogo para assim se propor formas mais conscientes e críticas de se atuar no contexto escolar com vistas a promover a aprendizagem e a elevação cultural do indivíduo a partir da apropriação dos conhecimentos científicos historicamente produzidos. Estruturamos nosso texto em três partes. Na primeira, em linhas gerais destacamos duas das políticas deflagradas pelo Governo Federal, que supostamente visam à melhoria da qualidade da escola pública a partir dos processos que a tecnologia pode desencadear. Na segunda parte discutimos sobre as contribuições da psicologia histórico cultural a despeito da mediação nos processos de aprendizagem. 2. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE INSERÇÃO DAS TECNOLOGIAS2 NA EDUCAÇÃO Numa tentativa de mover-se para além da aparência, discutiremos de forma breve o contexto e emergência da Política Nacional de Informática na educação, numa tentativa de situar nosso objeto, de estudo, observando sua constituição e emergência no plano histórico. Seguiremos em seguida com a descrição das políticas vigentes de intensificação e uso massivo da informática na educação, seus fundamentos, objetivos e a forma de funcionamento e constituição dessa política, justificadas pela necessidade de inclusão digital, conforme aparece em documentos oficiais analisados. As tecnologias têm ocupado hoje um papel central em toda a sociedade contemporânea, permeando quase todos os espaços, 2 Embora as tecnologias se refiram a um amplo aparato de instrumentos, destinando-se a realização das mais variadas tarefas, compreendendo múltiplos aspectos funcionais, nos referimos, para efeito desse trabalho, especialmente – o uso do computador conectado a internet.
- 45. 44Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer “[...] de modo que ela não mais pode ser definida como uma somatória de novas técnicas operacionais, mas sim como um modus vivendi, como um processo social que determina as configurações identitárias dos indivíduos e as do processo educacional/formativo” (ZUIN, 2010, p.961). Em termos educacionais, seu uso tem sido associado a uma melhoria da qualidade da escola pública a partir de ações que visam sua universalização (KRAMER, MOREIRA, 2007). Dessa forma o impacto causado em nossa sociedade é visível, alterando significativamente o mundo do trabalho e as relações entre indivíduos, a partir de novas formas de interação desencadeadas pelo surgimento cada vez mais crescente de novos aparatos tecnológicos. O uso do termo informática na educação refere-se ao uso sistemático do computador em sala de aula, nos diversos processos de ensino-aprendizagem dos conteúdos curriculares saindo da velha forma tradicional e transmissiva possibilitando diversificar e tornar mais desafiador e interessante o aprender (VALENTE, 1999). Pontua o autor que “o uso do computador pode ser feito tanto para continuar transmitindo a informação para o aluno e, portanto, para reforçar o processo instrucionista, quanto para criar condições de o aluno construir seu conhecimento” (p. 01). E frente ao novo papel que tem esse conhecimento em nossa sociedade [...] as estruturas de ensino poderiam evoluir, por exemplo, para um papel muito mais organizador de espaços culturais e científicos do que propriamente de “lecionador” no sentido tradicional. [...] o fato do conhecimento ter-se tornado fluido, instantaneamente transportável, faz com que ele seja hoje menos uma matéria-prima que primeiro se aprende, e depois se transmite, para se construir numa rede de participantes que deles partilham. À medida que a cultura da conectividade se generaliza, vão se formando assim redes culturais interativas que o professor pode ajudar a organizar, a dinamizar. (DOWBOR, 2008 p. 29) Ante a abrangência e o potencial de mudar significativamente as formas de aprender e de se ensinar que acontecem hoje na escola, com um ensino fragmentado, compartimentado, pouco ou nada emancipador e com relações nada lineares, sendo instituído desde há muito tempo os “donos e detentores” dos saberes – o professor, e aqueles que “nada sabem” – os alunos, é que a inserção de uma tecnologia como o computador distribuído a cada aluno, como se propõe o projeto UCA, adquire grande importância no cenário atual da educação brasileira, pois problematiza e leva o debate para as escolas, meio acadêmico e sociedade, sobre a discussão do uso das tecnologias de forma intensiva nas escolas, pois sempre haverá adeptos e “tecnofóbicos”. (SILVA, MARTINES, 2014). Sob o ponto de vista histórico, de acordo com Moraes (1993, 1997) é datado da década de 70 as discussões acerca do uso da informática educativa na escola. As discussões iniciais aconteceram em ambientes acadêmicos, com ações desenvolvidas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1966) a Universidade de
- 46. 45Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer Campinas (1973) e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1975), na maioria dos casos as discussões se deram em centros ou departamentos de computação, matemática ou estatística. A política nacional brasileira voltada para a informática na educação até a década de 1980 era considerada estratégica e de segurança nacional, possuindo um relativo apoio nacional para desenvolvimento de pesquisas e projetos. Caracterizando-se como tecnocrática, elitista, e excludente se constituindo como uma história paralela da política educacional brasileira (MORAES, 1996). O modelo econômico e social adotado no Brasil em plena ditadura militar é o marco de todo um processo de associação entre educação e informática que tem início na década de 70, quando se mobiliza a partir daí todo o setor educacional para atender a demanda de uma sociedade, especificamente de uma economia que necessitava de recursos humanos para proporcionar o necessário desenvolvimento de uma base tecnológica no Brasil (PRETTO; BONILLA, 2000). O Brasil buscava nessa época criar condições próprias de desenvolvimento tecnológico, visando desde então o desenvolvimento social, econômico e político. Assim como a França, os Estados Unidos, o Japão, a Inglaterra e a Suécia, o Brasil tinha interesse em construir uma base própria que lhe garantisse autonomia tecnológica em informática, preocupado inclusive com as questões de soberania nacional e de que forma a informática poderia vir a afetar as relações de poder. (MORAES, 1993, p. 17) Investir no setor de informática era visto como fundamental para o desenvolvimento da economia nacional, como nos afirma Moraes (1995) o desenvolvimento tecnológico, seja no setor civil, seja no militar objetivavam [...] dominar a tecnologia para que não aumentasse ainda mais o fosso tecnológico que separa o país dos centros econômicos capitalistas mundiais, já que este setor está se constituindo num dos pilares onde está se assentando o novo ciclo de acumulação do capital a nível mundial, além de ser componente obrigatório de várias tecnologias, incluindo as bélicas. (apud PRETTO; BONILLA, 2000, não paginado). Desde então, uma série de ações, projetos e programas foram implementados: EDUCOM, FORMAR, PRONINFE, PLANINFE, PROINFO, compreendendo ações entre criação de espaços de discussões e pesquisas, construção de infraestrutura, formação e distribuições de equipamentos. Não objetivamos neste trabalho fazer um resgate histórico da trajetória do uso das tecnologias na escola. Apontamos apenas algumas questões dada à necessidade de contextualizar para avançarmos em nossa discussão. Optamos por expor em linhas gerais dois dos programas vigentes, relacionados com a inserção do computador na escola dada a sua amplitude, relevância e impactos sob a escola pública. O Programa Nacional de Formação Continuada em Tecnologia Educacional denominado ProInfo Integrado, foi instituído a partir do Decreto 6.300 de 12 de
- 47. 46Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer Dezembro de 2007. Inicialmente gerenciado pela SEED/MEC – Secretaria de Educação a Distância, e posteriormente pela SECADI, desenvolve em parceria com estados e municípios, ações voltadas à universalização do uso das TICs, atuando diretamente a partir dos núcleos de tecnologia Educacional (NTEs) estaduais e municipais. De acordo com o referido decreto, são objetivos do programa: I - promover o uso pedagógico das tecnologias de informação e comunicação nas escolas de educação básica das redes públicas de ensino urbanas e rurais; II - fomentar a melhoria do processo de ensino e aprendizagem com o uso das tecnologias de informação e comunicação; III - promover a capacitação dos agentes educacionais envolvidos nas ações do Programa; IV - contribuir com a inclusão digital por meio da ampliação do acesso a computadores, da conexão à rede mundial de computadores e de outras tecnologias digitais, beneficiando a comunidade escolar e a população próxima às escolas; V - contribuir para a preparação dos jovens e adultos para o mercado de trabalho por meio do uso das tecnologias de informação e comunicação; e VI - fomentar a produção nacional de conteúdos digitais educacionais. (BRASIL, 2007) Em suma, o programa, além de oferecer formação didático-pedagógica para uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), articula-se com a distribuição de equipamentos tecnológicos como o computador, além da oferta de conteúdos e recursos multimídia que serão utilizados em espaços denominados “laboratórios de informática”. O programa um computador por aluno (PROUCA), instituído pela Lei nº 12.249, de 14 de junho de 2010, e regulamentado pelo decreto 7.243 de 26 de Julho de 2010, destina-se a distribuição de um laptop educacional para escolas de ensino fundamental, baseando no paradigma 1:1 – cada aluno com seu computador, lema esse que é adotado pela OLPC – One Laptop per Child, organização criada por Nicholas Negroponte e vinculada ao MIT – Massachusetts Institute of Technology. De acordo com um vídeo3 disponível no site da OLPC, sua missão pode assim ser definida: “nós queremos criar oportunidades educacionais para as crianças mais pobres do mundo provendo cada uma delas com um laptop resistente, de baixo custo, com baixo consumo de energia e conectado”. Conforme avaliação realizada pela Câmara dos Deputados através do Conselho de altos estudos, um investimento dessa envergadura justifica-se uma vez que: 3 Vídeo disponível em: http://www.olpc.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=117:missao-da-olpc- &catid=27:experiencias&Itemid=18
- 48. 47Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer I) A imersão tecnológica da escola propicia o desenvolvimento de uma “cultura digital”, na qual os alunos têm suas possibilidades de aprendizagem ampliadas pela interação com uma multiplicidade de linguagens ao mesmo tempo em que se potencializa a inclusão digital de toda a comunidade escolar. II) O viés da eqüidade social e o da competitividade econômica convergem ao serem estimuladas as novas habilidades e competências que a era digital exige. Assim, espera-se que novas formas de comunicação sejam disseminadas, que a educação abranja outros tipos de letramentos além do alfabético e oriente-se para o desenvolvimento da capacidade de aprender a aprender. III) A mobilidade e a conectividade do equipamento permitem ampliar os tempos e espaços de aprendizagem de professores e alunos, fundamentais para desenvolver a autonomia que possibilita a educação por toda a vida, como defende a UNESCO. IV) Por último, a utilização dos laptops conectados à Internet permite a constituição de múltiplas comunidades de aprendizagem, que, interligadas em rede, favorecem a interculturalidade, o trabalho cooperativo e colaborativo e a autoria e co-autoria entre estudantes e professores na construção do conhecimento, resultantes da quebra de hierarquia e linearidade nas relações. O objetivo é contrapor- se ao modelo tradicional de educação, ampliando a relevância e a contextualização do processo educacional. (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2008, p. 16-17). As políticas educacionais nas últimas décadas têm apostado e depositado nas novas tecnologias, “o poder de converter ‘excluídos’ em ‘incluídos’. Sem alterar as relações econômicas que realimentam a expropriação e exploração, (constituindo- se) [...] como uma das principais estratégias de alivio a pobreza”, (BARRETO, 2009, p. 49). Ou como se a qualidade da educação passasse apenas pela ausência ou presença de instrumentos tecnológicos modernos. As tentativas: de ordenar os sistemas educacionais e de promover qualidade na educação, não devem ser orientadas por valores definidos “de cima”. Também não cabe celebrar a capacidade “mágica” de qualquer componente do processo pedagógico (como as novas tecnologias, por exemplo) e vê-lo, por si só, como catalisador de mudanças significativas. (MOREIRA e KRAMER, 2007, p. 1046). Postman (1994, p. 78) traz contribuições dentro dessa discussão ao afirmar que “a informação tornou-se uma espécie de lixo, não somente incapaz de responder as questões humanas mais fundamentais, mas também pouco útil para dar uma solução coerente aos problemas mundanos”. Por essas razoes defendemos a tese de que uma educação que se pretenda desenvolver a criticidade necessária que possibilite ao indivíduo não somente se apropriar da cultura historicamente produzida, mas capacita-lo a ser agente de mudanças, na busca da superação dessa sociedade, não pode prescindir da compreensão acerca dos complexos processos atrelados as tecnologias na dinâmica da atual conjuntura capitalista Neste processo, a inserção e o uso massivo de computadores e laptops educacionais na educação, refletem este caráter ideológico, justificando o porquê do
- 49. 48Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer investimento e priorização neste meio e não em outro, fenômeno este que é explicado por Postman (1994, p. 23) [...] pois toda ferramenta está impregnada de um viés ideológico, de uma predisposição a construir o mundo como uma coisa e não como outra, a valorizar uma coisa mais que outra, a amplificar um sentido ou habilidade ou atitude com mais intensidade do que os outros. Dessa forma, a busca por competências e letramentos digitais têm se constituído nos discursos oficiais, em modelos e práticas que advogam em função da formação de um novo tipo de trabalhador para se atender as demandas que o capital requer como tem se constituído a escola, onde entendemos se constituir, naquilo que Kuenzer (2002) chama de inclusão excludente e exclusão includente. Nesse sentido, pode-se afirmar que a finalidade do trabalho pedagógico, (tem sido) articulado ao processo de trabalho capitalista, é o disciplinamento para a vida social e produtiva, em conformidade com as especificidades que os processos de produção, em decorrência do desenvolvimento que as forças produtivas vão assumindo. Cabendo a educação dar conta da formação desse trabalhador que a sociedade tem requerido. Um trabalhador que se adapte com rapidez e eficiência as mais diversas situações para os quais tem que dar respostas, enfim um trabalhador com comportamentos flexíveis (KUENZER, 2002). A partir dos documentos oficiais analisados, uma justificativa presente em todos os documentos e que também embasam o desenvolvimento de tais políticas educacionais, está a necessidade de inclusão digital. Porém, entendemos que, focarmos o debate acerca da inclusão/exclusão digital, a partir da premissa de possuir ou não possuir determinada ferramenta tecnológica ou o acesso a ela, não nos leva a um dimensionamento da gravidade dessa problemática (BARRETO, 2009; CAZELOTO, 2007), bem como, impede o debate sobre as questões de fundo geradoras da referida exclusão. Recorrendo-se a produção científica, ou mesmo realizando um simples passeio pela memória, não é difícil perceber e concluir que grande parte das políticas públicas, principalmente as tidas como sociais, tem se limitado a agir sobre as consequências da pobreza, em vez de direcionar as ações para aquilo que historicamente e socialmente têm gerado e perpetuado não somente a pobreza como a miséria em todo o mundo. “Por isso, a problemática da exclusão não pode ser vista como um problema em si” (CAZELOTO, 2007, p. 163), pois numa sociedade capitalista como a nossa, a riqueza é distribuída seguindo os ditames, normas e lógica do mercado, desenvolvendo ao longo da história, toda uma modalidade de privações e sofrimento, onde o verdadeiro e triste drama humano fica oculto atrás dos números, estatísticas – verdadeiros “eufemismos/reducionismos” da real condição humana, face à pobreza historicamente gerada e mantida. Em consonância com essas questões, Barreto (2009, p. 40-41) nos confirma que
- 50. 49Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer [...] a referida dicotomia oculta um conjunto mais amplo de questões históricas e estruturais da expropriação e da exploração, remetendo a problemática das classes sociais. [...] a dicotomia em questão embora apresentada nas políticas governamentais como categoria explicativa do real, silencia a história de constituição e reprodução do capitalismo: a inclusão dos trabalhadores no mercado nada tem de idílica, envolvendo um processo violento de expropriação (perda violenta das terras e dos demais meios de produção). Para Barroco (2007), todos estão incluídos no capitalismo, devido este não comportar exterioridade, dada a sua configuração – alguns detêm os meios de produção e concentram a riqueza produzida por aqueles que vendem sua força de trabalho, fato que, os que geram a riqueza não a usufruem em grau de paridade, sendo esta a parte que lhes cabe. A perspectiva do universalismo das políticas sociais é abandonada, quando se adotam apenas medidas focais, não combatendo nem olhando de frente para a questão da exploração e da expropriação, sendo esses os determinantes da exclusão (BARRETO, 2009) – fato que o estado se nega a olhar de frente, para assim garantir o enfrentamento necessário rumo à superação da expropriação que, para a autora, é um termo mais fiel, pois “designa o lugar do trabalhador no capitalismo” (BARRETO, 2009, p. 45), em vez do uso do termo exclusão, que acaba por apagar e ocultar as reais contradições existentes em nossa sociedade. Dessa forma, ao educador é extremamente importante refletir “em que condições econômicas, políticas e sociais desenvolvem a profissão e que necessidades postas pelo capital exigem dos professores esta ou aquela postura” (FACCI, 2004, p. 54), que os instrumentalize a refletir sobre as contradições existentes na realidade social e no meio institucional ao qual está inserido. Por essas razões, defendemos a tese de que uma educação que se pretenda desenvolver a criticidade necessária que possibilite ao indivíduo não somente se apropriar da cultura historicamente produzida, mas capacitá-lo a ser agente de mudanças, na busca pela superação dessa sociedade, não pode prescindir da compreensão acerca dos complexos processos atrelados a tecnologias na dinâmica da atual conjuntura capitalista. 3. O COMPUTADOR ENQUANTO INSTRUMENTO MEDIACIONAL: CONTRIBUIÇÕES DA PSICOLOGIA HISTÓRICO-CULTURAL Herdamos no século XXI as mesmas formas de se ensinar e de se aprender empreendidas no século passado baseado ainda numa mera memorização e repasse de informações, muitas das vezes descontextualizadas e, portanto, totalmente ausentes de significado para o aluno que não consegue por sua vez articular com seu cotidiano e com sua vivência, dada a distância com que os conceitos científicos, por exemplo, são abordados em sala de aula (SILVA, MARTINES, 2014).
- 51. 50Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer Modelos transmissivos e focados exclusivamente no professor como elemento central e detentor do saber, colocam a escola como uma instituição que luta e resiste bravamente a mudanças, insistido assim em não adotar modelos de aprendizagem que levem em consideração o trabalho colaborativo e cooperativo tenho o professor e as tecnologias como mediadores do no processo de ensino- aprendizagem. A psicologia histórico-cultural tem em Vigotski seu maior expoente, bem como seus colaboradores, Leontiev e Luria, psicólogos russos que revolucionaram a maneira de conceber o indivíduo superando concepções dualistas, relação corpo x mente, indivíduo x sociedade, fatores orgânicos x fatores ambientais, compreendendo o que há de humano no indivíduo como uma construção histórica e fruto de um processo iminentemente cultural, internalizados a partir de relações mediadas pelo outro (BARROCO, 2007). Na teoria histórico-cultural, proposta por Vigotski (1991) o conceito de mediação ocupa um lugar central e de fundamental importância, pois é a partir dela que a criança torna-se um indivíduo cultural adulto, internalizando o mundo a partir de mecanismos mediacionais ao qual o indivíduo vai significando ao longo da vida a partir das relações estabelecidas e mediadas pelos instrumentos produzidos culturalmente, pelos signos, e pelo outro, assim estabelecendo relações que não são diretas, mas essencialmente mediadas. O caminho do objeto até a criança e desta até o objeto passa através de outra pessoa. Essa estrutura humana complexa é o produto de um processo de desenvolvimento profundamente enraizado nas ligações entre história individual e história social” (Vygotsky, 1991: p.33). Para Rey (2012), partir das premissas de uma psicologia cultural-histórica é levar em consideração a realidade humana com todo o seu aparato simbólico. É precisamente esse caráter simbólico o que permite quebrar algumas das metáforas naturalistas tão difundidas na psicologia e que por sua vez, tem marcado o seu caráter individualista. Pensar que as formas superiores e mais complexas da subjetividade e da criação humana podem ser construídas a partir de mecanismos que compartilhem o homem, os pombos e os ratos, como o behaviorismo tentou fazer, ou que podem ser explicados pelos caminhos e desdobramentos de um desejo “encapsulado”, que parte de pulsões universais, como proposto por certa psicanálise dogmática de inspiração Freudiana [...], são todos princípios sobre os quais se tentou universalizar uma compreensão da subjetividade humana, suas práticas ou simplesmente seu comportamento (REY, 2012, p. 179). Entendemos que a teoria Histórico-Cultural que concebe o indivíduo levando em conta seus condicionantes históricos e também culturais, se constitui numa ferramenta preciosa na tentativa de se compreender, não somente como se dá a constituição do sujeito, sua subjetividade e aprendizagem, mas principalmente como
- 52. 51Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer se dá seu desenvolvimento, de forma a possibilitar ao sujeito mover-se para além da realidade imediata, para além da aparência. A partir do pensamento Vigotskiano Facci (2004) Barroco (2007) pontuam a importância da mediação e do uso de instrumentos, produzidos pelo homem, no desenvolvimento das funções psicológicas superiores, a saber: atenção voluntaria, memorização ativa, o pensamento abstrato dentre outros, explicitados por (Vigotski; Luria, 1996), que são funções que passam a existir nos indivíduos a partir de sua relação com o mundo externo, ou seja, com a cultura ao qual está inserido. Partindo da premissa em que concebemos o computador como uma ferramenta construída pela atividade e trabalho do homem cultural para a realização de tarefas, e enquanto instrumento de mediação, bem como na importância da escola e do professor nesse processo, acreditamos conforme afirma (Barroco, 2007) que “o processo educacional [...] pode elevar os homens de uma condição primitiva à cultural, quando eles se apropriam do uso de instrumentos e ferramentas externas, ate o ponto de se valerem de instrumentos ou mecanismos internos que os tomam de, certo modo, independentes da realidade concreta imediata [...] Nas ferramentas ficam embutidos tanto os processos para seu emprego quanto a potencialidade do processo criativo [...] saber empregá-las implica na apropriação de conhecimentos já conquistados, o que gera condições para novas formulações. (p. 47- 236) É frequente hoje em dia, em todos os meios, repartições, instituições em geral, ao qual a escola não fica de fora, a difusão da ideia que associa tecnologia a inovação, e que consequentemente, isso levaria a uma melhoria na qualidade do ensino, partindo da premissa que os meios tecnológicos por si só trariam benefícios aos processos de aprendizagem (MIRANDA, 2007). Belmont Filho (2005) afirma que um dos elementos fundamentais para que ocorra a inclusão digital com sucesso na escola, e a consequente melhoria na qualidade do ensino é esse processo ser mediado por uma pessoa capacitada para orientar o aluno no manejo da tecnologia e na utilização dos conteúdos encontrados na internet, de modo a transformá-lo em conhecimento, garantindo assim o aprendizado e consequentemente o desenvolvimento do aluno, que se apropriando do conhecimento mediatizado pelo professor e pela ferramenta (instrumento), se torna reequipado como afirma (VYGOTSKY; LURIA, 1996). Dessa forma, Para Vigotski A inclusão do instrumento provoca, em primeiro lugar, a atividade de toda uma serie de funções novas, relacionadas com a utilização do mencionado instrumento e de seu manejo. Em segundo lugar, suprime e torna desnecessária toda uma serie de processos naturais, cujo trabalho passa a ser efetuado pelo instrumento. (2004, p. 95) Concordamos com Bonilla (2009) que considera a escola como um local primordial no processo de apropriação da cultura digital por parte dos alunos, assim a autora afirma: “como a escola deve ser espaço-tempo de crítica dos saberes,
- 53. 52Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer valores e práticas da sociedade em que está inserida, é da sua competência, hoje, oportunizar aos jovens a vivência plena e crítica das redes digitais” (p. 04). Pautada na perspectiva da psicologia histórico-cultural, e da pedagogia histórico critica proposta por Saviani, Facci (2004) afirma que cabe à educação e à mediação do trabalho do professor, a sistematização e a transmissão dos conhecimentos produzidos e acumulados pela humanidade às novas gerações que precisam se apropriar dos conhecimentos e da cultura. A respeito do caráter mediador da escola, Saviani (2003) afirma que pela mediação da escola, acontece a passagem do saber espontâneo ao saber sistematizado, da cultura popular à cultura erudita. [...] se trata de um movimento dialético, isto é, a ação escolar permite que se acrescentem novas determinações que enriquecem as anteriores e estas, portanto, de forma alguma são excluídas. Assim, o acesso à cultura erudita possibilita a apropriação de novas formas por meio das quais se podem expressar os próprios conteúdos do saber popular (p. 21). Assim na perspectiva da psicologia histórico-cultural, estendemos esse caráter mediador à atividade docente do professor e aos instrumentos e meios empregados por ele, como o computador por exemplo. Facci (2004) baseada em Vigotski nos afirma que o processo de aprendizagem realiza-se sempre em colaboração, a partir de interações entre crianças mais experientes ou entre adultos, em um caso particular de interação, ressaltando que não é qualquer tipo de interação que conduz a aprendizagem, exigindo-se que seja organizada, com os objetivos definidos e que os alunos estejam motivados para aprender, onde os professores e os meios utilizados por ele servirão como mediadores entre os conhecimentos científicos e os alunos. Fica, portanto, reforçada a importância da mediação do outro no processo de aprendizagem. Segundo Pozo (2002) “a prática deve sempre adequar-se ao que se tem de aprender” (p.65), posto isto, a inserção de computadores em sala de aula oportuniza diversas formas de se trabalhar, oferecendo múltiplas possibilidades e caminhos que podem ser trilhados rumo à construção do conhecimento, levando em consideração que “quem aprende é o aluno; o que o professor pode fazer é facilitar mais ou menos sua aprendizagem. Como? Criando determinadas condições favoráveis para que se ponham em marcha os processos de aprendizagem adequados” (POZO, 2002, p. 69). Já não é de hoje que novas formas de ensinar e de aprender têm sido propostas e introduzidas nas escolas conforme pontuado por Martines (2010): A década de 90 foi caracterizada pelo início das mudanças estruturais na educação brasileira no âmbito da legislação, das políticas, da gestão, do currículo, de metodologias, da formação e da inserção das Tecnologias aplicadas à educação, bem como da conectividade, mobilidade e facilidades de realizar atividades digitais. Neste sentido, vários programas foram implementados pelo Ministério da Educação tais como: Salto para o Futuro, TV Escola, PROINFO, Rádio Escola, PROFORMAÇÃO, TV Escola e os Desafios de Hoje, Mídias na Educação, Pró-Licenciatura, UAB entre outros,
- 54. 53Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer que se pautam numa nova forma de ensinar e aprender. (MARTINES, 2010, p. 7). A Internet hoje em dia vem “impondo” novas formas de interação, de relacionamentos, e aliada à educação configura-se uma importante ferramenta de interação e aprendizado, podendo o indivíduo a qualquer momento e qualquer lugar dispor de um número infinito de informações, o que impõe a escola rever seu papel e a forma como sistematiza seus saberes. Pozo (2002) critica algumas das atuais formas de ensino mantidas “promotoras de atividades individuais, solitárias, assentadas em práticas autoritárias e sem solidariedade na apropriação do saber proporcionadas pelas escolas” (p. 257). O autor defende ainda “uma organização cooperativa das atividades de aprendizagem” na qual os objetivos que os participantes perseguem estão estreitamente vinculados entre si, de tal maneira que cada um deles pode alcançar seus objetivos se, e apenas se os outros alcançam os seus (p. 257). A cooperação deve reunir determinadas condições onde pode se resumir em três pontos citados por Pozo (2002) que os mestres podem levar em conta ao organizar socialmente suas atividades de aprendizagem: a) A aprendizagem cooperativa será mais eficaz quando for proposta como uma tarefa comum do que como várias tarefas subdivididas entre os membros da equipe (você busca a informação, você lê, você escreve... b) Essa tarefa comum não deve fazer com que os aprendizes evitem ou dissolvam suas responsabilidades individuais na aprendizagem, pelo contrário deve se avaliar não só o rendimento grupal como a contribuição individual de cada aprendiz [...] é preciso evitar que os aprendizes se camuflem na estrutura do grupo c) As oportunidades para o êxito e para a obtenção de recompensas devem ser iguais para todos os aprendizes, independente de seus conhecimentos prévios ou pericia inicial. Trata-se de fugir da cultura competitiva da aprendizagem, em que os aprendizes são comparados entre si, e, incentivar contextos em que o rendimento de cada aprendiz seja comparado com seu rendimento anterior e não com o de outros aprendizes mais ou menos capazes ou especializados. (2002. p. 260) Assim defendemos uma aprendizagem que leve em consideração os aspectos relacionais, do aprender se apoiando na partilha e intercâmbio de saberes, experiências e valores e sobretudo concebendo a aprendizagem como um processo de crescimento e edificação ao longo de um percurso (CATELA, 2011), mediado pela tecnologia e pelo o outro. Possibilitando assim formas menos competitivas de trabalho em sala de aula em que muitas vezes se valoriza o individual e a competitividade. A apropriação dos conceitos científicos tem papel importantíssimo na teoria histórico cultural, de acordo com Vigotski (2009, p. 387) “o que funciona determina até certo ponto como funciona”. A partir dessa premissa a teoria histórico-cultural afirma que a partir dos conceitos científicos trabalhados pela escola e, portanto, internalizados pelos sujeitos, modificam tanto a forma como a estrutura do
- 55. 54Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer pensamento proporcionando o desenvolvimento das funções psicológicas superiores tipicamente humanas, o que não se dá nas experiências cotidianas nem somente em buscas e sistematizações de informação disponível na Internet, mas a partir da atuação do professor na zona de desenvolvimento proximal para, a partir do trabalho, mediação e intervenção do professor, o aluno possa amanhã fazer sozinho, o que hoje faz com a ajuda do professor mais experiente. De forma crítica e ressaltando o caráter social e, portanto, político do conhecimento Demo afirma que [...] aos educadores compete cuidar que o conhecimento, além de não servir apenas ao mercado, se curve aos objetivos da educação, tendo em vista a necessidade de combater, mais do que a carência material, a pobreza política ou a ignorância historicamente produzida e mantida. Política social do conhecimento, se bem conduzida, pretende colocar o pobre como artífice central de seu destino, com base na aprendizagem reconstrutiva política. (2000, p. 5) Infelizmente os programas escolares continuam funcionando, em grande medida, como se a sociedade informatizada e a avalanche de informações que a acompanha, não existisse, os alunos têm poucas oportunidades de organizar e dar sentido a esses saberes informais, relacionando-os com o conhecimento escolar, que ainda por cima costuma ser bastante menos atrativo Pozo (2002) acerca da aprendizagem nos diz o seguinte: [...] aprender é antes de mais nada mudar o que já se sabe. Todo aprendiz tem uma bagagem de conhecimentos prévios, em boa parte implícitos [...] com o qual é preciso estabelecer conexão para que o adquirido tenha sentido. Sobretudo fomentar a transferência e conexão mútua entre os contextos e conhecimentos cotidianos e os saberes formais que o professor ensina. (p. 269). Torna-se necessário e urgente questionarmos quais nossas concepções de aprendizagem enquanto educadores, pois ela influenciará diretamente nas diversas práticas adotadas e consequentemente nas relações que se estabelecerão na sala de aula. A inserção das novas TICs na educação e, mais especificamente, do computador em sala de aula, enquanto instrumento de mediação pode se tornar uma poderosa ferramenta dinamizadora e amplificadora de meios e técnicas empreendidas nos ambientes formativas com vistas à internalização/apropriação do conhecimento, abrindo novas possibilidades e novas formas de se ensinar e aprender conjuntamente, reconhecendo para isso a indissociabilidade do processo de ensino/aprendizagem mediados por um professor conscientes acerca do papel da tecnologia em nossa sociedade e de seu modo de produção, onde, a partir de uma apropriação crítica, possa influir significativamente na qualidade e no sucesso da escola. Pesquisas na internet, construção de blogs para sistematizar e socializar o aprendido e construído coletivamente, produção e edição de vídeos, uso de
- 56. 55Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer softwares educativos possibilitando simulação e consolidação de conceitos e temas trabalhados em sala de aula, são algumas das possibilidades que o computador pode proporcionar, dinamizando assim o espaço educativo e proporcionando maior interação entre aprendizes. 4. CONSIDERAÇOES FINAIS Entendemos, porém que não é suficientemente apenas e tão somente distribuir máquinas sofisticadas e conectadas a internet para se impulsionar e dinamizar o processo de desenvolvimento do sujeito a partir da apropriação da cultura produzida historicamente é necessário, contudo instrumentalizar o professor, qualificá-lo, dando formação de qualidade e condições dignas de trabalho a esse mediador que paulatinamente tem sofrido um processo tanto de esvaziamento de sua atividade quanto de intensificação do seu trabalho, devido à “imposição” de inúmeras políticas que atravessam a escola, sem a devida escuta, negociação, e oferecimento de condições mínimas de implementação de forma satisfatória a garantir o sucesso da/na escola. A educação, embora sozinha não possa resolver todos os problemas do mundo, tampouco dar conta de amenizar a pobreza, historicamente produzida e mantida, a partir das relações de dominação e exploração de uma classe sobre outra, pode e tem a imperiosa missão de se configurar como um lócus de formação política, formando indivíduos contestadores da ordem instituída, empreendendo forças para a construção de uma lógica mais humana e menos perversa de geração e acumulação de renda. Não uso propositalmente aqui o termo “formar cidadãos” – palavra que esta, ultimamente tem sido reduzida a ter direitos enquanto consumidores, e que ultimamente não tem instrumentalizado a luta por uma sociedade mais justa. É por uma educação que valorize o indivíduo que reconheça os vários “Joãos e Marias” que existem, enquanto indivíduos capazes, com limitações e singularidades, que contribua e cresça estimulando a partilha e a troca, conscientes de sua inconclusão, mas na permanente busca do que Paulo Freire (1987) chama do “vir a ser mais”. REFERÊNCIAS BARROCO, Sonia Mari Shima. A Educação Especial do Novo Homem Soviético e a Psicologia de L. S. Vigotski: implicações e contribuições para a Psicologia e a Educação atuais. 2007. 414 p. Tese (Doutorado) - Programa de Pós-Graduação em Educação Escolar, Universidade Estadual Paulista, Araraquara, 2007.
- 57. 56Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer BELMONT FILHO, Djalma Targino. Inclusão Digital: ações do governo do Distrito Federal. 2005. 128 f. Dissertação (Mestrado em Ciências da Informação) – Departamento de Ciência e Informação, Universidade de Brasília, Brasília, 2005. BONILLA, Maria Helena Silveira. Inclusão digital nas escolas. Faculdade de Educação, Universidade Feral da Bahia, Bahia, 2009. Disponível em: http://www.moodle.ufba.br/file.php/10061/GEAC_ID/artigo_bonilla_mesa_inclusa o_digital.pdf . BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Decreto nº 6.300, de 12 de dezembro de 2007. Dispõe sobre o Programa Nacional de Tecnologia Educacional – ProInfo. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6300.htm CÂMARA DOS DEPUTADOS. Centro de Documentação e Informação. Um computador por aluno: a experiência brasileira. Brasília: Câmara dos Deputados, Coordenação de Publicações, 2008. Disponível em: http://www2.camara.leg.br/a- camara/altosestudos/pdf/pdf-uca.pdf CATELA, Hermengarda. Comunidades de Aprendizagem: em torno de um conceito. Revista de Educação. Vol. XVIII, nº 2, 2011, p. 31 – 45. Disponível em: http://revista.educ.fc.ul.pt/arquivo/vol_XVIII_2/artigo2.pdf . CAZELOTO, E. A inclusão digital e a reprodução do capitalismo contemporâneo. 2007. 173f. Tese (doutorado). Programa de Estudos Pós-Graduados em Comunicação e Semiótica. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. DOWBOR, Ladislau. Tecnologias do Conhecimento. Vozes: Petrópoles, 2008. DUARTE, N. A Pesquisa e a formação de intelectuais críticos na Pós-graduação em Educação. PERSPECTIVA, Florianópolis, v. 24, n. 1, p. 89-110, jan/jun. 2006. Disponível em: http://www.perspectiva.ufsc.br FACCI, Marilda Gonçalves Dias. Valorização ou esvaziamento do trabalho do professor? Um estudo comparativo da teoria do professor reflexivo, do construtivismo e da psicologia Vigotskiana. Campinas: Autores Associados, 2004. FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro: Paz e terra, 1987. KUENZER, A. Exclusão Includente e Inclusão Excludente: a nova forma de dualidade estrutural que objetiva as novas relações entre educação e trabalho. In: LOMBARDI, J. C. SAVIANI, D. e SANFELICE, J. L. (orgs.). Capitalismo, Trabalho e Educação. Campinas, São Paulo: Autores Associados, HISTEDBR, 2002.
- 58. 57Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer MARTINES. Elisabeth A. L. de Moraes. Projeto de Investigação-Formação do Programa Nacional Um computador por Aluno/Rondônia. UNIR – EDUCIÊNCIA – Laboratório de Ensino de Ciências: Porto Velho, 2010. MORAES, M. C. Informática Educativa no Brasil: um pouco de história. Em Aberto, Brasília, ano 12, n.57, jan./mar. 1993. Disponível em: __________. Informática Educativa no Brasil: uma história vivida, algumas lições aprendidas. Revista Brasileira de Informática na Educação – Número 1 – 1997. Disponível em: MOREIRA, A. F. B.; KRAMER, S. Contemporaneidade, educação e tecnologia. Educação & Sociedade, Campinas, v. 28, n. 100, Out. 2007, p. 1037-1057. Disponível em: http://www.cedes.unicamp.br POZO, Juan Ignácio. Aprendizes e Mestres: a nova cultura da aprendizagem. Porto Alegre: Artmed, 2002. POSTMAN, N. Tecnopólio: a rendição da cultura à tecnologia. São Paulo: Nobel, 1994. REY, F. L. G. O social como produção subjetiva: superando a dicotomia indivíduo – sociedade numa perspectiva cultural– histórica. Ecos – Estudos Contemporâneos da Subjetividade, v. 2, n. 2, p. 167-185, 2012. Disponível em: http://www.uff.br/periodicoshumanas/index.php/ecos/article/download/1023/71 4 SAVIANI, D. Pedagogia Histórico-Crítica: primeiras aproximações. 8.ed. Campinas, SP: Autores Associados, 2003. SILVA, J. F. MARTINES, E. A. L. M. Um olhar da Psicologia sobre o PROUCA no contexto de intensificação das TDIC nas políticas educacionais. 2014. 138 f. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós Graduação em Psicologia, Fundação Universidade Federal de Rondônia, Porto Velho, RO, 2014. Disponível em: http://ri.unir.br:8080/xmlui/handle/123456789/1316 VIGOTSKI, L. S. (1991) A formação social da mente: o desenvolvimento dos processos psicológicos superiores. São Paulo: Martins Fontes. VYGOTSKY, L. S. e LURIA, A. R. Estudos sobre a história do comportamento: símios, homem primitivo e criança. Trad. Lolio Lourenço de Oliveira. Porto Alegre: Artes Médicas, 1996.
- 59. 58Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer VYGOTSKY, L. S. O método instrumental em psicologia. In: VYGOTSKY, L. S. Teoria e método em psicologia. 3ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2004. ZUIN, A. A. S. O Plano Nacional de Educação e as tecnologias da informação e educação. Educação & Sociedade, Campinas, v. 31, n. 112, p. 961-980, jul.-set. 2010 961. Disponível em http://www.cedes.unicamp.br ABSTRACT: This work proposes from the assumptions of Historical-Cultural Psychology, anchored in Historical and Dialectical Materialism, to understand the context of intensification of Public Educational Policies that has aimed to intensify the use of computers in public schools. Within this proposal we place our object of study taking into account the context and contradictions existing in our society, arising from our model of capitalist production. We conclude that the massive use of technology in education has been increasingly required in the context of productive restructuring, in which the school has been called to account for demands generated by the exclusion of capital itself. We propose more critical ways of seeing these technological apparatuses in order to be mediation instruments capable of contributing to the improvement of the public school, starting from the critical formation of the subjects committed to a new social project more fair and less exclusive. Among limits and possibilities we understand the use of the computer in education as an instrument of mediation in the teaching-learning process, and the important role played by the teacher in this process, aiming the development in the school environment of learning communities. KEYWORDS: Technologies in Education. Historical-Cultural Psychology. Learning communities.
- 60. 59Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer CAPÍTULO V AVALIAÇÃO POR RESULTADO EM PERNAMBUCO: QUAL O IMPACTO NA PRÁTICA DE DOCENTES DE ESCOLAS INTEGRAIS? ________________________ Vilma Cleucia de Macedo Jurema Freire
- 61. 60Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer AVALIAÇÃO POR RESULTADO EM PERNAMBUCO: QUAL O IMPACTO NA PRÁTICA DE DOCENTES DE ESCOLAS INTEGRAIS? Vilma Cleucia de Macedo Jurema Freire Faculdade de Ciências Sociais e Humanas (FCSH)/Universidade Nova de Lisboa (UNL)/Lisboa – Portugal RESUMO: O presente artigo é um recorte de uma tese de doutoramento em andamento que versa sobre os “Efeitos da Política de Avaliação por Resultados na Prática Docente: Estudo de Caso no Estado de Pernambuco”. Iremos discorrer sobre a política de avaliação por resultado, avaliação em larga escala no Brasil e a avaliação por resultado em Pernambuco. Tal investigação é de natureza qualitativa, terá como instrumentos a observação, a entrevista semiestruturada com os atores escolares: docentes e gestão escolar. Será um estudo de caso em uma escola pública de tempo integral que vem apresentando resultados positivos nos índices propostos pela rede. Os resultados são preliminares, porque a recolha de dados empíricos ainda não foi efetivada. Logo, os dados aqui presentes são fruto de revisão bibliográfica e observações como docente no lócus de investigação. O paradigma da escola eficaz vem norteando a política educacional, para a tornar um paradigma hegemônico foram primordiais a redefinição do papel do Estado e revalorização da ideologia do mercado, sendo responsável pela elucidação do papel da avaliação educacional (AFONSO, 1999), pois, passa a ser “espelho” para os Estados demonstrarem a qualidade da educação e sua eficiência. Questionamos a ênfase e a pressão para que a escola e docentes atinjam os índices, voltando sua prática ao treino para responder testes, enquanto a formação humana, voltada aos valores fica em segundo plano, contudo, é de grande importância conhecer qual o impacto que a política de avaliação por resultado traz a prática destes docentes. PALAVRAS-CHAVE: educação, mensuração, política educacional, resultados. 1. INTRODUÇÃO Nos últimos anos a mensuração dos resultados escolares ganharam destaque no cenário educacional nacional e internacional, ao serem utilizados como parâmetro para demonstrar a qualidade da educação de escolas e sistemas de ensino. Na rede pública estadual de ensino a mensuração dos resultados escolares passou a nortear a política educacional em 2007 através do resultado as avaliações que estudantes fazem no fim de seu percurso escolar de testes padronizados. No Sistema de Avaliação Educacional de Pernambuco (SAEPE) do Ensino Médio, realizadas por estudantes das séries finais do Ensino Médio. É imperativo afirmar que as mudanças na forma de gerir a educação trazem alterações para o trabalho dos atores nela estão envoltos. Logo, com essa modificação na política educacional uma série de exigências e novos anseios são solicitados aos docentes para que o resultado seja alcançado. Sendo assim, neste artigo iremos procurar a compreensão
- 62. 61Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer de como surge a escola eficaz em uma perspectiva global, bem como a política de reestruturação da educação brasileira e a política de avaliação por resultado em Pernambuco. O presente artigo é um recorte de uma pesquisa ao nível de doutoramento em andamento que versa sobre a política de avaliação por resultado na prática docente, para tal ação será realizado um estudo de caso no estado de Pernambuco. Como resultados preliminares pudemos perceber que a cultura da mensuração dos resultados escolares altera a dinâmica da prática pedagógica docentes, pode prejudicar a formação humana em detrimento da obtenção de competências para resolução de testes, ou, o docente pode buscar caminhos alternativos para que a construção do conhecimento aconteça. 2. METODOLOGIA Para chegar a compreensão da problemática, do objeto de estudo é necessário traçar o caminho investigativo e fazer opções, para o desenvolvimento deste estudo, implica-nos a fazer as opções metodológicas e defini-las, objetivando a compreensão global dos fenômenos em causa, através do trato detalhado dos dados e das relações existentes e a possibilidade de concretização com êxito da investigação. As opções metodológicas para o desenvolvimento desta investigação foi a qualitativa. Os instrumentos a serem utilizados serão a observação e a entrevista semiestrutura, analisadas a luz da análise de conteúdo de Bardin (2011). É um estudo de estudo de caso (YIN, 2001), pois, iremos concentrar a nossa pesquisa em 1(uma) ‘Escola de Referência em Ensino Médio de Pernambuco’, pois, estas escolas vem se destacando positivamente no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica de Pernambuco (IDEPE). 3. DISCUSSÃO 3.1 ESTADO, POLÍTICA EDUCACIONAL E RESULTADOS: ALGUNS APONTAMENTOS O pluralismo dos termos utilizados para conceituar a educação no Brasil, com o propósito de mensurar a qualidade de educação passou a ter como parâmetro os resultados, com o crescimento da mensuração, norteadora da política educacional nos últimos anos. Na escola temos um recorte da sociedade, uma vez que é uma das instituições sociais responsáveis pela socialização da cultura existente, que tem a função de formar os cidadãos que irão gerir e compor a sociedade que vivemos, logo, é primordial para o desenvolvimento humano e social. A mudança na política educacional é realizada através da reforma e estruturação do Estado, que, vem ocorrendo em muitos países através de medidas
- 63. 62Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer políticas e legislativas afetando a educação pública em geral, trazendo a título de exemplo: a descentralização, a autonomia de escolas, a livre escolha da escola pelos pais, o reforço aos procedimentos de avaliação e de prestação de constas, a diversificação da oferta de cada “público” em sua escola, a contratualização da gestão escolar e da prestação de contas (BARROSO, 2005, p. 726). Logo, a avaliação ganha espaço no contexto das políticas educativas contemporâneas (AFONSO, 1999) ao emergir o paradigma da aprendizagem permanente e flexível, guiada por habilidades e competências esperadas para o desenvolvimento econômico e social integral, com o objetivo de aproximar os sistemas de ensino, as necessidades do processo produtivo e da competividade globalizada (POCHMANN, 2005). Para Biesta (2012) a cultura da mensuração traz um impacto sobre a prática educacional em diversos escalões das políticas educativas, nacional, internacional, práticas locais das escolas e de seus professores. No entanto, traz de positivo para as discussões sobre educação dados factuais, não apenas opiniões e suposições. Porém, o que precisamos questionar é será que é viável e seguro que esta gama de informação referente aos resultados passe a nortear as decisões da política educativa influenciando a mudança de modelos e práticas educativas, uma vez que “(...) as comparações internacionais, aos rankings, as políticas de responsabilização, a educação baseada em evidências e aos modelos de escola eficaz” (BIESTA, 2012, P. 812). Uma vez que as escolas integrais deixaram de ser uma política educacional no estado de Pernambuco, ganhando amplitude nacional nos últimos anos e estudos sobre tal política ainda são escassos. O paradigma da escola eficaz tornou-se preponderantes nos sistemas educacionais, a exemplo, nos Estados Unidos, em 1960, o país estava no contexto histórico da Guerra Fria, crescia então os debates sobre a democracia nos países do ocidente especialmente devido a moderna legislação sobre a equidade dos direitos civis para negros e brancos. Neste contexto, nos Estados Unidos e na Inglaterra foram realizados os estudos sobre a “Eficácia Escolar” iniciais, justificada pela preocupação com a qualidade da educação e com as oportunidades educacionais oferecidas pela educação em seus países (BROOKE & SOARES, 2008). O que motivou esta instabilidade foi o fato de um satélite da União Soviética ter chegado primeiro ao espaço chocou sua confiança nas escolas públicas no ano de 1957, trouxe assim a questão educacional para debate político (GOLDBERG & RENTON, 1995). O referencial da escola compreensiva, defendido pela Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) que tinha como justificativa a equidade de crianças de 6 a 15 criada após a Segunda Guerra Mundial fora abalada com o lançamento do relatório “A Nation at Risk”. Este relatório colocava na berlinda as políticas sociais, considerando-as impotentes, por colocar o país em risco ao deixar de investir na formação das elites, e em relação a supremacia econômica, justificando assim a racionalização e diminuição de despesas públicas (NORMAND, 2003), como consequência, a posição na competição econômica global (DEROEUT, 2010).
- 64. 63Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer Entre os estudos iniciais estes merecem destaque: o Relatório Coleman, nos Estados Unidos e o Relatório Plowden, na Inglaterra. O primeiro, procurou identificar e compreender o porquê da ausência de equidade educacional para os cidadãos em razão da raça, religião, cor, ou naturalidade em estabelecimentos de educação pública, nos variados níveis através do conhecimento segundo os termos da sua Lei de Direitos Civis de 1964. O Plowden, igualmente fora desenvolvido por demanda do Poder Público, porém, destinou-se a descrever o estado da arte da investigação acerca da qualidade da escola primária. Os resultados surpreenderam: no Coleman, o nível social e econômico dos estudantes fora o fator mais associado a seu desempenho escolar. (BROOKE & SOARES, 2008). O do Plowden: que os fatores relacionados especialmente a escola não aparecem como essenciais ao desempenho escolar, ao menos na pesquisa. Em resumo, o desempenho escolar dos estudantes estava associado a nível socioeconômico, mesmo que contestados posteriormente, pois “[...] as conclusões derivadas do trabalho de Coleman não eram aceitáveis como ponto final para a discussão sobre a contribuição da escola” (BROOKE & SOARES, 2008, p. 106). Uma vez que havia a necessidade de compreender o sentido da eficácia escolar utilizando outros parâmetros além dos testes padronizados, como exemplo, aspectos do comportamento e socioafetivos, além de inserir um teste diagnóstico ao aluno entrar na vida acadêmica para perceber a contribuição da escola em seu desempenho. Sendo assim a equidade seria a capacidade da escola em diminuir as diferenças socioeconômicas dos estudantes, através da distribuição de resultados escolares. Outra maneira de considerar uma escola eficaz é que o estudante ao sair da escola tenha em cada etapa de ensino o conhecimento considerado acima da média sem levar em conta as questões socioeconômica (Brooke & Soares, 2008). Em 2002 os resultados de testes padronizados foram utilizados para legitimar as políticas de accountability com a ratificação da lei “No Child Left Behind (NCLB)” em que: “[...] fundos atribuídos à educação compensatória nos anos 1960 fossem redistribuídos segundo uma política de accountability e de padrões de ensino, fixando objetivos precisos para os professores em matéria de sucesso escolar (NORMAND, 2008, p. 53)”, apesar de críticas. Este plano fora planejado pela Nova Direita e utiliza-se da mídia para convencer a opinião pública e “convidar” o sistema educativo a aproximar-se das empresas e ser mais competitivo, pois, “(...) produção das provas científicas que vieram reforçar essas teses” (Idem). Como resultado, a escola eficaz ganha força e sua legitimidade passa pelos centros de estatísticas elaboram quadros e gráficos, com uma metodologia própria para interpretação de informações cifradas ou através da exposição de um modelo matemático e seus postulados. Outros estudos contrapõem o uso de testes ou avaliações ao afirmar que a avaliação não induz a excelência, consoante (ORFIELD & KORNHABER, 2001), tendo como consequência a naturalização das desigualdades. Logo, este tipo de avaliação faz parte do paradigma educacional neoliberais a exemplo do voucher, ticket- educação ou vale-educação (FRIEDMAN & ROSE, 1985; CHUBB & MOE, 1990). Sendo assim, compreendem que quando professores e estudantes debatem e há a
- 65. 64Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer compreensão das normas, os objetivos da mesma são perseguidos, tem-se assim a avaliação formativa como ferramenta fundamental (SADLER, 1987). Entre os estudos que procuram demostrar os efeitos negativos do uso da mensuração dos resultados escolares, há o de David Berliner e Bruce Biddle (1996), em que procuram demonstrar que os “padrões” não estão caindo e que a nação não está em “risco”, mas foram criados com o objetivo de mudar o paradigma de financiamento da educação pública e as suas práticas correntes. Há quadro dimensões que perpassam a política de avaliação por resultado para Maroy e Voisin (2013): A primeira, é a concepção de escola como “sistema de produção” (MAROY & MANGEZ, 2011) e não como instituição. A segunda, os objetivos educacionais vistos como conhecimentos especiais, por meio de dados quantitativos, data, indicadores, sendo assim padrões, modelos ou referenciais que se confrontam com os resultados efetivos, para ser possível a comparação e se as expectativas expressas foram alcançadas pelos agentes educacionais. A terceira é que os instrumentos de avaliação tornam-se centrais por mensurar o desempenho de estudantes, assim os exames têm grande valor. O quarto são as ferramentas de ação pública, a exemplo como contratos, financeiras e regulamentos para organização das “consequências” das avaliações de desempenho e de prestação de contas. Um exemplo diferente ocorre na Finlândia, em que qualidade da educação está ligada ao avanço em relação a justiça social, logo “(...) ayudar a los alumnos con necesidades especiales, sumado a una estrecha interacción entre la educación y otros sectores — particularmente los sectores sociales y de salud— en la sociedad finlandesa” (SAHLBERG, 2015, p.137). Todavia a melhoria da aprendizagem está apoiada nos princípio se “(…) a equity, flexibility, creativity, teacher professionalism and trust.” (SAHLBERG, 2007, p.147). Já Biesta (2012) destaca a necessidade da educação voltar-se para sua finalidade, ao invés de valorizar o que é medido, apenas o resultado, enfatiza a importância do compromisso com a questão dos valores, não apenas com a educação eficaz. Chama a atenção para o “input” educacional, caso deseje conhecer as evidências da prática educacional, e não apenas em tabelas de classificação (BIESTA, 2007). Para a conquista da equidade na aprendizagem, o exemplo da educação da Finlândia é a ajuda especializada de acordo com as necessidades de cada um, ou seja, a diferença é considerada para elaborar os planos de estudos, tendo como resultado a equidade (SAHLBERG, 2015, p. 138). Pois a conquista do desenvolvimento econômico, social e a melhoria da qualidade de vida da Finlândia passou sem dúvida pelo investimento em educação. No entanto, precisamos enfatizar que a melhoria do rendimento dos estudantes finlandeses não deu-se apenas por fatores educacionais, mas pela estrutura ofertada pelo Estado de bem- estar social as crianças e suas famílias (SAHLBERG, 2015, p. 140). Há em muitos sistemas a visão oposta, vista através de uma lógica empresarial (BROADFOOT, 1996).
- 66. 65Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer No Brasil, são escassos os estudos que demostrem os efeitos das políticas de avaliação por resultado, por isso precisamos inicialmente compreender como se deu a implementação dos mecanismos de regulação do Estado e o surgimento. 3.2 A REESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA: REGULAÇÃO E POLÍTICAS DE RESPONSABILIZAÇÃO NO BRASIL A reestruturação da educação brasileira coincide com a implantação das reformas neoliberais da década de 1990 em que altera áreas primordiais como social, econômica e educacional, lideradas por organismos internacionais, a exemplo da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE e/ou Banco Mundial - BM configurando a intervenção do Estado nestas áreas. As intervenções do Estado tem respaldos nas grandes conferências internacionais como a Conferência Mundial de Educação para Todos, Jomtien, na Tailândia de 5 a 9 de março de 1990, tendo como convidados a Organização das Nações Unidas - ONU, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - Unesco, Fundo das Nações Unidas para a Infância - Unicef, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD e BM. Foram definidos os parâmetros para construir os Planos Decenais de Educação. Já a conferência da Índia, ocorreu em16 de dezembro de 1993, em que foi assinada a “Declaração de Nova Delhi”, em que é reafirmado os compromissos assumidos na outra já citada, no entanto, fora estabelecido as diretrizes e estratégias a serem acrescentadas no Plano Decenal Brasileiro de Educação, a exemplo. Além do respaldo nas conferências internacionais, a reestruturação da educação do país ocorre simultaneamente com a nova política regulatória do Estado. Iniciada com a Constituição Federal Brasileira de 1988 e com a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases - LDB (Lei 9.394/96). Neste processo a revitalização do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos (INEP) e a criação do Fundo Nacional para a Educação Fundamental (FUNDEF) tiveram papel muito importante, o primeiro por criar os sistemas de avaliação e estatísticas e o segundo pela descentralização financeira. Em 2007 o FUNDEF foi substituído pelo FUNDEB, com características semelhantes, mas com maior abrangência, não apenas para o Ensino Fundamental, mas para todas as etapas da Educação Básica. Vale destacar que o INEP criou os sistemas de avaliação: “[...] o SAEB, sistema de avaliação para a educação básica; o ENEM, exame nacional do Ensino Médio; e os exames nacionais para os programas de graduação, conhecidos como Provão.” (Lucena, 2017, p.7). Logo, as avaliações em larga escala tornaram-se uma realidade no Brasil. Ganharam força por volta da década de 1990 quando foram criados os sistemas de avaliação de países da América Latina, a exemplo o SAEB (Sistema Nacional de Avaliação Educação Básica) em 1988. A centralidade destes testes se deu em parte por influência de organismos internacionais como o Banco Mundial, através de concepção, dos agentes, as técnicas de avaliações internacionais e as pesquisa (BONAMINO, 2002). Somados aos sistemas nacionais, foram criados
- 67. 66Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer também nos estados da federação como: em 1991, o Sistema de Avaliação da Educação Pública (SIMAVE) em Minas Gerais; 1992, o Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica (SPAECE) no Ceará; 2000, o Sistema de Avaliação Educacional de Pernambuco (SAEPE), em Pernambuco, entre outros em estados e municípios. Logo, 14 dos 27 estados da federação em 2007 já haviam criados seus sistemas de avaliação (BONAMINO & SOUSA, 2012, p. 377). No entanto, desde a década de 1960, foram introduzidos os testes de larga escala no Brasil. Contudo, o ano de 1980, foi determinante para esta introdução, contatou-se que havia no país um índice levado de reprovação e evasão escolar. Diante disto, foi organizada uma avaliação larga escala para estudantes do ensino fundamental e médio, que, em 1991 foi chamado de Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB). Esta avaliação era feita a cada dois anos por amostragem em escolas de Ensino Fundamental e Médio, por escolas públicas e particulares, quer urbanas ou rurais no fim de cada nível de ensino para perceber quais competências foram construídas satisfatoriamente. Além da avaliação, os estudantes respondiam questionário sobre a escola e seus agentes, realizou-se 10 ciclos desta avaliação até 2009. Tornou-se instrumento para diagnosticar e monitorar a qualidade da avaliação consoante (BONAMINO & SOUSA, 2012, p. 376). Outro instrumento foi a Prova Brasil, criada em 2005 quando o país buscava mais informações sobre o desempenho dos estudantes, no início aplicou se de maneira censitária, para aferir o conhecimento nas áreas de Língua Portuguesa e Matemática. Mas torna-se um parâmetro para a criação dos sistemas de avaliação de estados e municípios. Dois anos depois o INEP cria o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), constituindo-se como indicador de qualidade da educação básica nacionalmente. Para o cálculo do IDEB são coletados dados do Censo Escolar, de período anual, e de avaliações nacionais (SAEB e PROVA BRASIL), com aplicação a cada dois anos. Para que o IDEB das escolas cresça é necessário melhorar a taxa de aprovação e o desempenho dos estudantes, ou seja, a (proficiência em Matemática e Língua Portuguesa) no teste. Logo, o IDEB torna-se “(...) um marco regulatório nas Políticas de Responsabilização no Brasil porque o governo federal, ao estabelecer metas para os sistemas de ensino estaduais e municipais e suas escolas, estava iniciando uma nova fase na reforma da educação brasileira”. (LUCENA, 2017, p. 8). A nova fase da reestruturação da educação, ocorrida a partir de 2007, com o lançamento do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) pelo Ministério da Educação. O PDE foi um conjunto de ações por meio do Plano de Metas “Compromisso Todos pela Educação” com 28 diretrizes, que estabeleceu incentivos financeiros para os Estados e municípios que os aderisse através do Plano de Ações Articuladas (PAR) (LUCENA, 2017, p.9). O ano de partida do IDEB fora 2005 e o final 2021, divulgando-se seus resultados em 2022, ano de comemoração do bicentenário da independência do país. O objetivo é que os estados e municípios tenham um padrão de qualidade na educacional parecido com a maioria dos 34 países desenvolvidos da Organização para Cooperação e Desenvolvimento (OCDE), para tal precisam ter um IDEB igual a 6,0 (seis). Vale destacar que a ideia central que caracteriza o “(...) sistema de
- 68. 67Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer responsabilização (accountability) é que, à medida que a qualidade da educação de cada escola e sistema de ensino passa a ser mensurada pelo IDEB, as escolas passam a ser cobradas em função de seu desempenho, o que contribui para melhorar os seus resultados”. (LUCENA, 2017, P.9). Diante do exposto, é necessário voltarmos nosso olhar para a avaliação em larga escala, já que esta possibilitou os instrumentos de accountability na prática servindo de parâmetro para criação dos sistemas de avaliação de estados e municípios sendo o lado mais visível desta política. 3.3 A CULTURA DA MENSURAÇÃO DOS RESULTADOS NA REDE PÚBLICA DE ENSINO DE PERNAMBUCO A cultura da mensuração por resultado no sistema público de educação de Pernambuco se deu ao mesmo tempo que os outros estados da federação com a criação do Sistema de Avaliação Educacional de Pernambuco (SAEPE). Durante a administração de Eduardo Campos em que trouxe o sistema de accountability ou responsabilização educacional como norteadores da política educacional. Com efeito, neste sistema a rede passou a ter larga divulgação dos resultados, criou vários indicadores de processo, como o monitoramento de notas por bimestre, dos conteúdos de Língua Portuguesa e Matemática vivenciados, a frequência dos estudantes, dos professores e dos pais em reuniões, entre outros através do sistema informatizado, o Sistema de Informação da Educação de Pernambuco (SIEPE) para acompanhar este processo. O SAEPE fora aplicado inicialmente em 2000, em 2002 e novamente em 2005, no entanto, em 2007 o resultado foi divulgado. Mas a partir de 2008 passou a ser aplicado anualmente a compor o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica de Pernambuco (IDEPE). Além dos testes, há questionários para professores e gestão e os estudantes respondem a um questionário socioeconômicos e cultural. A criação de metas, o cumprimento das mesmas, associado ao pagamento do Bônus de Desempenho Educacional (BDE) são marcas da política educacional em Pernambuco, instituído e regulamentado pela Lei 13.486 de 01 de julho de 2008, 13.696 de 18 de dezembro de 2008 e o decreto nº 32.300, de 08 de setembro de 2008. Para a base de cálculo do IDEPE são utilizadas as notas avaliações do SAEPE de Língua Portuguesa e Matemática e atrelado ao resultado do fluxo escolar: aprovação e evasão. Os estudantes são avaliados no fim do percurso escolar através do SAEPE realizado por estudantes do 2º, 5º e 9º do Ensino Fundamental e do 3.º do Ensino Médio (3.º ano ou 3.ª série do Ensino Médio) e 4º Ano do Curso Normal Médio de escolas públicas da rede estadual e municipal, no entanto, só os da rede estadual recebem o BDE. Vale destacar que para elevar o IDEPE, as escolas precisam melhorar as proficiências dos estudantes e a média de aprovação. Vale destacar que há uma avaliação diagnóstica realizada por estudantes da rede ao entrar na fase ou modalidade de ensino, mas este precisa ser eficiente. A meta a ser cumprida por
- 69. 68Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer cada escola é pactuada entre a Secretaria de Educação do Estado e a escola. Para tal é calculada o observando a nota atual. Dependendo do percentual de alcance da meta há o pagamento do BDE que pode variar de 50 a 100%, outro critério é a lotação do docente na escola, o mínimo é de 6 meses. (BONAMINO & SOUSA, 2012, p. 383). Sendo um bônus coletivo, recebem, os docentes e os que fazem parte da escola, como a gestão e as Gerências Regionais de Educação (GRE), em Pernambuco são 17. Para as escolas que não conseguem alcançar a meta há um acompanhamento diferenciado pela Secretaria de Educação do Estado, com ações técnicas, pedagógicas e estruturais. A organização do SAEPE é realizada pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), através do Centro de Políticas Públicas e Avaliação (CAED), desde a organização, correção e organização dos dados estatísticos, estão disponíveis para consulta no site http://www.saepe.caedufjf.net. 4. CONCLUSÕES Nos últimos anos a mensuração dos resultados vem norteando a política educacional. Traz para a escola o modelo empresarial, a escola eficaz, a que dá resultado. As alterações na política educacional têm sua raiz nas reformas viajantes que estão ocorrendo em muitos países com as globalizações (SANTOS, 2011). Tais ações são mediados por forças supranacionais, econômicas e políticas nacionais, indiretamente com a influência exercido sobre o Estado e sua maneira de regular a educação (DALE, 2004, p. 441), provocando alterações na política educacional nacional. Desta maneira, a escola que passa a nortear a política educativa é a eficaz. Esta tem um currículo prescrito com expectativas de aprendizagem e as avaliações padronizadas para aferir a construção das competências dos estudantes. Em razão disso, o professor é pressionado a desenvolver uma ação educativa que resulte na elevação dos índices educacionais, logo, a sua prática muitas vezes baseia-se em treino de estudantes para os testes, sobrecarregando-os (FREIRE, 2014). No entanto, não podemos pensar apenas em uma educação que não proporcione bons resultados, mas a que os estudantes aprendam e construam seus percursos acadêmicos com sucesso. Entretanto, o que questionamos é a ênfase que é dada ao alcance dos resultados. Além disso, a pressão para que a escola atinja os resultados é excessiva, de modo que temas que dizem respeito a construção da cidadania e dos valores muitas ficam em segundo plano, portanto, a prática docente está moldada a cumprir um currículo prescrito e o treino para os testes como o objetivo maior da educação. Por isso, torna-se primordial conhecer qual o impacto que a política de avaliação por resultado na prática de docentes de escolas de tempo integral de Pernambuco.
- 70. 69Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer REFERÊNCIAS AFONSO, Almerindo Janela. Estado, mercado, comunidade e avaliação: esboço para uma rearticulação crítica. Educação & Sociedade, v. 69, n. XX, 1999. Bardin, Laurence. Análise de conteúdo. (5.ª ed. rev.) Lisboa: Edições 70, 2011. BARROSO, João. O Estado, a educação e a regulação das políticas públicas. Educação & Sociedade, v. 26, n BERLINER, David C.; BIDDLE, Bruce J. The manufactured crisis: Myths, fraud, and the attack on America's public schools. Nassp Bulletin, v. 80, n. 576, p. 119-121, 1996. BIESTA, Gert. Why “what works” won’t work: Evidence‐based practice and the democratic deficit in educational research. Educational theory, v. 57, n. 1, p. 1-22, 2007. ______. Why “what works” won’t work: Evidence‐based practice and the democratic deficit in educational research. Educational theory, v. 57, n. 1, p. 1-22, 2007. ______. Boa educação na era da mensuração. Cadernos de Pesquisa, v. 42, n. 147, p. 808-825, 2013. Bonamino, Alicia. C. Tempos de avaliação educacional: o Saeb, seus agentes, referências e tendências. Rio de Janeiro: Quartet, 2002. ______; SOUSA, Sandra Zákia. Três gerações de avaliação da educação básica no. Educação e Pesquisa, v. 38, n. 2, p. 373-388, 2012. BROADFOOT, Patricia. Education, assessment and society: A sociological analysis. Open University Pres, 1996.. BROOKE, Nigel; SOARES, José Francisco. Pesquisa em eficácia escolar: origem e trajetórias. Editora UFMG, 2008. CHUBB, John E.; MOE, Terry M. America's public schools: Choice is a panacea. The Brookings Review, v. 8, n. 3, p. 4-12, 1990. FRIEDMAN, Milton; FRIEDMAN, Rose D. Capitalismo e liberdade. Editora Artenova, 1977. DALE, Roger. Globalização e educação: demonstrando a existência de uma “cultura educacional mundial comum” ou localizando uma “agenda globalmente estruturada para a educação”. Educação & sociedade, v. 25, n. 87, p. 423-460, 2004.
- 71. 70Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer FREIRE, Vilma Cleucia de Macedo Jurema. Os efeitos da globalização no trabalho/identidade docentes. Dissertação de Mestrado, 2014. Dissertação (Mestrado em Ciências da Educação) – Instituto de Educação - Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologia, Lisboa, 2013. Disponível em http://recil.grupolusofona.pt/handle/10437/6251 acesso em 22/07/2017 às 14 h. GOLDBERG, M.; RENTON, A.M. A nation at risk: ugly duckling no longer. In: GINSBERG, R.; PLANK, D. Comissions, reports, reforms and educational policy. Westport, Conn.: Praeger, 1995. LUCENA, Ari Alves de. Progepe: Módulo de Responsabilidade Social e Educacional. Recife: Secretaria de Educação de Pernambuco, 2017. MAROY, C.; MANGEZ, C. La construction des politiques d’évaluation et de pilotage du système scolaire en Belgique francophone: nouveau paradigme politique et médiation des experts. FELOUZIS, Georges et al. Gouverner l'éducation par les nombres?: usages, débats et controverses. Brussels: De Boeck, 2011. p. 53-76, 2011. NORMAND, Romuald. Le mouvement de la school effectiveness et sa critique dans le monde anglo-saxon. Sociologie, politique et critique en éducation, Revue de l’Institut de Sociologie, Bruxelles, ULB, p. 135-166, 2003. ______. Mercado, performance, accountability. Duas décadas de retórica reaccionária na educação. Revista Lusófona de Educação, n. 11, p. 49-76, 2008. ORFIELD, Gary; KORNHABER, Mindy. Raising standards or raising barriers?: inequality and high-stake testing in public education. New York: The Century Foundation, 2001. Poschmann, Marcio. Planejamento e avaliação. Curso de especialização em gestão educacional. Campinas: Unicamp. CD-ROM, 2005. DEROUET, Jean-Louis. Entre la récupération des savoirs critiques et la construction des standards du management libéral: bougés, glissements et déplacements dans la circulation des savoirs entre recherche, administration et politiqueen France de 1975 à 2005. Revue française de pédagogie. Recherches en éducation, n. 154, p. 5-18, 2006. SAHLBERG, Pasi. Un sistema escolar modelo. Finlandia demuestra que la equidad y la excelencia pueden coexistir en la educación A Model Lesson. Finland Shows that Equity and Excellence Can Co-exist in Education. 2015.
- 72. 71Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer SANTOS, Boaventura de Souza. A globalização e as ciências sociais. 4.ed. Cortez Editora, 2011. SADLER, D. Royce. Specifying and promulgating achievement standards. Oxford Review of Education, v. 13, n. 2, p. 191-209, 1987. YIN, Robert K. Estudo de Caso-: Planejamento e Métodos. Bookman editora, 2001. ABSTRACT: The present article is a clipping of a doctoral thesis in progress that focuses on the "effects of the evaluation Policy results in teaching practice: a case study in the State of Pernambuco". We will discuss the evaluation policy resulting in, large-scale evaluation in Brazil and the assessment resulting in Pernambuco. Such research is qualitative in nature, the instruments will be observation, semi-structured interview with the actors: teachers and school management school. It will be a case study on a full-time public high school that has been showing positive results in indexes proposed by the network. The results are preliminary, because the collection of empirical data has not yet been carried out. Soon, the data here are the result of review and observations as a teacher in the locus of research. The paradigm of school effective guiding educational policy, comes to become a hegemonic paradigm were essential to redefine the role of the State and revaluation of the market ideology, being responsible for the elucidation of the role of educational assessment (AFONSO, 1999), Yes, becomes "mirror" to demonstrate the quality of education and your efficiency. We question the emphasis and the pressure to that school and teachers reach the indexes, returning your practice to practice to answer tests, while the human formation, geared to the values is in the background, however, is of great importance to know what the impact of policy valuation result brings the practice of these teachers. KEYWORDS: education, educational policy, measurement results.
- 73. 72Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer CAPÍTULO VI CONSELHO TUTELAR: INSTRUMENTO DE DEMOCRATIZAÇÃO DO DIREITO À EDUCAÇÃO ________________________ Andressa Garcias Pinheiro Tyciana Vasconcelos Batalha Carlos André Sousa Dublante
- 74. 73Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer CONSELHO TUTELAR: INSTRUMENTO DE DEMOCRATIZAÇÃO DO DIREITO À EDUCAÇÃO Andressa Garcias Pinheiro Universidade Federal do Maranhão – UFMA São Luís – Maranhão Tyciana Vasconcelos Batalha Universidade Federal do Maranhão – UFMA São Luís – Maranhão Carlos André Sousa Dublante Universidade Federal do Maranhão – UFMA São Luís – Maranhão RESUMO: O presente artigo tem por objetivo fazer uma reflexão sobre o Conselho Tutelar como instrumento de democratização do direito à educação. A questão de partida para o desenvolvimento desta análise é: que aspectos históricos orientam o Conselho Tutelar da década 1990 até os dias atuais? Justificamos a preferência pela temática por entendermos que a organização do Conselho Tutelar sofreu nos últimos anos várias transformações, objetivando melhorar as condições educacionais e protetivas às crianças e adolescentes. Dessa forma, como procedimento de abordagem, aplicaremos uma Entrevista Semiestruturada com três Conselheiros e uma gestora da rede pública, ambos de São Luís, por apresentarem subsídios para realização da pesquisa, o que nos permitiu analisar atuação do Conselho Tutelar e o seu papel na garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes. Para tanto utilizamos como referencial teórico SANTOS (1996), LIVERATI; CYRINO (2003), CURY (2006) dentre outros. Em relação aos dados da pesquisa percebemos que se a sociedade tivesse mais conhecimento sobre o Estatuto da Criança e do adolescente, estes seriam menos negligenciados com relação aos seus direitos, portanto, constatamos que estas mudanças possuem impactos positivos na educação e na proteção às crianças e adolescentes, pois asseguram direitos que antes não eram considerados. Nesse sentido concluímos que as mudanças ocorridas a partir da criação dos Conselhos Tutelares no Brasil, consolida um grande avanço no que diz respeito aos mecanismos de proteção dos direitos das crianças e dos adolescentes, possibilitando a comunidade e a família lutar pela concretização dos seus direitos, preparando-os para exercer a cidadania. PALAVRAS-CHAVE: Conselho Tutelar. Democratização. Educação. 1 INTRODUÇÃO Neste artigo o tema central discutido é sobre o Conselho Tutelar como instrumento de democratização do direito à educação. A questão de partida para o desenvolvimento desta análise é: que aspectos históricos orientam o Conselho Tutelar da década 1990 até os dias atuais? Justificamos a preferência pela temática por entendermos que a organização do Conselho Tutelar sofreu nos últimos anos
- 75. 74Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer várias transformações, objetivando melhorar as condições educacionais e protetivas às crianças e adolescentes. A importância do Conselho Tutelar é instituída no Estatuto da Criança e do Adolescente em contraposição a política vigente até os anos de 1990, denominada de menorismo4. Existira uma doutrina de situação irregular antes da implantação do ECA, assegurada pelo antigo Código de Menores (Lei 6.697/79) que aceitava fatos incoerentes de não proteção à criança e adolescente. Ou seja, a criança e o adolescente começaram a ser objeto de preocupação do Estado como consequência da leitura dos termos abandono e infração. O menor é visto como um problema de ordem pública, surgindo políticas voltadas para resolver questões de marginalização, vulnerabilidade e ato infracional. Por isto, constatamos que a legislação não fora criada para proteger os menores, mas com o intuito de abonar a intervenção jurídica quando houvesse risco, então, a lei dos menores preocupava-se exclusivamente com o conflito existente e não com a prevenção. Assim algumas questões surgem, como: quais mudanças aconteceram a partir da criação do Conselho Tutelar no Brasil? Quais impactos estas mudanças têm na educação e na proteção às crianças e adolescentes? Verificamos que esses itens têm grande contribuição para o início do estudo. Neste sentido, o Conselho Tutelar foi criado no dia 13 de julho de 1990 e instituído pela Lei 8.069 (Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA de 13 de julho de 1990), sendo uma entidade vitalícia, autônoma e não jurisdicional. É constituído por cinco membros eleitos pela comunidade para assegurar direitos às crianças e aos adolescentes, bem como definirem em grupo as medidas de proteção. Para tanto, o Conselho Tutelar possui autonomia funcional e por isso, não tem relação de sujeição com órgãos do Estado. A autonomia que o Conselho Tutelar possui não se constitui como uma “vantagem” para os seus membros, que estariam livres de responsabilização pelos seus atos à administração pública e a comunidade, mas sim configura um direito necessário a execução das atribuições do órgão para garantia de proteção das crianças e dos adolescentes. O art. 131 do ECA destaca que o Conselho Tutelar é permanente referindo-se ao significado de ser duradouro e contínuo, visto que este órgão deve possuir trabalhos em uma série constante, estando em concordância com o princípio de proteção integral. Assim, o Conselho Tutelar uma vez criado não se extingue. Dispõem de liberdade para tomada de decisões, portanto, não é sujeito hierarquicamente a outro órgão e poder. A autonomia expressa-se de algumas formar, como: os tipos de ações que irá realizar, a forma de relacionar com a família, a sociedade e o poder público para defesa dos direitos das crianças e dos 4 O Código de Menores não se destinava a todas as crianças e aos adolescentes, mas apenas aos que se encontravam em “situação irregular”. Portanto, estabelecia diretrizes voltadas para a infância e juventude excluída, isto é, abrangendo questões como trabalho infantil, tutela e “delinquência” e liberdade vigiada. Na política do menorismo o porvir das crianças e dos adolescentes ficava apenas ao serviço do julgamento e da ética do juiz.
- 76. 75Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer adolescentes, bem como vai atender suas atribuições. É não jurisdição, pois, compreende funções de caráter administrativo. Desse modo, o Conselho Tutelar representa a sociedade civil e consequentemente defende os interesses públicos, já que “não lhe cabe apreciar e julgar os conflitos de interesses (não-jurisdicional), função, esta, própria do Poder Judiciário” (LIBERATI, 2003). Quanto a composição do Conselho o art. 132 do ECA indica que deverá haver em cada Município, pelo menos um Conselho Tutelar em que os conselheiros serão escolhidos pela população local para mandato de quatro anos, permitida uma recondução. Com relação a ocupação do cargo, os conselheiros só podem continuar a função por mais um mandato consecutivo, isto é, é aceito uma recondução. Assim sendo, os mandatos não podem ser seguidos um do outro, mas não é impedido de exercer o cargo por várias vezes, precisando apenas serem escolhidos. Neste art. 132 é estabelecido que haverá, pelo menos, um Conselho Tutelar em cada Município, pressupondo que devem contar com uma disponibilidade de Conselhos mediante a demanda social. Com relação aos membros dos Conselhos é importante salientar que na ausência de conselheiros permanente, o órgão permanece em funcionamento apesar do número inferior ao que é definido legalmente. Porém, é necessário garantir a característica de órgão colegiado do Conselho Tutelar. Destarte a única alternativa para o Conselho com o número menor do que previsto pelo art. 132 da Lei nº 8.069/90, não existindo mais suplentes a assumirem a(s) vaga(s) existente(s), será o encerramento de suas atividades até se tomarem as providencias para nova composição do Conselho. Logo após desfeito, novas eleições devem ser solicitadas para a escolha dos novos membros. Então, na ausência do Conselho Tutelar as funções são executadas pelo Juiz da Infância e da Juventude. A escolha dos conselheiros é determinada pelo artigo 133, no que diz respeito a candidatura a membro do Conselho Tutelar, sendo exigidos os requisitos de: idoneidade moral, ter mais de vinte e um anos e morar no Município. Para Milano e Milano Filho (2004) é necessário a especialização de candidatos nas áreas da saúde, educação, assistência social ou psicológica, além de reconhecida experiência com crianças e adolescentes, evitando problemas futuros. Porém, destacamos que a demanda de candidatos ao cargo de conselheiros não necessita dos aspectos abordados por Milano e Milano Filho (2004). A idoneidade moral prevista é no sentido de que estejam aptos para executar as funções do cargo, compreendendo o histórico social e a experiência. Em relação a idade mínima é em decorrência de que os escolhidos tenham capacidade plena de atuarem como conselheiros. A Lei prevê também que os candidatos residam no Município, pois a função de conselheiros está determinada pelas características da cidade atuante, os conhecimentos sobre a sociedade, as questões políticas e econômicas e outras referências da localidade. Os conselheiros devem exercer funções que necessitam de responsabilidades, por isso a legislação federal traz punições sobre o mau exercício do cargo. Portanto, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA, 2001) determina algumas questões, tais como: suspensão ou cassação
- 77. 76Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer nos casos de cometimento de falta grave (fazer uso da função para garantir benefícios; romper sigilo dos casos; conduta incompatível com o cargo; recusa de prestar atendimento; empregar medidas de proteção divergentes da decisão colegiada do Conselho Tutelar; não cumprimento de horários determinados; exercer outras atividades desconcordantes do exercício do cargo; recebimento de gratificações Dessa forma, os Conselhos demandam permanente engajamento e precisam de conselheiros com conhecimentos sobre as funções que desempenham, tornando primordial a consciência destes para a importância do trabalho que exercem na comunidade, conforme os princípios da proteção integral e igualdade. Os conselheiros são remunerados e o art. 134 do ECA prever que “disporá sobre local, dia e horário de funcionamento do Conselho Tutelar, inclusive a eventual remuneração de seus membros” (BRASIL, 1990) bem como previsão dos recursos necessários. É perceptível a importância dos Conselhos Tutelares para a sociedade civil, por isso consideramos significativo o estudo deste órgão como instrumento de democratização do direito à educação. Portanto, pretendemos traçar um breve histórico da origem do Conselho Tutelar desde a implantação na década de 1990 até os dias atuais. Sabendo a influência dos Conselhos Tutelares nas escolas, realizamos na disciplina de Gestão e Organização de Sistemas Educacionais II, Entrevistas com o intuito de investigar o papel desempenhado nas instituições educacionais. Escolhemos a abordagem metodológica da Entrevista Compreensiva por apresentar subsídios para reflexão durante a pesquisa, fazendo parte da análise o Conselho Tutelar do Centro do Município de São Luís e uma escola da rede pública, os participantes da entrevista constituem por 3 (três) conselheiros e 1 (uma) gestora. A metodologia escolhida nos permitiu analisar a atuação do Conselho Tutelar nas escolas e sua influência na melhoria das condições educacionais, bem como as ações protetivas às crianças e os adolescentes. Compreendemos necessário o reconhecimento a partir da questão histórica do Conselho Tutelar, assim, retornamos a questão principal que abordaremos neste artigo. 2 BREVE RESGATE HISTÓRICO DO CONSELHO TUTELAR A passagem da ditadura para a democracia foi consolidada com a Promulgação da Constituição Federal em 1988, que de acordo com Fausto (2008, p. 525) refletiu “o avanço ocorrido no país especialmente na área da extensão de direitos sociais e políticos aos cidadãos em geral e às chamadas minorias”, reconhecendo as crianças e os adolescentes como sujeitos de direito no artigo 227: “é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente [...], o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação [...] além de coloca-los a salvo de toda forma de negligencia, discriminação, exploração, violência e crueldade” (BRASIL, 1988). A partir da Carta Magna foram instituídas algumas normas para assegurar os
- 78. 77Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer direitos da criança e do adolescente, dentre elas: o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e a criação do Conselho nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA); sendo o Estatuto, o principal meio de atendimento às crianças e adolescentes, contendo 267 artigos que retratam estes direitos e deveres. Com o antigo código de menores (Lei n. 6697/79), a base doutrinária era a tutelar do menor, pois para ter o controle da situação irregular das crianças e adolescentes que não estavam sob a autoridade dos pais, eram encaminhados a tutores que se tornavam representantes legal. Era disposta a assistência para menores em situação irregular entre 0 e 18 anos, e medidas preventivas e terapêuticas para os que tinham entre 18 e 21 anos, não havendo fiscalização do Judiciário por nenhuma instância, nem tão pouco política de participação e transparência, essa falta de fiscalização ocasionava uma tutelar de má qualidade, onde os menores acabavam cometendo os mesmos erros por falta de assistência. Com a criação do ECA, as mudanças foram visíveis, a proteção às crianças e adolescentes passou a ser integral, fundamentada “na concepção de que os direitos de todas as crianças e adolescentes devem ser reconhecidos e garantidos com absoluta prioridade” (BRAGALIA; NAHRA, 2002, p. 75), sem discriminação de qualquer tipo, sedo sujeitos de direitos e em condições de desenvolvimento. Segundo Bragalia e Nahra (2002, p. 75), “a família, o Estado e a sociedade têm o dever de assegurar tais direitos, sendo responsáveis por eles e colocando-os a salvo e qualquer forma de exploração, violação ou opressão”. O ECA usa instrumentos de desenvolvimento social, garantindo proteção especial para aqueles considerados em situação de vulnerabilidade. Entre estes instrumentos temos o Conselho Tutelar “que deve atuar em nome da comunidade para fazer valer os direitos de crianças e adolescentes” (BRAGALIA; NAHRA, 2002, p. 76). Esse direito é garantido pela criação de oportunidades, como a vaga nas escolas que permiti o desenvolvimento mental, físico, social, moral em condições de liberdade e dignidade. As medidas sociais básicas abrangem a assistência, proteção jurídica e defesa do menor. As ações preveem a participação da comunidade, criando conselhos dos direitos garantindo à criança e adolescente o direito à ampla defesa, limitando os poderes do juiz. O ECA, “foi criado em meio ao conjunto dos movimentos sociais, para que fosse possível lutar contra a desumana, bárbara e violenta situação a que estava submetida a infância no Brasil” (SANTOS, 1996, p. 144). Deste modo o Estado “assume a responsabilidade em assegurar e efetivar os direitos fundamentais, não devendo mais atuar como antes, com repressão e força, mas com políticas públicas de atendimento, promoção, proteção e justiça” (PAGANINI, 2010, p. 2). E por ser um órgão permanente “contínuo, duradouro, ininterrupto. Não é casual, temporário, eventual mais essencial ao organismo social” (CURY, 2006, p. 456). Com a criação do Conselho Tutelar, os casos exclusivamente sociais saem da esfera judicial, pois “é um órgão permanente que tem autonomia para tomar decisões extrajudiciais no âmbito comunitário e administrativo, limitando os poderes dos juízes, na medida em que propõe o direito á ampla defesa por parte dos menores e garantindo todos os recursos a ela inerentes” (CURRY, 2006, p. 456). Devendo
- 79. 78Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer atuar sempre que houver ameaça ou privação de direitos das crianças e adolescentes, aplicando medidas protetivas, sem a perda de providencias legais, quando for necessário. O Conselho Tutelar presta atendimento a qualquer pessoa que requisite sua ajuda, dando atenção especial aos menos favorecidos. Sendo responsável em acompanhar os casos de crianças de 0 a 18 anos, pois segundo o ECA no artigo 2º “considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade”, entretanto no parágrafo único do 2º artigo está expresso que “nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este Estatuto às pessoas entre dezoito e vinte e um anos de idade”. Entretanto, além de cuidar para que os diretos das crianças e dos adolescentes sejam cumpridos, este também pode atuar nas instituições escolares, garantindo o direito a educação. Posto que é direito da criança e do adolescente ser protegido durante sua formação. Com a criação do ECA, o menor começa a ser tratado de forma diferenciada, buscando soluções definitivas para os problemas em que se encontra, e só em último caso privando-o de sua liberdade. O ECA junto com o Conselho Tutelar busca devolver o bem-estar ao menor, assumindo um compromisso maior com esses sujeitos. Com relação a questão do relacionamento da educação e do Conselho Tutelar, percebemos que o mesmo atua no acesso e permanência da criança na escola, reconhecendo o processo de ensino, um direito social. Posto que a escola é uma das primeiras instituições sociais que a criança entra em contato fora da família, e começa a se tornar um membro da sociedade. 3 A IMPORTÂNCIA DO CONSELHO TUTELAR NO PROCESSO DE EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS À EDUCAÇÃO: análise dos discursos Analisaremos neste tópico as falas dos conselheiros tutelares da área Centro de São Luís, e de uma gestora da rede pública de ensino, tendo em vista a importância do Conselho Tutelar como meio de democratização do direito à educação. Segundo o artigo 136 do ECA são atribuições dos Conselhos Tutelares atender as crianças e adolescentes com medidas protetivas, quando forem vítimas de omissão da sociedade e da família, abuso dos pais ou responsáveis e em virtude da própria conduta da criança e adolescente; atender e aconselhar os pais, requisitar serviços públicos, realizar representação junto à autoridade judiciária, encaminhar ao Ministério Público fatos que constitua infração; expedir notificações, representar em nome da pessoa e da família, contra a violação dos direitos; promover e incentivar ações de divulgação para reconhecimento de maus-tratos, entre outros. Portanto, os conselheiros entrevistados afirmam que é primordial o Conselho Tutelar e destacam que se a sociedade tivesse mais conhecimento sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, a criança seria menos negligenciada nos direitos fundamentais, admitindo que “bastava só a comunidade saber o verdadeiro papel
- 80. 79Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer do Conselho Tutelar”CT1 Ao relatarem sobre as atribuições do Conselho Tutelar, é reconhecido pelos conselheiros que a comunidade não compreende o verdadeiro papel deste órgão, evidenciamos a seguinte fala “muitas vezes quando vamos notificar em algum bairro já chegam dizendo: ninguém vai tomar meu filho ou o contrário vou deixar esse menino aqui, não aguento mais”CT3. Destacando a importancia do Conselho Tutelar na relação com a comunidade; e, também, a questão do tomar e/ou deixar o filho, fica claro que a falta de conhecimento sobre o papel do Conselho tutelar leva a esse tipo de interpretação. Afirmamos que o Conselho Tutelar deve agir a partir das atribuições designadas por lei, conforme o art. 136, no inciso I, “atender as crianças e adolescentes nas hipóteses previstas nos arts. 98 e 105, aplicando as medidas previstas no art. 101, I a VII” que aborda sobre as medidas de proteção à criança e ao adolescente por ação ou omissão da sociedade, do estado, dos pais ou responsáveis ou por sua conduta, podendo intervir na matricula obrigatória nas escolas da rede oficial de ensino, requisição de tratamento médico, inclusão em programa oficial ou comunitário orientação, acompanhamento temporário e encaminhamento aos pais ou responsável. No inciso II, “atender e aconselhar os pais ou responsável, aplicando as medidas previstas no art. 129, I a VII” que trata da prestação de atendimentos aos pais, como o encaminhamento a serviços e programas oficiais ou comunitários, a tratamentos psicológicos, a programas de orientação e obrigação de matricular o filho ou pupilo ou encaminhar a criança ou adolescente a tratamento especializado; no inciso III, “promover a execução de suas decisões, podendo para tanto: a) requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social [...]; b) representar junto à autoridade judiciaria nos casos de descumprimento injustificado de suas deliberações” que garante a execução e cumprimento das medidas impostas pelo órgão. Porém, os conselheiros ficam sujeitos à disponibilidade do serviço público, que no momento de inacessibilidade, será requerido tais cumprimentos. Caso não seja justificado, o Conselho comunica o Juiz da Infância e Juventude como forma de punir os contrários a ação. No que se refere a relação do Conselho Tutelar com a Escola, compreendemos necessário escolher uma escola da rede pública próxima a área de atuação do Conselho da área Centro de São Luís, como uma forma de análise da atuação deste órgão. Dessa forma, nas entrevistas tanto os conselheiros como a Escola se consideram parceiros, quando o Conselho Tutelar precisa de vagas, a escola tenta providenciar o mais prontamente possível e do mesmo modo quando a escola precisa da presença ou da atuação do conselho em um caso especifico, este se coloca à disposição para ajudar no que for preciso, principalmente nos casos de violência na escola e de indisciplina severa. Os conselheiros destacam que a atuação nas escolas ocorre por meio de denúncias, assim, evidenciamos a seguinte fala “o Conselho Tutelar só age com a denúncia, precisamos ser acionados”CT2. Portanto, para que possam atuar, a Escola faz o relatório da criança, manda para o conselho, este vai a busca da família e dão o retorno para a gestão da escola, demandando tempo. No caso de violência na
- 81. 80Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer escola, quando trazem o retorno, comprovando que a família é realmente omissa com seus filhos (com infrequência na escola), afirmam que “tentamos ajudar da melhor maneira possível, com conversas e até com acompanhamento psicológico para os envolvidos”CT3. Os direitos assegurados pelo Conselho Tutelar com relação a educação, é apontado pelos conselheiros como “garantia de vagas para a criança e o adolescente, priorizando o bem-estar dentro da escola”CT3, como está expresso no art 101, inciso III “matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino fundamental”, pois garantindo o direito a educação tanto as crianças como as famílias podem ter esperança de sair da vulnerabilidade em que se encontram. Quando perguntamos sobre os critérios para se tornar um membro do Conselho Tutelar, são destacados aspectos pertinentes ao art. 133 que exigem dos candidatos alguns requisitos como idade superior a vinte e um anos; idoneidade moral; residir no município, bem como também possuir ensino médio completo e ser atuante na comunidade e realizar um trabalho de no mínimo dois anos envolvendo crianças e adolescentes, registrada na CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente). É solicitado que o candidato faça uma prova sobre o ECA, após aprovação nesta etapa é necessário segundo os conselheiros “correr atrás dos votos, é a parte mais difícil. O voto não é obrigatório, daí aparece o seu reconhecimento dentro da comunidade”CT1, sendo realizada também “uma avaliação psicológica e prova escrita sobre o ECA; o candidato precisa tirar no mínimo sete (7)”CT2. A única forma para as pessoas serem informadas sobre a escolha de novos Conselheiros, é com a mobilização da comunidade pelos próprios candidatos, pois não há uma propaganda especifica como nas eleições para presidente, prefeito, vereador, etc. Antes não havia um dia especifico para que esta votação ocorresse, porém com Lei 12.696/12, que alterou profundamente as regras para a organização dos Conselhos Tutelares, o processo para esta escolha passou a ser unificado em todo o território nacional, ocorrendo a primeira eleição no dia 04 de outubro de 2015, sendo assim “o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar ocorrerá em data unificada em todo o território nacional a cada 4 (quatro) anos, no primeiro domingo do mês de outubro do ano subsequente ao da eleição presidencial” (ECA, Art. 139, § 1º), com a posse dos conselheiros “no dia 10 de janeiro do ano subsequente ao processo de escolha” (ECA, Art. 139, § 2º). Segundo o que o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) representa para o Conselho Tutelar, responderam-nos que “o ECA é nossa bíblia”CT2. Constituindo-se por um conjunto de normas que tem como objetivo a proteção integral da criança e do adolescente, então, como destacam os conselheiros entrevistados “então abaixo da Constituição... o Estatuto da Criança e do Adolescente. Tudo o que fazemos no Conselho tem que seguir o que diz o Estatuto”CT1. As situações que o Conselho Tutelar deve ser acionado na Escola, abordam que o embasamento é quando ocorre violação de direito. Assim, citam três questões após ECA maus tratos envolvendo as crianças e os adolescentes; reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos escolares; elevados níveis de repetência.
- 82. 81Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer Quando ocorre algum caso de maltrato ou violência na escola, com relação a criança a o adolescente, a mesma procura resolver os problemas internamente, entretanto, não havendo nenhum resultado, é necessário mandar um relatório para o Conselho informando sobre o ocorrido. Em relação as medidas tomadas pelos conselheiros após comunicados de maus tratos contra criança e/ou adolescente, atuam por meio da identificação dos responsáveis e endereço, encaminhando-se a residência familiar e notificando os pais para estarem no Conselho Tutelar com a criança e/ou adolescente. Então, é no Conselho que “verificamos se as denúncias procedem ou não, caso sejam verdadeiras conduzimos para a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA)”CT2. A garantia do direito a educação, segundo os conselheiros, relaciona-se também a requisição de vaga escolar, isto é, “pedimos um escrito da diretora dizendo a negativa e encaminhamos para a promotoria de educação”CT3. Afirmando que em casos de insuficiência de vagas, a criança e/ou adolescente “terá que ir para uma escola particular por conta deles. Nunca aconteceu aqui, mas em outros municípios já sim”CT1. Destarte, o art. 53 da Lei nº 8.069 do ECA aborda sobre o direito à educação e asseguram, no inciso I, “igualdade de condições para o acesso e permanência na escola”; e no inciso V, “acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência”. Percebemos que o caput do artigo 53 é bem claro com relação aos direitos das crianças e dos adolescentes com relação à educação pois visa “ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho”, assegurando também nos incisos I, II e III o direito de ser respeitado, contestar os critérios avaliativos e participação em entidades estudantis. Corroboramos com este artigo pois sabemos da necessidade de sermos detentores dos conhecimentos oportunizados pela escola e almejamos uma educação pública de qualidade para todos. 4 CONSIDERAÇÕES FINAIS Considerando a relevância social da atuação do Conselho Tutelar e o seu papel para a garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes, compreendemos por meio desta pesquisa que a investigação do tema oportuniza conhecer a realidade do Conselho Tutelar. Como forma de desempenhar suas funções, baseia-se nas determinações do Estatuto da Criança e do Adolescente. Portanto, este órgão é um serviço público de fundamental relevância para a sociedade, tendo em vista a garantia de direitos e esclarecimentos. Tivemos como questão de partida a análise dos aspectos históricos que orientaram o Conselho Tutelar da década de 1990 até os dias atuais, para tanto, compreendemos que as mudanças ocorridas a partir da sua criação no Brasil, consolida um grande avanço no que diz respeito aos mecanismos e instâncias de proteção dos direitos das crianças e dos adolescentes, pois possibilita a comunidade e a família lutar pelar garantia e concretização desses direitos. Destacamos também
- 83. 82Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer que no Código de Menores, anteriormente, praticava-se o aspecto das situações irregulares, por meio do qual a criança/adolescente de rua, exploradas sexualmente, criança/adolescente infrator e outras questões pertinentes as violações, eram elementos de intervenção dos adultos e do Estado, visto que não se constituíam como sujeito de direito. Com as alterações na forma de perceber a criança e adolescente, por meio do ECA e do Conselho Tutelar, então, na situação abordada, os irregulares são a família, o Estado e toda a sociedade que não garantiram a proteção integral das crianças e adolescentes. Percebemos com as nossas entrevistas que se a sociedade tivesse mais conhecimento sobre o Estatuto da Criança e do adolescente, estes seriam menos negligenciados com relação aos seus direitos, portanto, constatamos que estas mudanças possuem impactos positivos na educação e na proteção às crianças e adolescentes, pois asseguram direitos que antes não eram considerados. Evidenciamos que para concretização efetiva do Conselho Tutelar é necessário que a comunidade o conheça, uma vez que é perceptível o desconhecimento das funções e atribuições do órgão. Por fim, o Conselho Tutelar não assegura apenas o aspecto da proteção, mas também é um órgão que contribui para a formação das crianças e adolescentes, preparando-os para exercer a cidadania. REFERÊNCIAS BRAGALIA, Mônica; NAHRA, Clicia Maria Leite (Orgs.). Conselho Tutelar: gênese, dinâmica e tendências. Canoas: Edulbra, 2002 BRASIL. Lei nº. 8.069 de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8069.htm>. Acesso em: 04 de junho 2017. ________. Lei n. 12.696, de 25 de julho de 2012. Altera os arts. 132, 134, 135 e 139 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolesce), para dispor sobre os Conselhos Tutelares. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12696.htm. Acesso em: 04 jun.2017. ________. Código de Menores. Lei nº6.697 de 10 de outubro de 1979. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1970-1979/L6697.htm>. Acesso em: 04 jun.2017. CONANDA. Parâmetros de Funcionamento dos Conselhos Tutelares. Brasília: CONANDA, 2001.
- 84. 83Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer CURY, Munir. Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado. 8. São Paulo: Editora Malheiros, 2006, p. 456. DIGIÁCOMO, Murillo José. Algumas considerações sobre a Composição do Conselho Tutelar. Portal do Ministério Público do Estado do Paraná. Disponível em: <http://www.mp.pr.gov.br/cpca/telas/ca_doutrina_cd_ct_13.html>. Acesso em: 04 de junho de 2017. LIBERATI, Wilson D. et CYRINO, Caio B. Conselhos e fundos no estatuto da criança e do adolescente. São Paulo, Malheiros, 2003, 2ª ed., p.125-127. MILANO Filho, NAZIR David e MILANO, Rodolfo César. Estatuto da Criança e do Adolescente: comentado e interpretado de acordo com o novo Código Civil. 2. ed. São Paulo: Liv. e Ed. Universitária de Direito, 2004. SANTOS, Benedito Rodrigues dos. A emergência da concepção moderna da infância e adolescência – mapeamento, documentação e reflexões sobre as principais teorias. 1996. Dissertação (Mestrado Antropologia) Faculdade de Ciências Sociais - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo. ABSTRACT: This article aims to reflect on the Guardianship Council as an instrument for democratizing the right to education. The starting point for the development of this analysis is: what historical aspects guide the Tutelary Council from the 1990s to the present day? We justify the preference for the theme because we understand that the organization of the Guardianship Council has undergone several transformations in the last years, aiming to improve the educational and protective conditions for children and adolescents. Therefore, as a procedure of approach, we will apply a Semistructured Interview with three Counselors and a public network manager, both from São Luís, for presenting subsidies to carry out the research, which allowed us to analyze the actions of the Guardianship Council and its role in the guarantee rights of children and adolescents. For this we use as theoretical reference SANTOS (1996), LIVERATI; CYRINO (2003), CURY (2006) among others. Regarding the research data, we realized that if the society had more knowledge about the Statute of the Child and the adolescent, they would be less neglected in relation to their rights, therefore, we verified that these changes have positive impacts on education and the protection of children and adolescents. adolescents, because they assert rights that were previously not considered. In this sense, we conclude that the changes that have taken place since the creation of the Tutelary Councils in Brazil, consolidate a great advance in the mechanisms for protecting the rights of children and adolescents, enabling the community and the family to fight for the realization of their rights, preparing them to exercise citizenship. KEYWORDS: Guardianship Council. Democratization. Education.
- 85. 84Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer CAPÍTULO VII DEFICIÊNCIA E PRIVAÇÃO CULTURAL: EFEITOS NA FORMAÇÃO DOS SUJEITOS ________________________ Silvia Roberta da Mota Rocha Laís Venâncio de Melo
- 86. 85Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer DEFICIÊNCIA E PRIVAÇÃO CULTURAL: EFEITOS NA FORMAÇÃO DOS SUJEITOS Silvia Roberta da Mota Rocha Professora Doutora da Unidade Acadêmica de Educação (UAEd) Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) Campina Grande – Paraíba silviarobertadamotarocha@gmail.com Laís Venâncio de Melo Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGEd) Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) Campina Grande - Paraíba laisvenanciomelo@gmail.com RESUMO: O direito público subjetivo à educação no Brasil encontra respaldo no plano formal, mas enfrenta limites quanto à sua incorporação nas práticas sociais escolares. Barreiras arquitetônicas, comunicacionais e atitudinais causam prejuízos em relação ao acesso e permanência, com apropriação dos vários saberes escolares, por parte do coletivo dos sujeitos em situação de deficiência. Nesse contexto de transição do modelo escolar excludente para o modelo escolar includente, a análise da dimensão subjetiva da educação, especificamente, das barreiras atitudinais, assume posição preocupante, e justifica a pesquisa acerca das concepções e práticas docentes sobre deficiência. A concepção de deficiência como privação cultural ou causalidade da falta tem sido apontada como recorrente nas práticas escolares, especialmente, porque fundamentam ações pedagógicas excludentes com tais sujeitos atualizando as relações sociais da nossa sociedade classificatória. Analisando as perspectivas teóricas de autores como Patto (1999a; 1999b), Longman (2002), Mota Rocha (2002), Charlot (2000), Poulin (2010), Adorno (1986), Kramer (1999), Arroyo (2008), Goffman (1988); Veras (2007) e Figueiredo (2002) vemos que os estudos relacionados à temática assinalam que o olhar para a deficiência enquanto privação cultural, resultante de causas intra e extra-escolares, se fundamenta na normalização, classificação, estigmatização, desumanização e desqualificação social desses sujeitos. Aponta ainda para a gravidade de suas consequências como a naturalização dos processos sociais que negam aos sujeitos em situação de deficiência a sua condição de direito, e a atualização de suas identidades inferiorizadas porque considerados população descartável do sistema. PALAVRAS-CHAVE: Deficiência, Privação, Concepção, Implicações. 1. INTRODUÇÃO Constituímos como foco desse trabalho, a reflexão sobre a concepção da deficiência enquanto privação cultural. Esse objeto está inserido numa pesquisa qualitativa em andamento, intitulada “Deficiência intelectual e mediação pedagógica: estudo sobre concepções e práticas docentes em escolas do município de Campina Grande-PB”, que tem como contexto de realização a Educação Inclusiva
- 87. 86Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer no Brasil e as violações no cumprimento da educação enquanto direito público subjetivo, uma vez que, mesmo respaldado em lei (Constituição Federal, 1988; Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB, 1996), as barreiras - sejam arquitetônicas, comunicacionais e/ou atitudinais (CARVALHO, 2007) – se estabelecem como desafios educacionais à incorporação do conceito de indivíduo nas práticas sociais escolares, pela construção na e pela escola pública, da condição de sujeitos de direito ao acesso, permanência e apropriação dos saberes escolares por alunos em situação de deficiência, enquanto ação política de construção da sociabilidade democrática (MOTA ROCHA, 2002). O pareamento anual de dados entre o Censo Escolar INEP/MEC e o BPC (Benefício da Prestação Continuada da Assistência Social) revela que é preocupante a situação, pois identificou, em 2008, que 71% dos beneficiários em situação de deficiência (de zero a 18 anos) estavam excluídos da escola e só 29% deles estudavam. Em 2011, esses números passaram para 68,71% (na escola) e 31,29% (fora da escola). Do ponto de vista quantitativo, havia em 2012, aproximadamente 200 mil crianças e adolescentes em situação de deficiência, altas habilidades/superdotação e transtornos globais do desenvolvimento, configurando a demanda ainda reprimida no Brasil (RIBEIRO, 2014). Além da ausência desse grupo de indivíduos nas escolas, há uma desproporção no atendimento ao longo das etapas da Educação Básica aos que nelas estão. Entre 2007 e 2014, o atendimento no Ensino Fundamental foi, proporcionalmente, muito maior do que na Educação Infantil e decaiu no Ensino Médio. A discrepância sinaliza que um número considerável de pessoas em situação de deficiência deixa a escola sem concluir a Educação Básica (CRUZ e MONTEIRO, 2016), acarretando prejuízos não somente quanto à escolaridade, mas à inserção desses sujeitos no mercado de trabalho, já que àquela é condição fundamental para esta (PFAHL, 2014). Mediante essas problemáticas e a urgência da implementação da Educação Inclusiva enquanto política focal desses sujeitos, a pesquisa maior tem como enfoque geral, analisar as concepções de deficiência e a mediação pedagógica frente aos aspectos funcionais do desenvolvimento cognitivo em indivíduos em situação de deficiência intelectual de escolas do município de Campina Grande-PB. Como parte dessa investigação, apresentaremos nesse artigo, os fundamentos teórico-metodológicos referentes à concepção de deficiência enquanto privação cultural, bem como as suas consequências para as práticas pedagógicas. 2. METODOLOGIA A produção dos fundamentos teórico-metodológicos da nossa investigação foi feita pela revisão de literatura, especificamente, pela realização de leituras analíticas e correlacionadas de pesquisadores sociais que investigam políticas e práticas educacionais focais para os diversos coletivos feitos desiguais, a partir de meados da década de 1980, período em que, no contexto da redemocratização da sociedade
- 88. 87Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer brasileira e da escola como expressão e produção desta, emergiu “um processo que poderíamos chamar de ‘ascensão da diversidade’, como um tema em disputa por correntes teóricas e na realidade social” (ABRAMOWICZ, RODRIGUES e CRUZ, 2011, p. 86). Assim, analisamos os trabalhos de autores como Patto (1999a; 1999b), Longman (2002), Mota Rocha (2002), Charlot (2000), Poulin (2010), Adorno (1986), Kramer (1999), Arroyo (2008), Goffman (1988), Veras (2007) e Figueiredo (2002), a partir dos quais integramos nossas considerações, expostas a seguir. 3. A DEFICIÊNCIA ENQUANTO PRIVAÇÃO CULTURAL No fim da década de 1950 e início de 1960, o contexto problemático norte- americano de evasão e repetência escolar, denunciado por minorias sociais, especialmente negros e porto-riquenhos, configurou-se como um dos catalisadores para a realização de pesquisas no âmbito da que ficou conhecida como Psicologia das Diferenças Individuais ou Psicologia Diferencial. Frequentemente realizadas por meio de testes de Coeficientes de Inteligência, tendo como parâmetro o repertório cultural das camadas favorecidas dos Estados Unidos, essas pesquisas, não raramente, resultaram na afirmação de que o fato desses alunos irem mal na escola era porque portavam inúmeras deficiências nas áreas do desenvolvimento biopsicossocial. Assim sendo, as causas dos problemas foram localizadas em características bio-psico-sociais dos aprendizes, entendidas como déficits ou patologias. A tendência é o olhar pela falta, seja mediante a teoria da privação, na qual “a deficiência é o que falta para as crianças terem sucesso na escola” (CHARLOT, 2000, p. 26), ou pela teoria da deficiência cultural, que compreende a deficiência como uma desvantagem dos alunos cuja cultura familiar (da pobreza) não estaria adequada às exigências sociais e escolares (PATTO, 1999a, 1999b; CHARLOT, 2000; LONGMAN, 2002). Patto (1999a, 1999b) destaca que essa concepção determina a maneira como pensamos o aluno das escolas, especialmente, de periferia. A pesquisa educacional veiculou uma interpretação coerente com a visão oficial de sociedade vigente nos Estados Unidos, de que essas crianças viviam em ambientes familiares que não favoreciam um desenvolvimento psicológico adequado. As explicações sobre os problemas no rendimento escolar da criança de baixa renda variaram entre carências afetivas, deficiências perceptivas e motoras, déficit linguístico, enfim se tratava de privação cultural. Não se avançou a respeito da análise sobre o porquê de o ambiente familiar dessas crianças ser precário, ou se era efetivamente precário, nem se considerou criticamente as dimensões econômica, política, social e a dimensão da dominação cultural. Vemos a seguir as respostas que foram dadas, pelos estudos acerca da causalidade das dificuldades de aprendizagem. [...] a pesquisa educacional contribuiu para a veiculação de uma imagem negativa da criança de "classe baixa": ela seria portadora de inúmeras deficiências e problemas de desenvolvimentos. [...] afirmava-se que essas
- 89. 88Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer crianças eram deficientes porque suas famílias eram deficientes, porque seus ambientes familiares eram deficientes (PATTO, 1990a, p. 31). Como o modelo ideal de aprendiz da classe dominante, social e economicamente privilegiada se tornou um referencial, as explicações sobre os problemas no rendimento escolar da criança de baixa renda variaram entre carências afetivas, deficiência perceptivas e motoras, privação cultural, déficit linguístico. Surgindo então, no pensamento educacional, uma “verdadeira” teoria da carência, privação e deficiência cultural, o que justifica a expressão “psicologia da pobreza”, que transformava diferenças individuais decorrentes de culturas desvalorizadas pela escola em “doenças, defeitos, deficiências”, como causas do insucesso escolar (PATTO, 1990b). A teoria passou, então, a culpalizar o sujeito, portador de atraso no desenvolvimento psicomotor, perceptivo, linguístico, cognitivo e emocional, e dissimular as verdadeiras razões das desigualdades (LONGMAN, 2002). Sobrepuseram as análises de reprodução das desigualdades, no desempenho escolar dos estudantes (ABRAMOWICZ et al., 2011). Segundo Patto (1999b), isso ocorreu pela coexistência entre os temas da democratização do ensino e da carência cultural identificada como excepcionalidade, tal como verificamos a seguir. Tudo se passa como se à defesa de uma educação escolar igualitária fosse preciso contrapor um lembrete a respeito da existência de aptidões desiguais, a serviço da justificativa da desigualdade de oportunidades e do caráter seletivo da escola numa sociedade de classes (PATTO, 1990b, p. 99, grifos da autora). Nessa direção, Mota Rocha (2002) enfatiza a centralidade da cultura e das famílias pobres apontadas nesta concepção como causa do insucesso escolar, sem articular tais aspectos à produção de desigualdades sociais. Ainda detalha as significações que produz na desumanização dos indivíduos, concebidos como objetos de favor na relação pedagógica elementar construída na e pela escola pública, como podemos observar na citação a seguir: [...] percepção do aluno pobre como sujeito sem jeito ou resíduo sem solução; alguém que não é merecedor de iniciativas de qualidade na educação; sujeito que está em vias de aglomerações suspeitas (atitudes violentas ou envolvimento em crimes). Percebida enquanto inferioridade na escola, a pobreza é um modo de ser que descredencia indivíduos para o exercício dos seus direitos, o que expressa o papel desta instituição na (re) produção do preconceito e da estratificação sociais (MOTA ROCHA, 2002, p. 190). A afirmação da autora é compartilhada por Pfahl (2014) que compreende o sistema educacional não apenas como lugar de reprodução, mas de produção de desigualdade e deficiência. O efeito dessa produção foi (é) contribuir para “sacramentar cientificamente as crenças, os preconceitos e estereótipos, (...) afirmações de caráter ideológico e, portanto, mistificador, que justificam uma ordem
- 90. 89Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer social vigente (...) como se fossem verdades universais (PATTO, 1990a, p. 23). Produção essa fundamentada no etnocentrismo e na ideologia burguesa de muitos pesquisadores (PATTO, 1990b) que legitimaram a reprodução social no campo científico, justificando esse olhar sobre os alunos e seus desempenhos escolares, em políticas educacionais compensatórias (LONGMAN, 1990) eximindo as causas da sociedade na produção da deficiência, atraso e/ou marginalização escolar e social. As consequências da concepção da deficiência enquanto privação social se ampliam e se ramificam, podendo, inclusive, algumas serem elencadas, como no próximo tópico. 3.1. As consequências da concepção da deficiência enquanto privação cultural 3.1.1. Barreiras para a inclusão Sabemos que a educação resulta da inter-relação entre as condições objetivas e subjetivas nas quais a educação formal é construída. No que se refere às condições subjetivas, as barreiras podem ser arquitetônicas, comunicacionais, pedagógicas e atitudinais. Segundo Carvalho (2007), as barreiras atitudinais estão entre os maiores obstáculos da inclusão. Elas envolvem estruturações perceptivas, afetivo-emocionais que interferem nas predisposições de cada professor. As concepções exercem forte influência em torno da deficiência e interferem diretamente na dinâmica da sala de aula, na medida em que configuram, consciente ou inconscientemente a relação pedagógica elementar da sala de aula (MOTA ROCHA, 2002). A deficiência pode ser concebida de várias maneiras e causa prejuízos aos indivíduos, pois sempre prevaleceu o que lhes “falta” sobre o que “dispõem” como potencialidades. É essencial pensar no grande número de crianças tomadas como deficientes porque foram assim consideradas por seus professores e, assim, passaram a considerar-se. Por essa razão, Carvalho (2007) destaca ser um dos desafios para a sociedade e, em especial, aos educadores, modificar a ideia das dificuldades como impedimentos. [...] as limitações impostas pelas múltiplas manifestações de deficiência não devem ser confundidas com impedimentos. Estes têm origem na própria sociedade, em suas normas e nos estereótipos que cria, prejudicando o desenvolvimento individual que depende das interações com os outros, do viver com, sendo como cada um de nós “é” ou “está” (CARVALHO, 2007, p. 9). Em decorrência das relações interpessoais, podem se desenvolver sentimentos positivos de auto-estima e de autoconfiança, eliminando a percepção social do aluno deficiente, como doente e limitado. Essa mudança depende da qualidade das oportunidades que forem apresentadas. Portanto, uma educação
- 91. 90Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer inspirada no paradigma da inclusão, implica na remoção dessas barreiras atitudinais frente à diferença, que frequentemente põem os indivíduos em situação de desvantagem (CARVALHO, 2007). Como afirmam Moreira e Candau (2005), eliminar essas barreiras exige persistência e, fundamentalmente o conhecimento sobre elas. Portanto, a seguir, comentaremos sobre as consequências da concepção de deficiência enquanto privação cultural, que podem ser configuradas como exemplificações desses “impedimentos”. 3.1.2. Ideologia da normalidade Essa ideologia surgiu nos séculos XVIII e XIX, ligada às noções de nacionalidade, raça, gênero, nas quais a norma é o que permite chegar ao “homem médio”, uma espécie de ideal. “Nesse contexto, a norma se estabelece via controle, regulação da população: saudável, normal” (VERAS, 2007, p. 144). Essa noção de normalidade presente nos discursos das políticas de inclusão e das pedagogias especiais, entende as diferenças como deficiências, pois resulta da construção de educandos considerados ideais, legitimados como parâmetros únicos de medida, logo, maximiza as semelhanças e minimiza as diferenças (GOFFMAN, 1988; VERAS, 2007). Nesse contexto, prevalecem “os processos de dominação inspirados na ideologia da normalidade e produtividade inerente às pedagogias da classificação de escolas brasileiras” (ALVES; MOTA ROCHA E CAMPOS, 2010, p. 209). Nesses, “o normal não se explica: é inato, natural, verdade em si mesmo [...], não se coloca em discussão, é inquestionável [...], tornou-se o padrão, a norma, o que possibilita a manipulação do Outro [...] como instrumento de exploração” (LONGMAN, 2002, p. 5). Mota Rocha, Alves e Neves (2007) denominam esse fenômeno de assujeitamento social, que se produz pela identidade legitimadora e se racionaliza a dominação. Em última instância, a alteridade classificatória é construída pela afirmação do normal, necessariamente, em detrimento do assujeitamento do dito deficiente. É nesse contexto, que os estigmas são produzidos, isto é, marcas postas nos “outros” em nome da manipulação normativa, distinguindo os “outros” com adjetivos pejorativos: anormais, diferentes, deficientes, inferiores, incivilizados, incapazes, desviantes, problemáticos, doentes, fracassados e indesejáveis. Portanto, uma das maiores problemáticas da ideologia da normalidade é que, na escola, a luta pela efetivação de direitos esbarra na identificação das diferenças ainda como algo extraordinário, e não como constitutivas dos indivíduos. Logo, o atípico incomoda, gera desconforto e rejeição, prevalecem os aspectos “negativos” (o que falta), produzindo estigmatização (CARVALHO, 2007; CANDAU, 2012; GOFFMAN, 1988; LONGMAN, 2002). Em última instância o sujeito é silenciado, invisibilizado e assujeitado porque sobreposto pela deficiência produzida socialmente (MOTA ROCHA, 2002), no processo de transformação da diferença em desigualdade (FIGUEIREDO, 2002), e constituído na relação pedagógica elementar enquanto sujeito desacreditado e
- 92. 91Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer desacreditável (GOFFMAN, 1988). Por isso mesmo, tal concepção produz a exclusão social, no sentido da ruptura de laços sociais, da desafiliação, do não pertencimento (POULIN, 2010). 3.1.3. Pedagogia da classificação Para muitos autores, a escola é um dos exemplos mais emblemáticos da pedagogia da classificação, pois ela não só cria, como reforça e ainda cientifica as classificações, fundamentando-se pela perspectiva da privação cultural, pela teoria da causalidade da falta, pelas quais a deficiência se sobrepõe ao sujeito (LONGMAN, 2002, MOTA ROCHA; ALVES; NEVES, 2007; CHARLOT, 2000). Essa pedagogia, como expressão da ideologia da normalidade, descaracteriza as identidades dos sujeitos, produzindo a violência simbólica, a reprodução social, a exclusão e a desqualificação social do indivíduo em situação de deficiência, visto como população descartável do sistema (MOTA ROCHA, 2002), como peso, gasto, déficit, “párias sociais, cujo lugar na sociedade é definido como: lugar da exclusão” (VERAS, 2007, p. 141), como verificamos na citação que segue. A maior obviedade da pedagogia da classificação é a exclusão, porque ela, em si mesma, vem carregada de valores positivo e negativo, uma vez que classificar significa desqualificar pessoas, significa não torná-las singulares ou substantivas. É como uma tatuagem: marca e define a pessoa para sempre. Na marca que a classificação coloca, impede-se a constituição na semelhança dos pares, dos aliados, da fratria [divisões de clãs]. Ela é dada, antes mesmo da pessoa se constituir como sujeito, não é construída pelo sujeito, é prisioneira dela mesma, não tem escolhas (LONGMAN, 2002, p. 4). Percebemos, que, respaldada nas ideologias de normalidade e produtividade, a pedagogia da classificação se constitui como processo de produção de estereótipos, em lógicas binárias, e em sociedades desiguais que desqualificam os indivíduos que não correspondem aos padrões de normalidade e produtividade, enquanto enaltecem aqueles que correspondem adequadamente ao controle social pela alteridade classificatória. Numa cisão do mundo, intensificada por essa pedagogia, que existe para que o normal não seja questionado, transformando, assim, a diferença em desvio, camuflando a desigualdade produza em representações inferiorizadas de diversos coletivos feitos desiguais (ARROYO, 2008; FIGUEIREDO, 2002; LONGMAN, 2002). 3.1.4. Pedagogia da negação A pedagogia da negação se concretiza quando o acompanhamento pedagógico é respaldado por uma visão de aluno apoiada na ideia da insuficiência. Gomes, Poulin e Figueiredo (2010) a define como uma atitude negativa que alguns
- 93. 92Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer professores assumem diante da capacidade de aprendizagem dos alunos em situação de deficiência intelectual. Eles afirmam ser importante considerar as concepções do mediador, pois quando “o professor percebe a capacidade do aluno em aprender de forma positiva, ele empreende ações positivas” (GOMES; POULIN e FIGUEIREDO, 2010, p. 15). Percepção que não acontece no contexto da Pedagogia da Negação, como verificamos no quadro que sintetiza as características dessa abordagem de ensino (QUADRO 1). Quadro 1 - Síntese da Pedagogia da Negação Pedagogia da Negação Definição Atitude negativa de professores diante da capacidade de aprendizagem de alunos Fundamentação Modelo empirista de conhecimento Modelo de alfabetização como sistema de código Práticas de ensino Repetição, memorização, sem significação, sem função social, sem aposta no sujeito Justificativas para a prática Sujeito não epistêmico, dificuldades, insuficiência, lacuna, falta, deficiência, paralisação e fatalidade Consequências Antecipação do fracasso, prejuízos escolares e sociais, desconsideração de potencialidades e limitação da aprendizagem, negação das funções psicológicas superiores Fonte: Quadro elaborado com base nos estudos de Gomes, Poulin e Figueiredo (2010). Fundamentados pelo modelo empirista de conhecimento, pelo modelo de alfabetização como sistema de código (SOARES, 2004; MELO e MOTA ROCHA, 2009), e sob o pretexto de que os indivíduos em situação de deficiência apresentam dificuldades nos processos de aprendizagem, que eles agem pouco no mundo e não se apoiam sobre seus conhecimentos quando estão em situação de aprendizagem, alguns professores não os reconhecem como sujeitos de potencial e capacidade de crescimento e de afirmação e reconhecimento privilegiando o caminho das aprendizagens mecânicas, propondo atividades baseadas na repetição e na memorização, não estabelecendo mediação com foco nas funções psicológicas superiores, que se desenvolvem a partir da relação com o mundo social por meio da metacognição, atenção voluntária, memória intencional, planejamento, solução de problemas, formação de conceitos, avaliação do processo de aprendizagem, e nas dimensões interpessoal e intrapessoal, pela interação com o outro e internalização do que se aprende, modificando estruturas psicológicas (CARNEIRO, 2007; OLIVEIRA, MOTA ROCHA e CAMPOS, 2012). Negando “um aspecto absolutamente fundamental do desenvolvimento humano, a saber, o intelectual” (GOMES; POULIN e FIGUEIREDO, 2010, p. 12) e atuando sob o princípio da pedagogia da negação, ao invés de trabalhar com situações de aprendizagem que tenham relações com conhecimentos prévios e experiências do aluno, com atividades capazes de mobilizar o raciocínio, assumindo responsabilidade quanto ao desenvolvimento intelectual e a sua autonomia, tais professores investem em atividades desprovidas de sentido, antecipando o fracasso
- 94. 93Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer e insucesso dos alunos e, consequentemente, causando prejuízos para as suas aprendizagens e autodeterminação (idem). Em muitos casos, a deficiência é produzida socialmente por privação de mediação, fator que dificulta ou impede o desenvolvimento cognitivo. As interações sociais, as características do sujeito, suas experiências e significação quanto ao aprendizado, interferem nas condições de aprendizagem, cabendo ao educador intervir nessas condições, mobilizando da melhor forma possível a ação do sujeito, considerando que, se ele “acumula experiência de sucesso em suas trocas com o meio social, pode ultrapassar seu potencial” (FIGUEIREDO e POULIN, 2008, p. 248). Figueiredo (2002) questiona sobre os princípios nos quais os professores se fundamentam quando se referem às dificuldades de seus alunos em situação de deficiência. Para a autora, eles podem agir segundo o preceito da realidade ou pelo princípio do preconceito. Em muitas situações, os professores até reconhecem que determinadas dificuldades não são peculiares às crianças em situação de deficiência, todavia, agem pelo princípio do preconceito, pautando-se em concepções e em ideias preconcebidas sobre as possibilidades de aprendizagem. Nesse contexto, relações de poder estão envolvidas, e o sistema educacional funcionando numa perspectiva de educação como técnica (para alunos treináveis), atualiza as maneiras dominantes de pensar a educação escolar das classes trabalhadoras, incluindo a concepção de que seus indivíduos não são aptos a pensar, sempre “em torno da crença, cada vez mais implícita, na inferioridade intelectual do povo, o que certamente contribuiu [contribui] para a ineficácia crônica da escola” (PATTO, 1990b, p. 109). 4. CONSIDERAÇÕES Consideramos que nossa discussão colabora para a compreensão das consequências da concepção de deficiência enquanto privação cultural, porque põe em xeque a problemática, ainda presente na escola brasileira, dos impedimentos e limitações na construção do modelo includente de educação, com repercussões para a reincidente produção da barbárie em sociedades desiguais. Conhecer essa concepção de deficiência e seus efeitos na formação dos sujeitos é importante condição para problematizar a naturalização das barreiras atitudinais, que sobrepõem a deficiência à condição de sujeito, e de sujeito de direito à educação, que produzem a desumanização e a estigmatização. É fundamental, portanto, pesquisas que destaquem não apenas os processos escolares representativos desta concepção, mas, sobretudo, a produção de significações e práticas docentes contrapostas a essa concepção, que sejam basilares à inclusão e possibilitem a eliminação de práticas discriminatórias pelo desenvolvimento de pedagogias críticas para os indivíduos dos diversos coletivos sociais.
- 95. 94Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer REFERÊNCIAS ABRAMOWICZ, A.; RODRIGUES, T. C.; CRUZ, A. C. J. da. A diferença e a diversidade na educação. Contemporânea. São Carlos, 2011, n. 2. p. 85-97. Disponível em: <http://bit.ly/1MsfSGK>. Acesso em: 04 jan. 2016. ADORNO, T. Educação após Auschwitz. In: COHN, G. [org.]. Theodor W. Adorno. São Paulo, Ática, 1986, p. 33-45. ALVES, J. G.; MOTA ROCHA, S. R.; CAMPOS, K. P. B. Deficiência mental e Estigma social: um enfrentamento possível. In: FIGUEIREDO, R. V. de; BONETI, L. W.; POULIN, J. R. [orgs.]. Novas Luzes sobre a inclusão. Fortaleza: Edições, UFC, 2010. p. 175- 212. ARROYO, Miguel G. Os coletivos diversos repolitizam a formação. In: DINIZ-PEREIRA, Júlio Emíllio; LEÃO, Geraldo [orgs.]. Quando a diversidade interroga a formação docente. Belo Horizonte: Autêntica, 2008. p. 11-36. CARVALHO, Rosita Edler. Removendo barreiras para aprendizagem: educação inclusiva. 6ª edição Porto Alegre: Mediação, 2007. 174 p. CARNEIRO, M. S. C. Vigotski, a abordagem histórico-cultural e os estudos da defectologia: outras possibilidades de compreensão da constituição do sujeito. In: CARNEIRO, M. S. C. Deficiência mental como produção social: uma discussão a partir de histórias de vida de adultos com síndrome de Down. 2007. 193 p. (Tese de Doutorado em Educação) – UFRGS, Rio Grande do Sul, 2007. CHARLOT, Bernard. Da relação com o saber: elementos para uma nova teoria. Porto Alegre: ATMED. Porto Alegre, 2000. 93 p. CRUZ, Priscila; MONTEIRO, Luciano (Orgs.) Anuário Brasileiro da Educação Básica 2016. São Paulo: Editora Moderna, 2016. Disponível em: <http://www.todospelaeducacao.org.br//arquivos/biblioteca/anuario_educacao_2 016.pdf>. Acesso em: 23 jun. 2016. FIGUEIREDO, R. V. de; POULIN, J. R. Aspectos funcionais do desenvolvimento cognitivo de crianças com deficiência mental e metodologia de pesquisa. In.: VIEIRA CRUZ, S. H. [org.] A criança fala: A Escuta de Crianças em Pesquisas. São Paulo: Cortez, 2008, p. 245-263. GOFFMAN, Erving. Estigma: notas sobre a manipulação da identidade deteriorada. Tradução de Márcia Bandeira de Mello Leite Nunes. 4. ed. Rio de Janeiro: LCT, 1988. 124 p.
- 96. 95Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer KRAMER, S. Infância e educação: o necessário caminho de trabalhar contra a barbárie. In: KRAMER, S. et al [org.]. Infância e educação Infantil. Campinas, Ed. Papirus, 1999. p. 269-280. LONGMAN, L. V. Classificação: uma pedagogia da exclusão. In: Revista Gestão em Rede, outubro, nº 40, 2002, p. 11-15. MELO, Silmara C. Barbosa; ROCHA, Sílvia R. da Mota. Modelos teórico-metodológicos de alfabetização e letramento: implicações pedagógicas. XIX Encontro de Pesquisadores do Norte e do Nordeste – EPENN. João Pessoa: UFPB, 2009. MOREIRA, A. F. B.; CANDAU, V. M. Educação escolar e cultura(s): construindo caminhos. In: FAVERO, O.; IRELAND, T. D. [orgs.]. Educação como exercício da diversidade. Brasília: UNESCO, MEC, ANPEd, 2005. p. 37-58. Disponível em: <http://bit.ly/1RsHCIk>. Acesso em: 04 jan. 2016. MOTA ROCHA, S. R. da. Leitores da comunidade e crianças leêm histórias na escola: Programa de integração da criança remanescente à comunicação letrada. (Tese de Doutorado apresentada à Universidade Federal do Ceará), 2002. 386 p. OLIVEIRA, C. M. de L.; MOTA ROCHA, S. R. da; CAMPOS, K. P. B. Deficiência Intelectual, Prática Pedagógica Sócio-Histórica e Letramento digital. Trabalho apresentado no V Seminário Nacional sobre educação e Inclusão Social de Pessoas com necessidades educacionais especiais. Natal –RN, 2012. 12 p. PATTO, M. H. S. A criança de escola pública: deficiente, diferente ou mal trabalhada? In: São Paulo. Secretaria da Educação. Revendo a proposta de alfabetização. São Paulo, 1990a. p. 30-41. Disponível em: <http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoe s_pde/2009_uel_pedagogo_md_katia_regina_de_oliveira.pdf>. Acesso em: 21 jun. 2016. PATTO, M. H. S. A produção do fracasso escolar: histórias de submissão e rebeldia. São Paulo: T. A. Queiroz, 1990b. p. 454. PFAHL, Lisa. Desigualdade, educação e deficiência. In: Revista Deficiência Intelectual (DI), Ano 4, Número 7, julho/dezembro, 2014. Disponível em: <http://www.apaesp.org.br/instituto/Documents/Artigos/Revista%20DI/Edi%C3%A 7%C3%A3o%207/DI_n7_18-23.pdf>. Acesso em: 21 jun. 2016. POULIN, J. R. Quando a escola permite a contribuição no contexto das diferenças. In: FIGUEIREDO, R. V. de; BONETI, L. W.; POULIN, J. R. [orgs.]. Novas Luzes sobre a inclusão. Fortaleza: Edições UFC, 2010. p. 17-49.
- 97. 96Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer RIBEIRO, Maria Aparecida Andrés. Pessoas com Deficiência nos Censos Populacionais e Educação Inclusiva. Consultoria Legislativa - publicado na Biblioteca Digital da Câmara dos Deputados, Brasília, nov., 2014. Disponível em:<http://www2.camara.leg.br/documentosepesquisa/publicacoes/estnottec/are as-da-conle/tema11/2014_14137.pdf>. Acesso em: 21 jun. 2016. SOARES, M. Letramento e alfabetização: as muitas facetas. Revista Brasileira de Educação, n.25, jan.-abr./2004. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rbedu/n25/n25a01.pdf>. Acesso em: 09 ago. 2016. VERAS, Viviane. “Ser diferente é normal”?. In: ETD- Educação Temática Digital, Campinas, v. 8, n. esp., jun. 2007. p. 140-153. Disponível em: < http://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/etd/article/view/696/711>. Acesso em: 20 jun. 2016. ABSTRACT: The subjective public right to education is found positive in the Brazilian legal system, but still finds limits as to its incorporation into school social practices. Architectural, communicational and, above all, attitudinal barriers cause damage to individuals with disabilities regarding access and permanence in school, with the appropriation of school knowledge. In this context of transition from the exclusive school model to the inclusive school model, the analysis of the subjective dimension of education assumes a relevant position, which justifies the purpose of the research to investigate the teaching conceptions of disability as cultural deprivation, especially because they base pedagogical actions. This analysis was done based the theoretical perspectives of authors such as Patto (1999a; 1999b), Longman (2002), Mota Rocha (2002), Charlot (2000), Poulin (2010), Adorno (1986), Kramer (1999), Arroyo (2008), Veras (2007) e Figueiredo (2002). The studies related to the theme show that the understanding of disability as cultural deprivation produces classifying and exclusionary pedagogies is the result of intra and extracurricular causes, and is based on the normalization, classification, stigmatization, dehumanization and social disqualification of these subjects.The research also shows the seriousness of the consequences of this conception, for example, the updating of their inferiorized identities because they are considered a disposable population of the system, and the naturalization of social processes that deny these subjects in a disability situation to their right condition. KEY WORDS: Disability, Deprivation, Conception, Implications.
- 98. 97Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer CAPÍTULO VIII ENSINO MÉDIO NA AMÉRICA LATINA: IMPLICAÇÕES AOS SUJEITOS IDEALIZADOS – PROCESSOS EDUCATIVOS ________________________ Dayvison Bandeira de Moura Maria Aparecida Monteiro da Silva
- 99. 98Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer ENSINO MÉDIO NA AMÉRICA LATINA: IMPLICAÇÕES AOS SUJEITOS IDEALIZADOS – PROCESSOS EDUCATIVOS Dayvison Bandeira de Moura Secretaria de Educação de Pernambuco, Escola Estadual Ministro Jarbas Passarinho, Camaragibe, PE, BR.; Universidad Americana, Asunción – PY. Maria Aparecida Monteiro da Silva Universidad Americana, Universidad Colúmbia – PY; Universidade do Paraná – UNIPAR – BR. RESUMO: Este texto foi adaptado de tese em Ciências da Educação, apresentada na Universidade Americana, no dia 18/07 de 2017, em “Asunción”, PY. Utilizou-se a pesquisa documental (CELLARD, 2008), o documento utilizado - as Matrizes de Referência do Ensino Médio, 2003. Fez-se um recorte privilegiando dados de pesquisas do INEP e IBGE, e com análises descritivas de BERCOVICH, 1997, estabelecendo um quadro comparativo entre dados do Ensino Médio brasileiro e países da América Latina. Sob a intenção de contextualizar o panorama da Educação Básica na contemporaneidade. Os dados do documento situam a “onda de adolescentes” nas décadas de 1980, 1990, 2000, assinalando o panorama problemático os envolvendo. E, perspectivas, implicações até 2012. As matrículas, a sua não oferta ou oferta; a redução das mesmas representa para o estudo aqui desenvolvido reflexões acerca dos desafios à BNCC 2017 e o lugar reservado ao currículo. Preocupação que envolve à EJA, marcada por políticas curriculares dicotômicas. Atualmente, imprecisas, assinalando dúvidas quanto ao futuro do programa PROEJA, comum aos IF’s e escolas do sistema “S”. Alia-se a Sacristan (2013); o lugar da “pobreza”- estratégia cerceadora de direitos à Educação Básica. Arroyo (2000; 2014a, 2014b), versa a idealização de sujeitos no Ensino Médio, ênfase a EJA, ao acesso precário à formação técnica permitiu entender: os adultos e idosos de hoje são populações vitimadas pela “pobreza”, falta de políticas públicas desde o passado. Logo, os empobrecidos têm sido alvo e os jovens na atualidade sofrem esta tradição. Redimensionar essa realidade deve ser elemento na nova BNCC 2017. PALAVRAS-CHAVE: Currículo, Jovens, Pobreza, Negros, BNCC. 1. INTRODUÇÃO Neste artigo intenciona-se apresentar alguns dados presentes no documento Matrizes de Referência para o Ensino Médio, publicado em (2003), pelo INEP/MEC. O mesmo foi tomado como motivo de estudo no texto intitulado: Dados recentes
- 100. 99Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer sobre o Ensino Médio: Contextualizar para entender a necessidade de mudanças5. Tal opção se deve ao fato de elencar recortes de um estudo desenvolvido com base em outros argumentos, e concepções, presentes no texto original, uma vez que há outros objetivos à guisa do mesmo. Mas vale ressaltar, aquelas permitiram gerar uma interface que se coaduna com as previsões do grupo de trabalho para o qual o texto fora adaptado. Tal estudo foi desenvolvido com a intenção de contextualizar o panorama no qual esta área da Educação Básica está assentada, na contemporaneidade, uma vez que os dados disponibilizados pelo documento situam a “onda de adolescentes” compreendendo como marco temporal: 1980, 1990, 2000 para analisar o panorama problemático os envolvendo, perspectivando, implicações que incidiriam até 2012. Nesse interim, matrículas, sua não oferta ou oferta; a redução das mesmas, representam para o estudo aqui desenvolvido assim como, no texto original, elementos suscetíveis a reflexões acerca dos desafios que a BNCC 2017, em desenvolvimento precisa ter em foco, no tocante ao Ensino Médio, bem como, o lugar que será reservado ao currículo para a mesma modalidade em atenção à Educação de Jovens e Adultos lugar de onde tem ecoado discursos tão discrepantes, historicamente. E mais, assinalando consequências quanto ao futuro do programa PROEJA, comum aos institutos federais do Brasil e as escolas do sistema “S”, atualmente, imprecisas. Quanto à metodologia, utilizou-se a pesquisa documental (CELLARD, 2008), o documento utilizado – fonte primária - fora as Matrizes de Referência do Ensino Médio, 2003, formulado pelo INEP/MEC/BR. Foi objeto de estudo a totalidade do documento, mas neste recorte privilegiou-se dados de pesquisas do INEP em Parceria com o IBGE, bem como análises descritivas elaboradas por BERCOVICH, 1997, estabelecendo um quadro comparativo entre dados do Ensino Médio brasileiro e países da América Latina e América do Sul. 2 - RESULTADOS E DISCUSSÃO Realizar um estudo sobre a Base Nacional Curricular Comum, BNCC, pode ser explicado pelas efervescentes discussões que têm demovido setores institucionais do Brasil em torno de um debate que representou esforços muito grandes em todo 5 O mesmo integra aspectos pertinentes à revisão de literatura da tese de doutoramento no curso de Doutorado Acadêmico em Ciências da Educação, intitulada: Currículo de Língua Portuguesa e Cultura afrodescendente: perspectivas de leitura em cursos do PROEJA no Instituto Federal de Pernambuco (IFPE) – Ensino Médio defendida em 18/07/2017, em “Asunción”, capital do “Paraguay”, na “Universidad” Americana.
- 101. 100Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer território brasileiro. O que envolveu desde instituições públicas de ensino superior, privadas; também, a atuação de setores ligados ao executivo federal, no âmbito do Ministério da Educação, envolvendo ainda, órgãos de classe e a atuação engajada de professores de todo o território nacional que voluntariamente, participaram de consultas públicas a fim de que pudesse haver uma análise apreciativa, com vistas a serem realizadas modificações neste documento que representa um redirecionamento das intenções, dos objetivos que deverão passar a nortear a prática docente manifesta nas escolas do país. Por esse motivo, situar a necessidade de mudanças propostas pela BNCC é algo fundamental para contextualizar estudos e pesquisas com a proposta de delinear qual a concepção de professores e coordenadores em um instituto federal, no que diz respeito à concepção de leitura perspectivada à estudantes de Ensino Médio? Agregue-se a isso, o fato de serem egressos da modalidade de Educação de Jovens e Adultos – EJA. E, também, serem atendidos numa modalidade criada em 2006, o PROEJA, com a missão de ofertar um modelo de formação exatamente, em atenção às necessidades desta clientela. E mais, no Ensino Médio, momento de formação da educação básica nacional que registra números alarmantes em relação à sua exígua oferta e à sua não oferta, mesmo frente às suas demandas. Diante do exposto, se faz importante serem conhecidos alguns dados: “O Brasil continua apresentando a insignificante taxa líquida de 25% de escolaridade da população de 15 a 17/18 anos no Ensino Médio.6 ” (INEP, 1998 apud: Matrizes de Referência do Ensino Médio, 2003, p. 52, grifos do autor.). Se for levado em consideração a existência de muitos nesta faixa etária que estão retidos em face de reprovações em séries do Ensino Fundamental e ainda outros que se quer matriculam-se no Ensino Médio, em função de vários motivos, dentre esses se pode prever que o ingresso no trabalho formal ou informal representa parcela significativa. Isto tem sido, historicamente, condicionantes para exclusão. Uma vez que muitos estudantes de escolas públicas pertencem a famílias com situação financeira limitada. Dentre estas caberia delinear as que vivem abaixo da linha da pobreza, outras em pura miséria. Outro dado que merece atenção: A expectativa de crescimento do Ensino Médio é ainda reforçada pelo fenômeno chamado “onda de adolescentes”, identificado em recentes estudos demográficos: De fato, enquanto a geração dos adolescentes de 1990 era numericamente superior à geração de adolescentes de 1980 em 1 milhão de pessoas, as gerações de adolescentes em 1995 e 2000 serão maiores do que as gerações de 1985 e 1990 em 2,3 e 2,8 milhões de pessoas, respectivamente. No ano 2005, este incremento cairá para o nível de 500 mil pessoas, caracterizando o fim desta onda de adolescentes. (BERCOVICH, 1997 apud Matrizes de Referência do Ensino Médio, 2003, p. 52, grifos do autor.). 6 Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP), Plano Nacional de Educação - Proposta do Executivo ao Congresso Nacional, Brasília, MEC/INEP, 1998.
- 102. 101Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer É perceptível esta queda, em razão de suas implicações danosas à vida em sociedade, ao aumento da criminalidade, à redução da força de trabalho de uma população que passa a sofrer as consequências da ausência de políticas públicas coerentes. É mais do que significativo que os dados bem como o que se pode perspectivar a partir deles, deveria repercutir em ações institucionais para o enfrentamento dessa problemática, se tornasse uma agenda permanente. Mas, para atacar os elementos que motivam a ocorrência dessa queda do ingresso e permanência de adolescentes no Ensino Médio. Os números apresentados por “Bercovich” legitimam a preocupação desse estudo, bem como a sua relação para delinear perspectivas que interferem para o “molde operandis” com o qual estudos são realizados para estudantes classificados como “Educação de Jovens e Adultos7” – EJA, em curso PROEJA Ensino Médio8. Uma vez que, esta modalidade tem sofrido inúmeras alterações ao longo de sua história. Esta por sua vez, poucas vezes, teve estreita relação com a inclusão das classes e etnias mais excluídas historicamente9, nesse país, mais recentemente, desse país. Entre os grupos humanos mais cerceados do acesso quantitativo e qualitativo à EJA, estão negros, negras, indígenas, pobres que vivem em zonas periféricas, ausentes de políticas públicas condizentes ao retrato resultante dos processos históricos de subalternização sofridos10. Como então, haver pesquisar de caráter quantitativo, sobretudo, para 7 Todo planejamento educacional, para qualquer sociedade, tem de responder às marcas e aos valores dessa sociedade. Só assim é que pode funcionar o processo educativo, ora como força estabilizadora, ora como fator de mudança. Às vezes, preservando determinadas formas de cultura. Outras, interferindo no processo histórico, instrumentalmente. De qualquer modo, para ser autêntico, é necessário ao processo educativo que se ponha em ralação de organicidade com contextura da sociedade a que se aplica. (FREIRE apud BARBOSA, 2010, p. 53). 8 (...) “ gostaria que a escola proporcionasse um curso ao seu educando (a) que lhe permitisse entrar no mercado de trabalho? ”. Por isso temos que ser muito cuidadosos quando nos referimos ao “diálogo social”, ainda mais quando “verdadeiro”, como justificação para políticas que porventura possam pôr em causa princípios fundamentais como é o da igualdade de oportunidades. (MAGALHÃES, 2002, p. 64). 9 “ A humanização negada na injustiça, na exploração e na opressão, na violência dos opressores. Mas afirmada no anseio de liberdade e de justiça, de luta dos oprimidos, pela recuperação de sua humanidade roubada” Freire (p.30 apud: Arroyo, 2000, p. 247). 10 (...) que projecto de política educativa é este que parece discriminar as filhas e os filhos da classe trabalhadora (sobretudo), dificultando o seu acesso às condições necessárias para a igualdade de participação no mercado de trabalho e na sociedade pela criação de medidas como os currículos alternativos e cursos tecnológicos que não dão acesso ao ensino superior? (MAGALHÃES, 2002, p. 57).
- 103. 102Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer mensurar números de matrículas, de permanência ou evasão. Todavia, se levar em consideração os elementos determinantes. É, no mínimo ingenuidade política que isso não esteja atrelado às políticas públicas de Estado e de governo quantas vezes “cosméticas”. Pois, se houver uma contínua queda de oferta de matrículas para o Ensino Médio regular ou Médio associado à formação técnico profissional, seguramente, isso promoverá implicações imprevisíveis às sociedades futuras. Esta realidade colocará em xeque a sua civilidade, já tão escassa. Onde a violência psicológica perpetrada por agentes públicos e por seus porta-vozes disseminaram discursos eficazes para naturalizar à inferioridade de muitos, sob a profusão da superioridade de alguns. E, quando a violência chega a enraizar-se na consciência humana, isto ocorre porque ela a tornou naturalizada. Sendo natural as suas expressões físicas, mesmo quando o palco é a escola. Além dos dados já evocados, a exposição de outros números amplia a preocupação sobre os fatores que tenham relação com a incidência de uma queda cada vez maior no número de adolescentes, observem: [...] os números absolutos são enormes e dão uma ideia mais precisa do desafio educacional que o País enfrentará. Pela contagem da população realizada em 1996 (IBGE), em 1999 o Brasil terá 14.300.448 pessoas com idade entre 15 e 18 anos. Esse número cairá para a casa dos 13 milhões a partir de 2001, e para a casa dos 12 milhões a partir de 2007. No início da segunda década do próximo milênio (2012), depois do fenômeno da onda de adolescentes, o País ainda terá 12.079.520 jovens nessa faixa etária (BERCOVICH, 1997 apud Matrizes de Referência do Ensino Médio, 2003, p. 52, grifos do autor). Como se pode observar as cifras resultantes da pesquisa e das projeções realizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, oferecem subsídios para que haja um estado de alerta em relação a que fatores contribuem ou determinam esta queda tão significativa da população de jovens e adolescentes com idade de 15 a 18 anos de idade. O que requer das instituições comprometidas com a pesquisa, como as universidades do Brasil, ONG’S e outras instituições de classe possam olhar com atenção para a necessidade de estudos e pesquisas sejam voltados para que um esforço coletivo ocorra, a fim de serem apontados fatores esclarecedores, visando a identificação da gênese do problema, bem como medidas alternativas para fazer frente à este ataque à humanidade jovem, assim como fora comum ao passado vivido pelos agora, “maduros’ e idosos.
- 104. 103Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer Na busca pela mudança de postura, o ingresso no consumo e comércio de drogas legais e ilegais, o descaso familiar, o abandono, a pobreza11, o preconceito social, econômico e étnico racial representam fatores que aviltam a humanidade do humano e acabam, muitas vezes corrompendo-o, legando à condição de viver pela e para a barbárie. Entretanto, refletir sobre o planejamento, desenvolvimento e avaliação de resultados de estudos e pesquisas podem ajudar a encontrar alternativas e saídas para minimizar, quiçá enfrentar essa redução que atinge os nosso adolescentes e jovens. Hoje, já dividindo, as salas de aula da EJA com a clássica clientela sobrevivente de outros processos de barbárie. A própria sociedade brasileira sofrerá, como tem sofrido, as consequências dessa redução. É também prudente observar dados de outra pesquisa: [...] Conforme prossegue o estudo da Fundação SEADE12: Em 1992, cerca de 64% dos adolescentes já estavam fora da escola; em 1995, apenas três anos depois, este percentual já havia decrescido para algo em torno de 42%. Como consequência da maior permanência no sistema escolar, cresce de forma expressiva a proporção de adolescentes que avançam além dos quatro primeiros anos. O mesmo se dá, de alguma maneira, em relação à conclusão do primeiro grau e do segundo grau. (Matrizes de Referência do Ensino Médio, 2003, p. 53, grifos do autor.). É digno de nota: este dado sobre o crescimento da Fundação SEADE, apesar de sua necessidade de dados atualizados, não consegue apresentar um quadro tão 11 (...) entre as formas de científicas e não científicas de verdade, o que leva à invisibilidade de formas de conhecimento que não se encaixam nessa validade da forma legítima de conhecer: os conhecimentos dos leigos, plebeus, camponeses, afro-brasileiros ou indígenas são situados no outro lado da verdade, na inverdade. A partir da concepção abissal de conhecimento, considera-se que os pobres não produzem conhecimentos válidos, mas apenas reproduzem crenças, opiniões, magias, idolatrias, entendimentos intuitivos ou subjetivos que são incomensuráveis e incompreensíveis por não pertencerem aos cânones científicos de verdade. O pensamento moderno de que o currículo são síntese, acaba por bloquear conhecimentos (...). Logo, os currículos tendem a ignorar a pobreza, ao desconsiderar os (as) pobres como objeto de conhecimento e preocupação (...) pensá-los como sujeitos de conhecimento. (ARROYO, 2014b). 12 [...] o mencionado estudo, a onda de adolescentes acontece num momento de escassas oportunidades de trabalho e crescente competitividade pelos postos existentes. Na verdade, os dois fenômenos somados – escassez de emprego e aumento geracional de jovens – respondem pela expressiva diminuição, na população de adolescentes, da porcentagem dos que já fazem parte da população economicamente ativa. Este é um indicador a mais de que essa população vai tentar permanecer mais tempo no sistema de ensino, na expectativa de receber o preparo necessário para conseguir um emprego (opcit.).
- 105. 104Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer animador. Posto que esse percentual de 42% corresponde ao fundamental 2 e ao segundo (2º), grau, antiga denominação dada ao Ensino Médio. De modo que se ambas as etapas de estudo estão presentes na cifra de 42%, não se pode determinar então, em qual dos níveis, efetivamente, se deu esse avanço. Apesar que esse percentual possui uma distância temporal, um lapso temporal, muito grande se levarmos em consideração os dados anteriormente, apresentados por pesquisas sobre outros critérios. Mas, esta perspectivou o ano de 2012, como um indicativo para os números absolutos a que chegou o IBGE. Logo, a inclusão desses números se deu em razão deles estarem ventilados na fonte de referência utilizada: as Matrizes de Referência para o Ensino Médio, e, seguindo a ordem em que foram apresentados. Os dados da pesquisa colocam em evidência a responsabilidade do Estado brasileiro, das instituições comprometidas com a pesquisa acadêmica na área de educação, bem como demais áreas afins, sobretudo, as que têm e podem realizar estudos e pesquisas interdisciplinares, multidisciplinares para de modo conjunto enfrentarem esta problemática que afeta aos nossos jovens, e, carecendo, portanto, de medidas para gerenciar não apenas o problema. Mais que isso, a busca por soluções para eliminar os fatores que determinam ou contribuem para a existência de uma realidade que tanto marginaliza adolescentes e jovens, justamente, no momento em que deveriam estar sendo preparados para ingressar numa vida economicamente, ativa. Em ampliação ao quadro que está sendo construído, relacionando adolescentes e jovens e sua relação com o ingresso, a existência de matrículas realizadas, ou ainda da oferta das mesmas, no Ensino Médio, outros dados são também, reveladores. A capacidade do País para atender essa demanda é muito limitada. Menos de 50% de toda a população de 15 a 17 anos está matriculada na escola e, destes, metade ainda está no Ensino Fundamental. Segundo os dados da UNESCO, o Brasil tem uma das mais baixas taxas de matrícula bruta nessa faixa etária, comparada à de vários países da América Latina, para não dizer da Europa, América do Norte ou Ásia. (SCHWARTZMAN, 1991 apud Matrizes de Referência do Ensino Médio, 2003, p. 53, grifos do autor). A constatação acima é muito preocupante quando encarada do ponto de vista da cifra apresentada, ou quando se pensa sobre a mesma pois, em verdade, é possível dividir esse percentual, uma vez que a faixa etária indicada 15 a 17 anos uma parte não precisada na informação expressa pelo INEP, que é o órgão responsável pelo planejamento e elaboração das Matrizes de Referência que parte desse percentual informado pela UNESCO se encontra ainda em séries do Ensino Fundamental. O que quer dizer: as implicações, bem como a extensão e gravidade do dado apresentado é ainda maior quando se o avalia e o problematiza qualitativamente. Postura crítica que apenas, amplia este problema social.
- 106. 105Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer É prudente também, ser observado os dados fornecidos pela fonte consultada sobre os países Latino Americanos13 e os membros do Mercosul: No continente latino-americano, os países que têm uma taxa bruta de matrícula da população de 14 a 17 anos menor que a brasileira concentram-se na América Central: Costa Rica, Nicarágua, República Dominicana, Honduras, Haiti, El Salvador e Guatemala. Entre os que, desde 95, ultrapassavam os 50%, estão Peru, Colômbia, México e Equador. Dos parceiros do Mercosul, apenas Paraguai e Bolívia têm situação pior: 37% e 40%, respectivamente. Argentina (76%), Chile (73%) e Uruguai (81%) estão melhores que os “tigres asiáticos” (72%) e caminham para alcançar a média dos países desenvolvidos (90%) (Matrizes de Referência do Ensino Médio, 2003, p. 53, grifos do autor.). Ao pensar criticamente sobre estas cifras, as mesmas não chegam a causar um alívio no leitor ou que elas pudessem denotar um sucesso real quanto à adoção de políticas públicas em educação que tivesse ampliado a oferta e a qualidade dos cursos de Ensino Médio oferecidos no Brasil, do ponto de vista, sobretudo, público. Isso não signifique não reconhecer a existência de avanços. Contudo, estes estão longe de visibilizar a manifestação da racionalidade de políticas públicas em sintonia com a “ dignidade da pessoa humana; a erradicação da pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais” (ACQUAVIVA, 1998, p.45), como sendo resultado de princípios do Estado brasileiro. Para desenvolver tal raciocínio, será levado em consideração o fato explicitado de que o Brasil se encontra em “situação melhor” já que países como o Paraguai e a Bolívia têm cifra na ordem de 37% e 40% por cento de estudantes matriculados no Ensino Médio. Entretanto, considere-se que: o tamanho de cada um desses países; a força de sua economia; a características dos empregos; o nível de desenvolvimento social; a característica de suas indústrias; o uso de tecnologias, do Produto Interno Bruto – PIB14 utilizado para educação. São fatores que precisam ser considerados seriamente, antes que sejam comparados dados estatísticos sem que o contexto social, político, histórico e as condições de cada um implementar seus programas e desta feita, lograr os êxitos perspectivados. Ainda se agregue à esta análise o tamanho desses países, o número da população, inclusive a economicamente ativa formal e informalmente, bem como a qualificação 13 Esse desequilíbrio se explica também por décadas de crescimento econômico excludente, que aprofundou a fratura social e produziu a pior distribuição de renda do mundo. A esse padrão de crescimento associa-se uma desigualdade educacional que transformou em privilégio o acesso a um nível de ensino cuja universalização é hoje considerada estratégica para a competitividade econômica e o exercício da cidadania. (Matrizes de Referência do Ensino Médio, 2003, p. 53, grifos do autor). 14 A sigla se refere a geração de riquezas durante um ano por uma país.
- 107. 106Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer profissional que possuem e, sua adesão ao mercado, dentre outros elementos. E, desta feita, comparar todos esses fatores aos mesmos fatores do Brasil. Então, será, no mínimo necessário reconhecer que os esforços empreendidos nestes países têm sido incomensuravelmente maiores que o do Brasil, no que diz respeito à aplicação de recursos para a infra estruturação de capacidades logísticas para o desenvolvimento, ampliação e manutenção de sua educação básica. Cada país vive os seus desafios, porém, cada contexto nacional requer um estudo acurado a fim de que seja compreendido, explicado, muitas vezes não justificado, os motivos para a adoção de uma determinada política para o Ensino Médio em um Estado. Como no Brasil, onde ele ou fora alijado de prioridade para as políticas públicas, tenha sofrido um desmonte, entrecortado por engodos e discursos demagógicos que geram o recrudescimento e miniaturização de suas possibilidades. Quantos já foram os discursos e políticas públicas voltadas para o Ensino Médio brasileiro, nosso antigo 2º grau? E qual as implicações das escolhas feitas pelo governo quando não é levado em consideração um modelo de desenvolvimento que não gere mais exclusão, mais pobreza15, em face de uma oferta de formação desproporcional à demanda reprimida16? Imagine quando a demanda reprimida, representa grupos humanos desfavorecidos, cujas necessidades são ignoradas, e isso acabará, promovendo uma progressão aritmética excludente, como a que tem sido assinalada no Brasil, agora e piorará? Se depois de todos esses fatores, ainda for levado em consideração a quantidade de aspectos que oneram o salário do trabalhador, bem como os demais impostos que compõem a arrecadação tributária do Brasil, em relação aos países que estão atrás dele. Por sua vez, se avalie e sejam comparadas as políticas públicas que permitiram aos mesmos lograrem: 37% e 40% (Paraguay e Bolívia), que os colocaram atrás do citado país, em relação às “matrículas” para o Ensino Médio. Porém, seja reiterado: as condições econômicas e sociais dos mesmos precisam ser levadas em consideração. De modo que estarem Paraguai 13% por cento atrás do 15 (...) Boaventura de Sousa Santos (2009) prossegue recordando que essa realidade é tão verdadeira hoje como era no período colonial. O pensamento moderno ocidental (poderíamos incluir o pensamento educacional e curricular) continua operando mediante linhas abissais que dividem e separam o mundo humano do subumano, de tal forma que os princípios de humanidade não são efetivados para todos. Isso fica evidente com as desumanizações sexuais, sociais, territoriais, étnicas e raciais, ou mesmo em forma de pobreza, violência, nova escravidão, trabalho e prostituição infantil etc. (ARROYO, 2014b, p. 19). 16 (...) “ a renda dos pobres tende a variar consideravelmente de ano em ano e de estação a estação no contexto do ano, dependo do tempo de outros acidentes” (STREETEN, 1995, p. 30). Além disso, há outra condição de tempo a ser levada em conta: a falta ou ausência absoluta de esperança de mudar sua situação no futurismo podem tornar os indivíduos ou resignados ou violentos. (PINZANI, 2014, p. 24).
- 108. 107Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer Brasil e a Bolívia 10% revela a necessidade de estudo sobre a proporcionalidade comum à realidade e condições de cada Estado, de qualquer maneira, tais dados colocam a realidade brasileira como uma carente de sérios ajustes por parte de ações públicas do executivo nacional. Isso quando se traz à tona o PIB do Brasil, suas condições de desenvolvimento, seu papel no cenário latino americano e sul americano, mesmo entendo o número proporcionalmente maior que a dos países tomados como argumento de comparação. Enfim, depois uma detida atenção aos dados disponibilizados no documento produzido pelo INEP/MEC/BR, em 2003, muito embora, tais dados foram acessados na base no MEC, nos dias 27/28 do mês fevereiro e, 01 do 03, mês de março de 2017. Essa decisão se deu em razão de que esses dentre outros estudos forma insistentemente, estudados no sentido de perspectivar parâmetros para a realização de pesquisa de campo: entrevista semiestruturada, por meio do instrumento: questionário com perguntas abertas, logicamente, sob a abordagem qualitativa, realizada término de abril e início de maio 2017, no IFPE Campus Recife. Os sujeitos da pesquisa professores17 e coordenadores18 que atuavam nos cursos do PROEJA. Tal decisão se deu em razão das inúmeras transformações, discussões, opiniões dispares sobre as mudanças a serem implementadas no Ensino Médio, a partir do ano corrente, denominadas pelo governo executivo do Brasil como: “Novo Ensino Médio19”. As definições que incidirão, precisamente, sobre esta etapa de formação que possui uma história marcadas por incongruências, oferta exígua e não oferta por motivos como a não existências de escolas, sobretudo em zonas rurais20. Ao passe que as escolas situadas em zonas urbanas do Brasil, a oferta de vagas para o Ensino Médio tem sido menor do que a procura. Independentemente, dessa disfunção ocorrer por inúmeros condicionantes, e estes apresentem uma relatividade que também, merece estudo, o fato indubitável é que esta etapa culminante da Educação básica e sua história fora marcada por fatos que restringiram sua oferta, acesso, permanência e desenvolvimento sob currículos que se coadunam com as necessidades locais, regionais ou nacionais. Outro fato que merece atenção: desde à Constituição da República Federativa do Brasil – CF, de 1988, não haver previsão clara para a aplicação de recursos financeiros para o desenvolvimento, expansão e, em tempo, universalização do Ensino Médio, também, contribuiu para uma história de distorções. Incialmente, a 17 Professores de Língua Portuguesa, de Língua Inglesa, de Refrigeração, de Mecânica, de Matemática. 18 Coordenadores de Língua Portuguesa, de Refrigeração, de Mecânica, Pedagógico. 19 Até período de realização da entrevista semiestruturada, de sua codificação, em razão da Análise de Conteúdo conforme as previsões de Bardin (2011), análise e considerações finais, não havia sido publicado a formalização do Novo Ensino Médio, por parte do Ministério da Educação do Brasil. 20 Muitas destas oferecerem apenas, as séries iniciais do Ensino Fundamental.
- 109. 108Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer legislação FUNDEF (Fundo Nacional da Educação Básica ), previa recursos do orçamento federal, apenas, para o Ensino Fundamental. De modo que, o Ensino Médio percebia parte dos recursos, exclusivamente, voltados para a etapa anterior, promovendo, evidentemente, um desequilíbrio e implicações para a gestão dos recursos disponíveis. Posteriormente, os cinco (05), anos em que foi definido o período para que a CF/ 1988, ter seus efeitos consolidados e irrevogáveis21. Então, setores do executivo federal e do legislativo federal reuniram esforços e estudos para elaborarem uma legislação federal que vislumbrasse a previsão de recursos, no âmbito do orçamento federal enquanto política de Estado, voltadas ao Ensino Médio e à Educação Infantil, esta legislação foi denominada como FUNDEB22 e entrou em exercício desde janeiro de 2007. Este panorama legal permite que este estudo não se detenha num discurso cunhado num olhar unicamente, acadêmico. Isto porque isso não seria coerente, já que os resultados que serão alcançados com essa pesquisa visam não apenas nortear um alargamento das percepções críticas sobre a temática de desenvolvimento do Ensino Médio em âmbito acadêmico. Mas também, que seja possível conseguir ser estabelecido um diálogo propositivo com instituições públicas com foro na gestão, planejamento, desenvolvimento e fiscalização do ideal funcionamento e infra estruturação do Ensino Médio. Logo, convém, ressaltar: não é intenção dos estudos e pesquisas que comporão esta tese, assumirem um papel, apenas enumerador de problemas. Longe disso, se espera que seja possível dimensionar ações para visibilizar alternativas exequíveis, no que concerne à adoção de leituras com vistas aos gêneros que foram ou deveriam ser elencados para perspectivar o que concerne às Diretrizes Curriculares Étnico Raciais (2004/2013) em razão de seu papel adjetivo aos artigos 26º e 26º A da Lei de Diretrizes e Bases da Educação – 9394/1996. 3 - CONCLUSÕES E REFERÊNCIAS Quando foi definido que este estudo dimensionaria o registro de números alarmantes em relação à exígua oferta ou, à não oferta de vagas, frente à demanda relacionada ao Ensino Médio, acabou destacar a necessidade de atenção para a mudança das distorções e implicações decorrentes desse cenário. Fato que também, envolve assumir uma postura responsiva das autoridades dos Estados ligados à pesquisa, frente à seriedade dos quadros envolvidos na oferta dessa modalidade da educação nacional. Que estas possam de fato, fazer com que o estudo apoiado nos dados que se resolveu aqui parafrasear, possa sensibilizar os leitores do estudo aqui resultante daquele, sobre a importância desse assunto. E, portanto, os motivar ao ingresso nesse debate, de modo responsivo, a fim de que se possa reunir esforços 21 Isso diz respeito às cláusulas Pétreas. 22 Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica.
- 110. 109Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer para alterar positivamente, esse grave cerceamento à educação formal, na última etapa da “educação básica”. Com efeito a reflexão sobre a análise dos dados quantitativos possa despertar outros estudos, bem como novas pesquisas, sobretudo, na área de educação e áreas correlatas a ampliar sua compreensão e, também, as consequências que advém da manutenção dessa prática histórica: a ausência de políticas públicas eficazes que promovam a inclusão de classes subalternizadas em face de sua diferença ou pertencimento étnico cultural. Algo tão comum à América Latina, do Sul onde a assimilação fora um traço para o amordaçamento. REFERÊNCIAS ARROYO, M. G. Módulo Introdutório: pobreza, desigualdades e educação. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão, 2014a. ARROYO, M. G. Módulo IV: pobreza e currículo: uma complexa articulação. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão, 2014b. ARROYO, M. G. Ofício de Mestre: imagens e auto-imagens. Petrópolis, RJ: Vozes, 2000. p. 238-251. ARROYO, M. G. Os coletivos empobrecidos repolitilizam os currículos. In: GIMENO SACRISTÁN, José (Org.). Saberes e incertezas sobre o currículo. Porto Alegre: Penso, 2013. BRASIL. Matrizes de Referências ENEM. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP/MEC/BR, (p. 01-04). Disponível em: http://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/downloads/2012/matriz_ref erencia_enem.pdf, acesso em 26; 27; 28/02/2017. BERCOVICH, A. M.; MADEIRA, F. R.; TORRES, H. G. Mapeando a situação do adolescente no Brasil. São Paulo: Fundação SEADE, 1997. (versão preliminar). MAGALHÃES, Antônio M. A Escola para Todos e a Excelência Acadêmica. PINZANI, A.; REGO, W. L. Módulo I: pobreza e cidadania. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão, [2014]. MOURA, Dayvison Bandeira de. Currículo de Língua Portuguesa e Cultura afrodescendente: perspectivas de leitura em cursos do PROEJA no Instituto Federal
- 111. 110Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer de Pernambuco (IFPE) – Ensino Médio / Dayvison Bandeira de Moura. – Assunção, 2017. 368 f.; 30 cm. Orientador: Maria Aparecida Monteiro da Silva. Tese (Doutorado em Ciências da Educação) –Universidade Americana, 2017. (p. 118 – 127).
- 112. 111Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer CAPÍTULO IX FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR VERSUS ORÇAMENTOS PÚBLICOS: UMA ANÁLISE DOS ORÇAMENTOS DAS UNIVERSIDADES ESTADUAIS BAIANAS ________________________ Marta Rosa Farias de Almeida Miranda Silva
- 113. 112Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR VERSUS ORÇAMENTOS PÚBLICOS: UMA ANÁLISE DOS ORÇAMENTOS DAS UNIVERSIDADES ESTADUAIS BAIANAS Marta Rosa Farias de Almeida Miranda Silva Universidade do Estado da Bahia (Uneb)/ Doutorado em Educação e Contemporaneidade (PPGEduC) mmiranda@uneb.br; martarmiranda@gmail.com; RESUMO: O artigo tem por objetivo apresentar estudo sobre o financiamento da educação superior pública na Bahia evidenciando como a Educação insere-se na estrutura das Leis Orçamentárias Anuais do Estado da Bahia no período de 2014 a 2016. Para esse fim, fizemos uma revisão dos aspectos relativos aos orçamentos públicos em educação, levantamos e analisamos os dados sobre a evolução dos recursos alocados às Universidades Estaduais Baianas (UEBA). O tema insere-se no campo da política educacional e, mais especificamente, aos estudos sobre o financiamento da educação superior, buscando apresentar dados acerca da alocação dos recursos públicos diretos destinados aos orçamentos das Universidades Públicas Estaduais Baianas. Apresenta resultados preliminares de estudos exploratórios, bibliográficos e documentais. Os dados evidenciam um cenário de grandes desafios para as Instituições Estaduais Públicas de Educação Superior no que se refere ao modelo de financiamento e aos recursos orçamentários frente a elevada prevalência dos desembolsos com pessoal e encargos, estagnação dos recursos alocados às outros custos correntes e consequentemente, à baixa capacidade de investimentos. PALAVRAS-CHAVE: Educação Superior, Financiamento, Orçamento. 1. INTRODUÇÃO A análise dos números dos orçamentos e das contas gerais do governo brasileiro tem demonstrado que a previsão e o gasto em educação têm crescido; também se observa que, possivelmente, tais recursos ainda são insuficientes frente a problemas estruturais dos sistemas educacionais. Diante desse cenário, este estudo destaca que o quantitativo e o qualitativo dos investimentos em educação precisam ser reavaliados e redirecionados identificando-se critérios que orientem a sua otimização, com relação à abrangência e resultados, por exemplo. Sob esta perspectiva, o tema insere-se no campo da política da educação superior e, mais especificamente, aos estudos sobre o financiamento da educação, buscando apresentar dados acerca da alocação dos recursos públicos destinados aos orçamentos das Universidades Públicas Estaduais Baianas. Assim, o artigo foi construído com o objetivo evidenciar como a Educação Superior se insere na estrutura das Leis Orçamentárias Anuais do Estado da Bahia no período de 2014 a 2016. Levantamos e analisamos os dados inerentes aos recursos do Tesouro do Estado, entendidos para fins deste estudo, como o volume total de recursos alocados aos orçamentos anuais, excluídos os recursos de
- 114. 113Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer Outras Fontes, apresentando resultados preliminares de estudos exploratórios, bibliográficos e documentais. Consideramos que existem uma série de razões que justificam o estudo. A abordagem tratada é relevante e atual. Relevante porque pesquisas evidenciam a ausência de textos que tenham como foco central o estudo sobre alocação de recursos às UEBA. Atual frente à baixa densidade discursiva sobre um assunto de extrema relevância para a compreensão das políticas educacionais, em especial da situação vivenciada na Educação Superior pública, indicando a dificuldade na realização de pesquisas dessa natureza e a necessidade de formação de pesquisadores que detenham esse tipo de conhecimento específico. É atual também, porque as estatísticas educacionais e os debates em torno da ampliação da vinculação de recursos e investimentos em educação, do desempenho das instituições públicas de ensino superior, qualidade do gasto e do custo por aluno estão na pauta das discussões, nos movimentos e mobilizações sociais, nas manchetes, nos gabinetes dos governantes, nas universidades e nos institutos de pesquisa. Tanto a Constituição Federal quanto as Estaduais contemplam disposições que determinam a aplicação de recursos específicos aos diversos níveis educacionais todavia, os parâmetros e regras à distribuição, bem como às formas de aplicação e avaliação de resultados são escassas. 2. INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO NO SETOR PÚBLICO Os temas planejamento, orçamento e gestão passaram a ter mais relevância a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988. O artigo 165 da Carta Constitucional de 1988 define o processo orçamentário estabelecendo como instrumentos de planejamento governamental, a Lei do Plano Plurianual (PPA), a Lei das Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei do Orçamento Anual (LOA). O PPA e LDO são instrumentos definidores dos parâmetros e diretrizes para a elaboração e execução da LOA. O planejamento no Setor Público tem no Orçamento um dos seus mais relevantes instrumentos desafiador, isso porque que revela as políticas públicas, as decisões em prol da prestação de serviços aos cidadãos, bem como o nível de prioridade da ação governamental. O estudo dos processos e instrumentos e planejamento do setor público, em especial do orçamento público, transformou-se em preocupação recorrente de pesquisadores. A partir dos orçamentos pode-se identificar, entre outras informações, o processo de tomada de decisão e as políticas públicas priorizadas. O orçamento público, na concepção de Vian, Mello e Boeira (2002. p. 14-15), é um instrumento que expressa, para um exercício financeiro, as políticas, os programas e os meios para respectivo financiamento, que, enquanto plano de trabalho do governo, discrimina os objetivos e as metas a serem alcançadas, de acordo com as necessidades locais. Dessa forma, de acordo com os autores, se quisermos saber como cada ente governamental prioriza ou não determinada
- 115. 114Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer política pública, o termômetro é o orçamento, tendo em vista que este se constitui em documento o qual espelha e demonstra as prioridades, e os aspectos econômico, político e social. Trata-se, portanto, o orçamento, de um instrumento de planejamento que espelha as decisões políticas, estabelecendo as ações prioritárias para o atendimento das demandas da sociedade. A complexidade da linguagem orçamentária, em especial para o cidadão comum, gera uma diversidade de dificuldades e limitações a pesquisas desta natureza. A análise dos orçamentos públicos exige conhecer, entender e interpretar a agregação dos distintos códigos e seus significados que são implementadas por meio de um sistema de classificação que se destina a atender às exigências de informação demandadas por todos os interessados nas questões das finanças públicas. 3. ORÇAMENTO EM EDUCAÇÃO NA BAHIA A Constituição Federal de 1988 trata do financiamento da educação de modo bastante incisivo. O artigo 212 define a estrutura do financiamento da educação, na medida em que determina a aplicação de percentuais mínimos. Os percentuais mínimos de aplicação à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE) são de 18% para a União e 25% para os Estados e Municípios, da receita resultante de impostos. Saviani (2010) salienta que: a Constituição Federal de 1988 incorporou várias das reivindicações relativas ao ensino superior. Consagrou a autonomia universitária, estabeleceu a indissociabilidade entre ensino pesquisa e extensão, garantiu a gratuidade nos estabelecimentos oficiais, assegurou o ingresso por concurso público e o regime jurídico único. Nesse contexto a demanda dos dirigentes de instituições de ensino superior públicas e de seu corpo docente encaminhou-se na direção de uma dotação orçamentária que viabilizasse o exercício pleno da autonomia e, da parte dos alunos e da sociedade, de modo geral, o que se passou a reivindicar foi a expansão das vagas das universidades públicas. (SAVIANI, 2010, p.10). No modelo Brasileiro, as fontes de financiamento da educação estão claramente identificadas na Constituição Federal e Constituições Estaduais, além das Leis Orgânicas dos municípios. A análise das contas gerais do governo brasileiro mostra que o orçamento e a aplicação dos recursos públicos em educação têm crescido. Dados recentemente divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), demonstram que o investimento público total em educação chegou, em 2014, a 6,00% do Produto Interno Bruto (PIB). O patamar ficou estável em relação ao ano anterior 2013. A maior parte dos recursos – 4,9% do PIB – foi aplicada na educação básica, etapa que compreende a educação infantil, o ensino fundamental e o médio. O investimento no ensino superior correspondeu a 1,2% do PIB. No caso da Bahia analisamos a origem e evolução do comportamento dos recursos alocados aos orçamentos anuais destinados à Educação estudando-
- 116. 115Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer se a trajetória da configuração e composição dos orçamentos do Estado entre o anos de 2014 a 2016 evidenciando a participação da educação no Orçamento Geral do Estado no período. Na análise dos dados quantitativos da participação da Função Educação no orçamento inicial do Estado, considerando exclusivamente os recursos do tesouro no ano de 2014, esta correspondia a 16,00%. Em 2015, 15,22%; e em 2016, 14,62% evidenciando uma redução de -1,38% (2014 x 2016) no percentual de participação da Função, contrapondo-se ao fato de que, no mesmo período, o orçamento global do Estado teve um acréscimo de 15,71%. Esses dados são preocupantes e instigadores considerando que o orçamento se constitui em ferramenta para análise de planejamento e execução de políticas públicas e evidencia como cada ente governamental estabelece as áreas prioritárias de atuação no contexto de determinada política pública. Entre os objetivos deste estudo um se configura desafiador, isso porque busca inspirar e convidar os leitores a discutir acerca do que os números do orçamento público traduzem e refletem sobre a realidade e o que pensam os governantes com relação às diversas políticas públicas. 4.ORÇAMENTO DAS UNIVERSIDADES ESTADUAIS BAIANAS: FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR NA BAHIA Para Velloso (2000. p. 50 e 51) “o principal traço distintivo do financiamento da educação brasileira certamente é a vinculação de receitas de impostos” na forma definida na CF 1988. De acordo com o autor no Brasil convivem basicamente, três formas de destinação de verbas públicas a educação superior, quais sejam: incremental ou inercial, contrato de gestão e fórmulas. Na incremental ou inercial as verbas são destinadas num determinado ano com base nos recursos orçamentários do exercício anterior. No contrato de gestão, o recurso é alocado considerando o estabelecido em acordo entre a instituição e o Estado visando o cumprimento de programas, objetivos e metas. A fórmula tem um componente de necessidades e outro de desempenho gerando ranqueamento das instituições que baliza a alocação dos recursos. O financiamento da educação no Brasil, assim como as políticas de vinculação de recursos à educação, atendem a princípios constitucionais e encontram-se profundamente vinculados à arrecadação de impostos. Todavia ainda se verifica carência de dispositivos que tratem da matéria com maior clareza. Sobre esse enfoque, Amaral (2008) explana: Houve, entretanto, na origem das IFES, uma indefinição sobre as regras de seu financiamento. Não houve a vinculação de patrimônio, nem a constituição de fundos que garantissem a continuidade de recursos financeiros para a manutenção e o desenvolvimento das instituições. A obrigatoriedade do financiamento público ficou estabelecida em instrumentos legais da época, sem, entretanto, definir-se concretamente como seria o cumprimento dessa norma legal. (AMARAL, 2008. p. 12).
- 117. 116Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer De acordo com Schwartzman (2003, p.20), “algumas universidades têm seu orçamento vinculado ao do Estado (Santa Catarina, Pernambuco, Rio de Janeiro) ou a um determinado imposto como o ICMS (caso do sistema paulista)”. O autor enfatiza que certa previsibilidade orçamentária, se caracteriza como vantagem do sistema paulista de financiamento, mesmo que sujeita às variações econômicas. No caso da Bahia, a Constituição Estadual não trata especificamente de percentual da receita de impostos a ser aplicado na educação, obrigando-se, portanto, somente ao que está estabelecido no artigo 212 da Carta Federal de 1988 (no mínimo 25%), estabelecendo, todavia, no seu artigo 265 que “as instituições estaduais de pesquisa, universidades, institutos e fundações terão sua manutenção garantida pelo Estado” (BAHIA, 1989). O financiamento das quatro universidades estaduais baianas tem sido tema de discussão da comunidade acadêmica e da sociedade em geral. Toma-se a Receita de Impostos Líquida (RIL) como base de cálculo para o cumprimento ao artigo 212 da CF. O debate centra-se na meta de subvinculação de 7% da RLI, com revisão a cada dois anos, com o orçamento do exercício financeiro seguinte nunca inferior ao executado nos anos anteriores. Para analisar aspectos inerentes aos orçamentos em Educação Superior na Bahia é indispensável conhecer, mesmo que de forma breve, o Sistema Estadual de Educação Superior de forma a compreender a sua institucionalidade. Até 2004, o setor público baiano contava com seis instituições, duas federais (Ufba e Cefet, hoje Ifba) e quatro estaduais (Uneb, Uesb, Uesc e Uefs). A expansão do Educação Superior pública na Bahia inicia-se em 2005, com a implantação da Universidade Federal do Recôncavo Baiano (UFRB), passando o estado a contar com sete IES públicas. Em 2010 tem-se o Instituto Federal Baiano; em 2013, a Universidade Federal do Oeste da Bahia (Ufoba); e em 2014, a Universidade Federal do Sul da Bahia (Ufesba). Embora desde o século XIX o estado da Bahia fosse responsável por Instituições Públicas de Ensino Superior, concretamente o sistema estadual de educação superior começou a se constituir no final da década de 1960, quando o governo do estado se responsabiliza pela criação de faculdades isoladas no interior. A política de expansão do ensino superior do governo baiano se fortalece em 1980 com criação e implantação de 4 (quatro) universidades públicas estaduais: duas multicampi (Uneb e Uesb) e duas em municípios considerados estratégicos Feira de Santana (Uefs) e Itabuna e Ilhéus (Uesc). Neste cenário, estrutura-se, na Bahia, um sistema formado por 4 (quatro) Universidades Estaduais: a primeira, a Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) criada em 1970; a segunda, a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb), em 1980; a terceira, a Universidade do Estado da Bahia (Uneb), em 1983; e, por fim, a Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc), em 1993.
- 118. 117Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer 5.- ORÇAMENTOS DAS UNIVERSIDADES ESTADUAIS BAIANAS: CONFIGURAÇÃO E COMPOSIÇÃO 2014 A 2016 Apesar da importância estratégica da Educação responder à questão de quanto um país, uma região ou um Estado investe nesta área de atuação do governo é um grande desafio tendo em vista, muitas vezes, informações insuficientes, no que tange à disponibilidade, acessibilidade e à linguagem codificada de difícil leitura e tradução Os processos de planejamento e orçamento públicos transcendem os aspectos meramente numéricos. Assim, de acordo com Pereira (2009),“as questões orçamentárias ultrapassam o viés único de alocação matemática (despesa/receita pública)”, salientando que “não basta utilizar o dinheiro público de forma a atingir um mero equilíbrio financeiro”, tendo em vista que a demanda do cidadão e da sociedade em geral “não é apenas financeira, mas principalmente social”. (PEREIRA, 2009, p. 359-361). Nesse sentido, o volume de recursos alocados aos orçamentos em educação pode ser utilizado para se fazer uma comparação de como os diversos países valorizam a educação de sua população. Gatti (2004, p.13) enfatiza que, “no cenário das pesquisas em educação, há problemas educacionais que, para sua contextualização e compreensão necessitam ser qualificados através de dados quantitativos” A autora considera ainda que “estes estudos dependem de exame detalhado de dados quantitativos, com domínio da contabilidade pública e sua legislação” afirmando quanto a necessidade da tradução, análise e tratamento adequados dos dados neste tipo de pesquisa “pois, em bruto, pouco informam. Nessa área, infelizmente, poucos estudos analíticos são feitos”. (GATTI, 2004, p.13). É nesse contexto que se insere o objeto do presente artigo, evidenciando que o campo educação, planejamento e orçamento no setor público é amplo, instigador, desafiador e aberto à investigação. Assim, com este artigo, acreditamos estar contribuindo para fomentar esse debate. Na Bahia tem-se caracterizado a prevalência da utilização do modelo tradicional de financiamento. A cada exercício financeiro, por ocasião do período e processo de elaboração da Lei Orçamentária Anual, as UEBA recebem as denominadas cotas com a participação de cada Universidade no percentual da receita apurada para cada ano. Conforme sinaliza Miranda, (2013, p.167), o rateio da cota orçamentária prevista para cada universidade é definida em acordo com o Fórum de Reitores das UEBA. Na análise da participação percentual, de cada uma das instituições, no valor global da cota destinada as Universidades, no período de 2004 a 2013, a autora verificou certa linearidade, tendo sido apurado, no período, as seguintes médias: Uefs: 23,64%; Uesb: 20,61%; Uesc: 17,23%; e Uneb: 38,51%. A importância, portanto, do debate sobre o financiamento e orçamento das UEBA, dentro e fora dessas IES, fundamenta-se, entre outros aspectos, na necessidade, não apenas de repensar ou redefinir o modelo de financiamento, a ampliação do percentual da RLI destinado aos orçamentos de cada umas das
- 119. 118Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer UEBA, os critérios que determinam a proporcionalidade do orçamento entre as universidades ou ainda de subsidiar a política pública em Educação Superior na Bahia, mas, principalmente de evidenciar qual grau de prioridade do governo para a Educação Superior ofertada pelas Universidades Públicas Estaduais Baianas. Há, portanto, a necessidade de se ir além, de se entender os mecanismos que se situam por detrás dos discursos, do contido nas peças orçamentárias, nos relatórios e planos de governo. Tais questões agravam os problemas da análise dos investimentos em educação, tendo em vista os critérios de alocação, o contingenciamento, o atraso nas liberações financeiras, os fins específicos a que se destinam e a forma como são administrados os recursos. Sob esta perspectiva o presente artigo busca contribuir para a ampliação e aprofundamento dos estudos e debates sobre o tema. Conforme dados das Leis Orçamentárias Anuais 2014 a 2016, foram destinados 4,92% em 2014 e em 2015 e 2016, 5% da RIL para o financiamento das UEBA. Tabela 01– Orçamento Universidades Estaduais / Recursos do Tesouro – 2014 a 2016 UNIVERSIDADE 2014 % 2015 % 2016 % UNEB 397.533.000 39 438.240.000 39 476.052.000 39 UEFS 224.494.000 22 247.495.000 22 268.542.000 22 UESC 183.830.000 18 202.566.000 18 219.717.000 18 UESB 215.634.000 21 237.699.000 21 256.336.000 21 TOTAL 1.021.491.000 100 1.126.000.000 100 1.220.647.000 100 Fonte: Leis Orçamentárias Anuais, 2014 – 2016. Disponível em: http://www.seplan.ba.gov.br/planejamento/instrumentos- orcamentarios. Acessado em: Dezembro.2016. Elaborado pela autora. Analisando a participação de cada uma das Universidades no orçamento global tem-se mantida a linearidade com a absoluta ausência de oscilação aos percentuais. Diante dos números emerge o seguinte questionamento: Os indicadores em educação superior na Bahia permaneceram, no período de 2014 a 2016, sem alteração em sua estrutura, funcionamento e oferta? As carências das UEBA foram supridas e as demandas atendidas, justificando assim a linearidade da participação nos investimentos? Mais uma vez o dado chama atenção porque se apresenta contraditório ao evidenciado em relatórios disponibilizados nas páginas das respectivas instituições, bem como no Relatório Anual de Governo (RAG). É possível destacar no período pesquisado, segundo dados dos relatórios a ampliação da oferta de vagas e matrículas em cursos de graduação, pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) e lato sensu (especialização); a graduação presencial em de 2015 ofertou 11,3 mil novas vagas, distribuído em 385 cursos regulares em diversas áreas do conhecimento, com um total de 39,6 mil estudantes matriculados; a graduação à distância com 18 cursos de licenciatura permitiu a ampliação do alcance das universidades para todo o estado, com 4,9 mil alunos matriculados; em 2012 havia a oferta de 19 cursos e 623 alunos matriculados, em 2015 tem-se 88 cursos e 3,8 mil alunos matriculados,
- 120. 119Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer evidenciando a um incremento de 463,2% na oferta de cursos e 610% no número de matrículas; a pós-graduação lato sensu alcançou 5,2 mil estudantes matriculados em 2015, com 104 cursos ofertados; ampliação do número de projetos de pesquisa e extensão, além das diversas e relevantes iniciativas de colaboração com a educação básica da Bahia. (BAHIA,2015). Observa-se, portanto que as variáveis acima registradas não são cotejadas na definição pelo Estado na alocação do volume de recursos às Universidade Estaduais Baianas. A seguir são analisados os orçamentos públicos do Estado no período de 2014 a 2016, buscando demonstrar a participação do Sistema Estadual de Educação Superior da Bahia, detalhando por grupo de natureza da despesa, a composição dos orçamentos das UEBA. Para esse fim tomamos por base os conceitos definidos na Lei 4.320/1964 e na Portaria nº 163/2001. Tabela 02 – Orçamento Global das Universidades Estaduais Recursos do Tesouro – Por Grupo de Natureza da Despesa – 2014 a 2016 GRUPO DE DESPESA 2014 % 2015 % 2016 % PESSOAL E ENCARGOS 769.905.000 75,4 881.753.000 78,3 971.375.000 79,6 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 218.387.000 21,4 208.621.000 18,5 217.863.000 17,9 4 INVESTIMENTO 33.199.000 3,3 35.626.000 3,2 31.409.000 2,6 TOTAL 1.021.491.000 100 1.126.000.000 100 1.220.647.000 100 Fonte: Leis Orçamentárias Anuais, 2014 – 2016. Disponível em:<http://www.seplan.ba.gov.br/planejamento/instrumentos-orcamentarios>.Acesso em: 09 jan. 2017. Elaborado pela autora Verificamos, examinado os recursos por grupo de natureza da despesa, a predominância das despesas com pessoal e encargos, que em média no período, correspondem a 77,8% do total do orçamento anual, sendo que, em 2016 tem- se a maior participação, atingindo 79,6%, evidenciando crescimento progressivo a cada exercício. Em contrapartida constata-se a redução dos montantes destinados às outras despesas correntes, além da estagnação dos investimentos. As despesas de capital e, mais especificamente, os investimentos, representam apenas 3%. Importante registrar que os números aqui analisados referem-se aos orçamentos iniciais, já que, mesmo com os recursos orçamentários aprovados, as UEBA vem sofrendo com as contínuas medidas de contenção, de modo que os repasses financeiros se distanciam, de forma significativa, dos montantes aprovados nos orçamentos anuais. Os impactos e efeitos de tais medidas às UEBA são muitas vezes irreversíveis, já que afetam as atividades acadêmicas, inviabilizam a pesquisa, geram sucateamento às infraestruturas e, mesmo que equipadas, têm dificuldade para a manutenção, agravando, portanto, a crise vivenciada pelas Universidades Estaduais.
- 121. 120Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer Constatamos que no período pesquisado o orçamento global das UEBA apresenta as seguintes variações: 2014/2015, 10,2%; e 2015/2016, 8,4% evidenciando um redução de aproximadamente 1,8%, contrapondo-se a todas as variáveis e cenários econômicos, desconsiderando o crescimento e demandas reais de cada universidade. No caso da Bahia o financiamento das quatro universidades estaduais tem sido tema de discussão da comunidade acadêmica e da sociedade em geral. A respeito desse debate, Fialho (2011) enfatiza: O financiamento da educação superior no Brasil e o orçamento das universidades estaduais precisam ser tratados de modo articulado. Na Bahia, os avanços conseguidos pelo Governo Wagner com relação à perspectiva de incremento de mais de 108% para o período 2006-2012 – ampliando o orçamento das universidades estaduais de R$ 386,8 milhões para R$ 806,6 milhões – e o aumento de 11% da dotação orçamentária para 2012, com relação a 2011 (BAHIA, 2011), podem ser significativos; mas, precisam ser cotejados com outras universidades, tanto estaduais como federais e, também, com outras áreas de investimento do próprio governo. Isoladamente, esses dados indicam o percurso realizado entre uma e outra faixa; mas, não conseguem posicionar a educação superior frente às demais áreas de governo nem demonstrar se tal avanço foi ou não capaz de assegurar cobertura à manutenção das universidades estaduais nem às suas obrigações estatutárias e sociais. (FIALHO, 2011, p. 10-11). A concentração de recursos na categoria de despesas correntes, com predominância nas despesas com pessoal e encargos, sinaliza que, ainda que considerados importantes e tenham alcançado algum consenso, as prioridades de alocação de recursos às UEBA não estão diretamente associadas a critérios que reflitam a realidade dessas instituições, negligenciando muitas vezes os resultados qualitativos do trabalho acadêmico, bem como a contribuição das Universidades Estaduais ao desenvolvimento social e econômico nas diversas regiões em estão presente. Os dados evidenciam um cenário de grandes desafios para as Instituições Estaduais Públicas de Educação Superior no que se refere ao modelo de financiamento frente a elevada prevalência dos desembolsos com pessoal e encargos, estagnação dos recursos alocados às outros custos correntes e consequentemente, à baixa capacidade de investimentos. CONSIDERAÇÕES FINAIS Neste artigo partimos da compreensão da importância do debate sobre o financiamento das Universidades Estaduais Baianas, dentro e fora dessas IES, o qual fundamenta-se na necessidade, não apenas de repensar ou redefinir o modelo de financiamento, a ampliação do percentual da RLI, a revisão dos critérios que determinam a proporcionalidade do orçamento entre as UEBA, os montantes financeiros mensais liberados ou ainda de subsidiar a política pública
- 122. 121Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer em Educação Superior na Bahia, mas, principalmente de evidenciar qual a prioridade do governo para a Educação Superior ofertada pelas Universidades Publicas Estaduais. Os dados evidenciam um cenário de grandes desafios para as UEBA frente as dificuldades e limitações orçamentárias e financeiras enfrentadas por essas instituições, a elevada prevalência dos desembolsos com pessoal e encargos, a estagnação dos recursos alocados às outros custos correntes e consequentemente, à baixa capacidade de investimentos. Considerando a importância e, ao mesmo tempo, o modelo de destinação de recursos às Universidades Estaduais Baianas é fundamental que a alocação dos recursos obedeça a critérios que leve em conta as características de cada Universidade. A concentração de recursos na categoria de despesas correntes, com predominância nas despesas com pessoal e encargos, sinaliza que, ainda que avaliados importantes e tenham alcançado algum consenso, as prioridades de alocação aos orçamentos: a) não estão diretamente associadas a critérios que reflitam as peculiaridades e real demanda de cada uma das UEBA; b) negligencia muitas vezes, os resultados qualitativos do trabalho acadêmico; c) desconsidera a avaliação de desempenho das instituições públicas estaduais de ensino superior; d) deixa de levar em conta a avaliação dos fins específicos a que se destina e a forma como são planejados e administrados os recursos em cada instituição de ensino superior; e) negligencia as reais demandas, necessidades e missão estatutária (ensino, pesquisa e extensão); f) não reflete a realidade das Universidades Estaduais; g) desconsidera instituições públicas de ensino superior com estruturas, características e alocação de recursos similares que apresentam resultados diferenciados. No cenário atual acrescentaríamos ainda que desconsidera a relevante contribuição das UEBA para o desenvolvimento social e econômico das regiões onde se inserem o que influencia, consequentemente os resultados, os produtos, bens e os serviços que se obtém das instituições de ensino superior. Assim, nestas considerações finais retomamos e reiteramos a importância da (re)definição do modelo de financiamento e investimento em Educação Superior Pública na Bahia, convocando a União e os Municípios para participarem do financiamento dessas instituições frente ao papel e contribuição das UEBA à Educação Superior no Brasil, nos Territórios de Identidade e Municípios da Região Nordeste. Enfatizamos a urgência e necessidade da revisão e redefinição não apenas no que tange à ampliação do percentual da Receita de Impostos Líquida (RIL) destinado às Universidades Públicas Estaduais Baianas, mas também aos critérios que determinam a participação proporcional do orçamento entre as quatro UEBA, na perspectiva de superação da crise vivenciada pelas Universidades Públicas Estaduais baianas. Os resultados deste estudo sinalizam a urgência em se aprofundar pesquisas sobre o tema.
- 123. 122Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer REFERÊNCIAS AMARAL, Nelson Cardoso. Autonomia e financiamento das IFES.: desafios e ações. Avaliação (Campinas), Sorocaba, v. 13, n. 3, Nov. 2008. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/aval/v13n3/03.pdf. Acesso em: Novembro.2016. BAHIA. Relatório Anual de Governo (RAG): exercício de 2015. Volume 1. Disponível em:http://www.seplan.ba.gov.br/arquivos/File/relatorios/Ano2015/RAG_2015_Pa rte_II_v5.pdf. Acesso em: Dezembro.2016. FIALHO. Nadia Hage. Educação Superior no Brasil: Universidades Estaduais à deriva? Disponível em: http://www.uneb.br/gestec/files/2011/10/Artigo-Educação- Superior-no-Brasil-universidades-estaduais-à-deriva-30out20111.pdf. Acessado em: Dezembro.2016. GATTI, Bernadete, A. Estudos quantitativos em educação. Fundação Carlos Chagas. Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 30, n.1, p. 11-30, jan./abr. 2004. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/ep/v30n1/a02v30n1.pdf>. Acesso em: Janeiro.2015. MIRANDA, Rosa Farias de Almeida. Investimentos Públicos Diretos em Educação Superior na Bahia: um estudo de caso sobre o Sistema Estadual de Educação Superior da Bahia. 2013. Dissertação (Mestrado). Universidade do Estado da Bahia (UNEB). Programa de Pós-Graduação em Gestão e Tecnologias aplicadas à Educação (GESTEC), Salvador, 2013. Disponível em: http://www.uneb.br/gestec/files/2013/06/Disserta%C3%A7%C3%A3o-de-Marta- Rosa-Farias-de-Almeida.pdf. Acessado em: Julho.2015. PEREIRA, Paulo Trigo Cortez. Economia e Finanças Públicas. 3. ed. Lisboa: Escolar Editora, 2009. SAVIANI, Dermeval. A EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR NO BRASIL: MUDANÇAS E CONTINUIDADES. Poíesis Pedagógica - V.8, N.2 ago/dez.2010; pp.4-17. Disponível em: http://www.revistas.ufg.br/index.php/poiesis/article/view/14035. Acessado em: Dezembro.2016. SCHWARTZMAN, Jacques. O Financiamento das Instituições de Ensino Superior no Brasil. DIGITAL OBSERVATORY FOR HIGHER EDUCATION IN LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN. IESALC Reports available at. www.iesalc.unesco.org.ve. IES/2003/ED/PI/15. Date of Publication: 2003. Disponível em: http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001398/139879por.pdf. Acessado em: Agosto.2016.
- 124. 123Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer VELLOSO, Jacques. Universidade na América Latina: rumos do financiamento. Cadernos de Pesquisa, São Paulo, n. 110, p. 39-66, jul. 2000. Disponível em: <http://www.scielo.br>. Acesso em: Novembro.2016. VIAN, Maurício; MELLO, José Carlos Garcia de; BOEIRA, Carlos. Orçamento & Fundo: fundo dos direitos da criança e do adolescente. Brasília: Focus Gráf. Ed., 2002. ABSTRACT: The purpose of this article is to present a study on the financing of public higher education in Bahia, highlighting how Education is part of the structure of the Annual Budget Laws of the State of Bahia from 2014 to 2016. To that end, we have reviewed the aspects of public budgets in education, we raise and analyze the data on the evolution of the resources allocated to the Bahia State Universities (UEBA). The theme is inserted in the field of educational policy and, more specifically, studies on the financing of higher education, seeking to present data on the allocation of direct public resources destined to the budgets of the State Public Universities of Bahia. It presents preliminary results of exploratory, bibliographic and documentary studies. The data show a scenario of great challenges for the State Public Institutions of Higher Education regarding the financing model and budgetary resources in view of the high prevalence of disbursements with personnel and charges, stagnation of resources allocated to other current costs and, consequently, low investment capacity. KEY WORDS: Higher Education, Financing, Budget.
- 125. 124Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer CAPÍTULO X HISTÓRIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO NAS CONSTITUIÇÕES BRASILEIRAS: DE 1824 À CONSTITUIÇÃO DE 1988 ________________________ Débora de Oliveira Lopes do Rego Luna Ítalo Martins de Oliveira
- 126. 125Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer HISTÓRIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO NAS CONSTITUIÇÕES BRASILEIRAS: DE 1824 À CONSTITUIÇÃO DE 1988 Débora de Oliveira Lopes do Rego Luna Universidade Federal da Paraíba João Pessoa – Paraíba Ítalo Martins de Oliveira Universidade Federal da Paraíba João Pessoa – Paraíba RESUMO: O presente artigo tem por objetivo explorar o tema referente ao direito à educação, com base nos dispositivos constitucionais. Com isso, pretende-se analisar como o direito a educação vem sendo tratado pelas Constituições Brasileiras, desde 1824 até 1988. Aborda-se, inicialmente, o conceito e a evolução histórica da educação, posteriormente, analisa-se, também, a evolução da educação em nosso ordenamento jurídico. Para tanto, realizou-se uma revisão da literatura, buscando captar a evolução histórica da educação em si e o contexto histórico em que a educação foi concebida, implantada, desenvolvida e consolidada constitucionalmente no Brasil. Além disso, todas as Constituições Brasileiras desde 1824 a 1988 foram analisadas no que tange os dispositivos que tratam sobre a educação. Concluiu-se, que a Constituição Federal de 1988 estabelece a educação como um direito fundamental e, por isso, tal direito goza de privilégios em nosso ordenamento jurídico. A legislação, seja ela constitucional ou infraconstitucional, é farta. No entanto, não é aplicada no sentido de garantir uma educação pública e de qualidade para todos. Esse é o grande desafio do direito à educação: fazer com que as prerrogativas inerentes a esse direito sejam postas em prática, alcançando-se o objetivo básico da educação, que é proporcionar o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. PALAVRAS-CHAVE: história da educação, direito à educação, constituições brasileiras. 1. INTRODUÇÃO Uma das principais características da espécie humana, que a difere de todas as outras espécies, é sua capacidade de “evoluir por meio da transformação e transmissão da cultura” (MOLINA, 2008). A educação também evoluiu, mudando de acordo com cada época e lugar, refletindo a realidade vivida. O processo formativo, em sentido amplo, existe desde os primórdios da civilização humana, sofrendo modificações com o passar do tempo, em seu conceito e sua aplicação. É inquestionável a sua importância em todas as fases históricas, inclusive nos dias de hoje. Sempre houve grande preocupação com os ensinamentos passados de geração a geração, perpetuando a cultura de um povo. A educação de hoje é resultado da evolução cultural de nossos antepassados, por isso, faz-se necessário traçar um perfil histórico de sua origem e Evolução, para
- 127. 126Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer que se possa melhor entender as mudanças ocorridas com o tempo. Nos primórdios, os agrupamentos humanos eram compostos por comunidades tribais. Não havia uma organização de classes, nem qualquer atividade comercial. Também não havia escolas, de modo que a educação era informal, conforme assinala Giles (1987, p. 3): “Nas sociedades primitivas, o processo educativo é altamente informal e totalmente integrado nas atividades diárias que visam à sobrevivência do indivíduo e da tribo: alimentação, abrigo, vestuário e defesa”. A educação primitiva baseava-se em ensinamentos morais e de cunho comportamental, transmitindo mecanismos que serviriam para introduzir o indivíduo na comunidade. Com o desenvolvimento da técnica, de ofícios especializados e a invenção da escrita, a sociedade foi se tornando mais complexa. Começou a surgir uma embrionária forma de organização da sociedade em classes. É nesse período que surgem as civilizações da Antiguidade oriental, sociedades tradicionalistas, com governos teocráticos. O rei detinha poder absoluto e se sustentava na crença de sua divindade. Dentre as civilizações orientais destacam-se: o Egito, a Babilônia, a Índia, a China, e além dos povos hebreus. Pela característica teocrática e tradicional dessas sociedades, a educação tinha por base os livros sagrados, que ofereciam regras gerais de conduta e orientações para a vida em sociedade. Apesar da evolução do processo educativo, sobretudo com a descoberta da escrita e a criação das primeiras escolas, as sociedades tradicionalistas pretendiam perpetuar os seus costumes. Por isso, o acesso à educação foi limitado às classes dominantes, excluindo a população mais pobre, que recebia a educação familiar informal. O objetivo era evitar transgressões às normas da comunidade, pois o conhecimento mais aprofundado poderia fazer com que houvesse rebeliões. Na Grécia antiga, diferentemente das sociedades conservadoras da Antiguidade oriental, as ideias religiosas foram substituídas pelo uso da razão, pelo pensamento livre e pelo estímulo à análise crítica. Têm, assim, início algumas teorias sobre a educação, traçando-se as primeiras linhas de aplicação do ensino e se tornando base de muitas discussões para os grandes filósofos gregos. Em Esparta, cidade-estado da Grécia, a educação era pública e obrigatória. Havia uma razão política para esse processo educativo. Esparta desenvolvia uma educação militar, de modo que a criança deveria ser sadia. Era considerada propriedade do Estado e deveria desenvolver suas habilidades para servi-lo. Segundo Giles (1987, p. 30), o objetivo de tal formação era fortalecer ao máximo o jovem aspirante. Por isso, o ensino era baseado em atividades físicas como a corrida, o salto, a natação, o arremesso de disco, a caça e a luta livre. Já em Atenas, destacava-se a formação intelectual do indivíduo. A ginástica estava presente no programa de estudos, mas dividia espaço com a música, o teatro, a escrita, a geometria, o desenho e a leitura. Em Roma, foi adotada uma educação voltada para o cotidiano, mais pragmática e utilitarista. Oferecia-se um estudo de cunho profissional para que futuramente o indivíduo pudesse ser útil ao Estado. Cabia, inicialmente, à família a responsabilidade pela educação dos filhos. Com o tempo, o Estado viu a necessidade
- 128. 127Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer de ter sua administração assumida por indivíduos preparados, passando a assumir responsabilidade total sobre a educação. Na Idade Média, com a fragmentação do Império Romano, a Igreja Católica em muito influenciou a educação. A partir de então, a escola clássica deu lugar à escola cristã, baseada em ensinamentos religiosos para a criação de um novo homem. A influência da Igreja passou a ser decisiva, na tentativa de manter seus ensinamentos, mesmo diante de contradições entre a fé e a razão, como bem assinala Maria Lucia Aranha (2001, p. 73): Os parâmetros da educação na Idade Média se fundam na concepção do homem como criatura divina, de passagem pela terra e que deve cuidar, em primeiro lugar, da salvação da alma e da vida eterna. Tendo em vista as possíveis contradições entre fé e razão, recomenda-se respeitar sempre o principio da autoridade, que exige humildade para consultar os grandes sábios e intérpretes autorizados pela Igreja, sobre a leitura dos clássicos e dos textos sagrados. Evita-se, assim, a pluralidade de interpretações e se mantém a coesão da Igreja. Com o Renascimento, houve uma quebra da supremacia da Igreja Católica, surgindo uma maior preocupação com o homem e sua cultura em detrimento das concepções teológicas existentes na Idade Média. Essa mudança fez surgir a ideia de que deveria existir um sistema de instrução popular, preparando cidadãos mais cultos e educados. Surgiu, então, a preocupação para organizar os colégios, uma vez que, na Idade Média, não havia distinção entre alunos de acordo com a idade ou grau de conhecimento. No entanto, mesmo criticando o sistema de ensino imposto pela Igreja Católica, o Renascimento manteve a discriminação em relação à população mais pobre, conforme ressalta Maria Lucia Aranha (2001, p. 73): “Essa sociedade embora rejeite a autoridade dogmática da cultura eclesiástica medieval, mantém-se ainda fortemente hierarquizada: exclui dos propósitos educacionais a grande massa popular”. No século XVIII, como resultado da influência do Renascimento, surgiu o Iluminismo. Nesse período, passou-se a valorizar o poder da razão humana, não mais fazendo sentido a estreita relação da educação com a religião. Teve início, portanto, uma tendência liberal e laica para as escolas. No século XVIII, ocorreu importante avanço na luta para estender a educação a todos os cidadãos, estabelecendo-se a obrigatoriedade e a gratuidade do ensino elementar. No entanto, ainda predominava a diferença na aplicação do ensino, existindo uma escola direcionada para a população pobre e outra escola para a burguesia. O século XIX teve como grande marco a Revolução Industrial, que, para Cláudio Recco (2008) “foi um conjunto de transformações socioeconômicas e tecnológicas responsável por consolidar o sistema capitalista”. Essas transformações passaram a exigir uma maior qualificação da mão-de-obra. Com isso, buscou-se implantar a universalização do ensino, através da intervenção cada vez maior do Estado, que passou a oferecer o ensino elementar gratuito, dando ênfase ao ensino técnico.
- 129. 128Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer No século XX, as drásticas mudanças na economia, na política e na moral fizeram florescer o senso de julgamento e crítica da sociedade, passando-se a enfatizar a necessidade de uma escola pública acessível a todos. Começaram a surgir leis, regulamentando o sistema escolar e garantindo uma educação mais democrática e buscando-se, com essa inovação mudar o cunho tradicional e rígido da escola tradicional. Nasceu, nesse período, a denominada “escola nova”, com características mais maleáveis às constantes mudanças da sociedade. Nos dias atuais, a escola vem sofrendo muitas alterações, buscando adaptar- se ao rápido desenvolvimento da sociedade. Várias mudanças são provocadas pelo fenômeno da globalização, que exige uma educação permanente e atualizada. Nesse novo contexto social, a escola é, cada vez mais, necessária a uma boa formação, seja profissional ou moral. É obrigação do Estado proporcioná-la sem qualquer distinção. A história da educação foi marcada por avanços e retrocessos. As modificações sofridas pela sociedade exigiram o aprimoramento de novas maneiras de pensar, refletir e valorizar a educação, como base fundamental para o desenvolvimento econômico e social. Na busca desse objetivo, a educação foi elevada à categoria de direito, reconhecido juridicamente tanto no cenário nacional como no âmbito internacional. 2. DIREITO À EDUCAÇÃO NAS CONSTITUIÇÕES BRASILEIRAS A Carta Magna de 1824, Constituição do Império do Brasil, trazia o direito à educação expresso em vários itens do art. 179, dentre os direitos civis e políticos. Segundo entendimento da época imperialista, a educação era, predominantemente, de responsabilidade da família e da Igreja, sendo esta a responsável por grande participação no processo de educação do povo. No item 32 do referido artigo, a Constituição garantia que “a instrução primária é gratuita a todos os cidadãos”. No item 33, garantiam-se colégios para o ensino dos elementos das ciências, belas- artes e artes. A Constituição do Império foi fortemente influenciada pela Revolução Francesa, com seus ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Essa característica liberal é confirmada por José Afonso da Silva (1999, p.169), ao afirmar que a Constituição de 1824 foi a primeira, em todo o mundo, a garantir e positivar os direitos do homem. Nesse sentido, em seu art. 179, proclamava “a inviolabilidade dos direitos civis e políticos dos cidadãos brasileiros”. No entanto, ao mesmo tempo em que apresentava um caráter liberal, a Constituição contrastava com o regime conservador do Império. Isso era evidente quando garantia a liberdade e mantinha a escravidão, ou então quando estabelecia a unicidade religiosa, mas garantia o culto a todas as religiões. A Constituição de 1891 tinha por principal característica ser um marco da nova fase do constitucionalismo do Brasil, uma vez que substituía o regime monárquico pelo republicano, que tinha por fundamento a democracia. Houve o
- 130. 129Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer rompimento com a Igreja Católica que, na constituição anterior, tinha a responsabilidade da formação educacional, religiosa e moral do povo. Outro aspecto foi a descentralização do ensino, que anteriormente estava sob o controle da Coroa. A Constituição de 1891 atribuiu competência privativa ao Congresso Nacional para legislar sobre o ensino superior, dentre outros pontos. Estabeleceu, ainda, a competência residual, segundo a qual aos Estados caberia legislar sobre todos os direitos não reservados à União. Mesmo com essas mudanças na forma de Estado e de governo, não houve muitas diferenças ideológicas entre a Constituição Imperial e a Constituição de 1891. Isso porque o modelo adotado pelo Império já apresentava tendência liberal quando garantiu direitos civis e políticos aos cidadãos. Sendo assim, o Estado não assumia compromisso com a educação, conforme também ocorreu com a Constituição de 1824. Na Constituição de 1934, finalmente, houve a positivação dos direitos sociais, com a inserção, no texto constitucional, de direitos relativos à família, à educação, à cultura e à ordem econômico-social. Isso se deveu, em grande parte, à influência das Constituições do México, de 1917, da Rússia, de 1919 e a da Alemanha, a denominada Constituição de Weimar, também de 1919, que elevaram o direito à educação à categoria de direitos constitucionais. Com isso, a Constituição brasileira de 1934 tratou a educação e a cultura em capítulo especial. O governo federal, com a Carta Magna de 1934, passou a traçar as diretrizes da educação no Brasil. No entanto, manteve a cargo dos Estados a complementação das diretrizes determinadas pelo governo federal, caso isso fosse necessário às suas peculiaridades. À União caberia a aplicação de 10% da arrecadação na manutenção e no desenvolvimento dos sistemas educativos. Já os Estados deveriam aplicar um mínimo de 20% da renda de seus impostos para organizar e manter os sistemas educativos, respeitadas as diretrizes estabelecidas pela União. A Constituição de 1934 dispunha, ainda, sobre a formação de fundos de educação, que teriam a participação da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Os recursos advindos de sobras das dotações orçamentárias e das porcentagens sobre vendas de terras públicas, dentre outras fontes, deveriam ser investidos especificamente em programas educativos, assim como no auxílio a alunos que necessitassem de recursos para prosseguir em seus estudos. Caberia ao Conselho Federal de Educação a elaboração do plano nacional de educação, para que fosse aprovado pelo Poder Legislativo. As normas gerais, que serviriam de base a esse plano, estavam dispostas no art. 150. Marcos Augusto Maliska (2001, p. 26) enfatiza o fato de a Constituição considerar o direito à educação como um direito subjetivo público, ao afirmar: Pela primeira vez, em texto constitucional, o direito à educação foi elevado à categoria de direito subjetivo público, nos termos do art. 149: “A educação é um direito de todos e deve ser ministrada pela família e pelos poderes públicos, cumprindo a estes proporcioná-la a brasileiros e a estrangeiros domiciliados no País, de modo que possibilite eficientes fatores da vida moral e econômica da Nação, e desenvolva num espírito brasileiro a consciência da solidariedade humana”.
- 131. 130Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer A constituição de 1937 apresentava um caráter concentrador, evidenciando o regime autoritário que se instalara, conforme observa Pedro Calmon (1954, p.14): Pelo golpe de Estado de 10 de novembro de 1937, o governo do Sr. Getúlio Vargas substitui a Constituição de 16 de julho de 1934 pela Carta então outorgada. Feita sem a colaboração dos partidos nem as injunções da opinião, a carta de 10 de novembro havia de refletir, em verdade refletiu, o espírito autoritário, de governo forte, ou “Estado Novo”, afinal antipartidário (o Presidente da República como chefe da política nacional). Estabeleceu a preeminência incontrastável do Executivo. Essa política de cunho autoritário e concentrador em muito influenciou no direito educacional na nova Constituição. O sistema educativo passou a ser compreendido como sendo uma preparação, através de disciplina moral e adestramento físico, para o cumprimento de deveres e defesa da nação, como um culto ao regime e à pessoa do ditador. A exemplo da Constituição anterior, competia à União fixar bases e traçar diretrizes para a educação. No entanto, o Estado tinha função suplementar, colaborando para facilitar a execução daquilo que a constituição considerava o primeiro dever dos pais, qual seja, a educação. Nesse sentido, observa João Batista Herkenhoff (1987, p.37) que a Constituição de 1937 “concedeu acentuado privilégio ao ensino particular, reservando ao Estado uma função suplementar de preencher deficiências e lacunas desse ensino”. Os pais que não apresentassem condições financeiras para a educação de seus filhos deveriam invocar o auxílio do Estado para garantir a subsistência de sua família. Se não o fizessem, poderiam ser acusados de cometer falta grave, se comprovado o abandono intelectual, moral ou físico dos filhos. Em 1946, o país retornou ao regime democrático, caracterizado por um governo imparcial e livre, eleito diretamente. O retorno à democracia foi considerado como um marco para a nova constituição. No texto constitucional, a educação foi definida como direito de todos, baseada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana. A competência privativa da União para legislar sobre matéria educacional foi mantida, assim como a competência suplementar dos Estados. A União deveria reservar não menos que 10% de seus recursos para a educação, enquanto os Estados e o Distrito Federal reservariam um mínimo de 20%. A carta constitucional dividiu o sistema de ensino em dois: o sistema federal, acessível a todo, e o sistema estadual, de responsabilidade dos Estados e do Distrito Federal, com a finalidade de evitar que os alunos necessitados sofressem com a falta de condições de estudo. Diferentemente da constituição anterior, a liberdade das ciências, das letras e das artes foi garantida pela Carta de 1946, assim como o compromisso do Estado em incentivar a cultura. Se a Constituição de 1946 foi marcada pela democratização, a Carta Constitucional de 1967 foi influenciada por atos antidemocráticos implantados com
- 132. 131Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer o golpe de Estado de 31 de março de 1964. O período da ditadura foi marcado pelos atos institucionais que deram à nova constituição traços fortes de censura. O art. 168 da Constituição de 1967 dispunha que a educação era direito de todos e que deveria ser inspirada no princípio da unidade nacional e nos ideais de liberdade e de solidariedade humana. Para João Batista Herkenhoff (1987, p.37), o princípio da “unidade nacional foi bastante equívoco no Brasil pós-1964, quando unidade e segurança nacional foram confundidos com unidade ideológica e segurança do regime ditatorial”. A nova constituição estabeleceu que o ensino seria garantido à livre iniciativa e o Estado daria amparo técnico e financeiro. A fixação de percentuais orçamentários destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino foi abolida, o que culminou em críticas. É que as escassas verbas públicas foram destinadas às escolas particulares e não às escolas frequentadas pelas classes sociais mais pobres. A Constituição de 1967 manteve, nos artigos 171 e 172, a divisão do sistema de ensino brasileiro em federal e estadual estabelecido pela constituição anterior, assim como a liberdade das ciências, das letras e das artes e o incentivo do Estado à cultura. Em meio à ditadura militar, o Brasil sofreu a maior repressão de sua história com o Ato Institucional n° 5, de dezembro de 1968. Nesse contexto, foi promulgada a Emenda Constitucional n° 01, de 1969, apresentando alterações em todo o texto da Constituição de 1967, liquidando qualquer expressão democrática antes existente. O direito à educação sofreu grandes alterações, especialmente com o estabelecimento e execução do plano nacional de educação e do plano regional de desenvolvimento. A fixação de percentuais orçamentários foi prevista, apenas, para os municípios. A situação só foi alterada em 1983, quando a Emenda Constitucional nº. 24 fixou um percentual mínimo de 13% para aplicação dos recursos pela União e de 25% da receita resultante de impostos a ser aplicada pelos Estados, Distrito Federal e Municípios. A Constituição de 1967, especialmente após a EC n° 01/1969, foi marcada pela censura e pela falta de liberdade de expressão, restringindo também a liberdade das ciências, letras e artes. 3. EDUCAÇÃO COMO DIREITO FUNDAMENTAL Com o término da primeira Guerra Mundial, novos direitos fundamentais foram reconhecidos, especialmente, os direitos sociais ou de segunda dimensão. Segundo Manoel Gonçalves Filho (2002, p.41), esses novos direitos não excluem nem negam as liberdades públicas, mas a elas se somam. Nesse novo contexto, as cartas políticas passaram a atribuir dimensão jurídica à questão social, sobretudo, com o advento da Constituição alemã de 1919, que passou a influenciar as normas constitucionais de outros países. No Brasil, tais direitos passaram a ser tratados no texto constitucional a partir da Constituição de 1934, sendo paulatinamente
- 133. 132Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer incrementados e estruturados nos textos seguintes até o atual disciplinamento existente na Carta Magna de 1988. Mesmo diante de opiniões contrárias, o direito à educação é entendido como um direito fundamental. A Constituição brasileira eleva a educação ao nível dos direitos fundamentais, a partir do momento em que a inclui como norma em seu texto. Essa condição também fica clara, quando se verifica a intrínseca relação do direito à educação e dos demais direitos sociais com os princípios regedores de nossa Carta Magna. Nesse sentido, observa George Marmelstein Lima (2008): Os direitos socioeconômicos são, à luz do direito positivo-constitucional brasileiro, verdadeiros direitos fundamentais, tanto em sentido formal (pois estão na Constituição e têm status de norma constitucional) quanto em sentido material, pois são valores intimamente ligados ao princípio da dignidade da pessoa humana, da igualdade e da solidariedade. Os direitos sociais são compreendidos como prestações positivas que devem estar presentes em um Estado Democrático de Direito. O objetivo desses direitos é concretizar a igualdade social, oferecendo melhoria nas condições de vida das classes sociais menos favorecidas. Jose Afonso da Silva (2000, p. 199) apresenta o seguinte conceito de direitos sociais: Prestações positivas proporcionadas pelo Estado, direta ou indiretamente, enunciadas em normas constitucionais, que possibilitam melhores condições de vida aos mais fracos, direitos que tendem a realizar a igualização de situações sociais desiguais. São, portanto, direitos que se ligam ao direito de igualdade. A atual Constituição Federal considera a educação como sendo um direito social, previsto no Título II, que trata dos Direitos e Garantias Fundamentais. Segundo o art. 6º, “são direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma esta Constituição”. Além disso, o direito à educação foi inserido no Título VIII da Constituição, que trata da Ordem Social. Especificamente no art. 205, a Constituição Federal estabelece que a educação tem, entre seus objetivos, o “pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. No mesmo texto constitucional, foram estabelecidos os fundamentos da República Federativa do Brasil, quais sejam a cidadania e a dignidade da pessoa humana. Entre os objetivos elencados no art. 3º, destacam-se: a construção de uma sociedade livre, justa e solidária; a garantia do desenvolvimento nacional; a erradicação da pobreza e da marginalização, com a redução das desigualdades sociais e regionais; a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Analisando-se tais dispositivos constitucionais, constata-se que os fundamentos e os objetivos da República Federativa do Brasil somente serão
- 134. 133Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer alcançados por meio da garantia dos direitos sociais em geral, essencialmente o direito à educação. Somente de posse de tais direitos é que a pessoa humana exercerá a cidadania, atingirá seu pleno desenvolvimento e se qualificará para o trabalho. Só assim, contribuirá para uma sociedade livre, justa e solidária, fazendo valer os direitos fundamentais que lhe são inerentes. Dessa forma, não se pode olvidar o caráter fundamental do direito à educação, uma vez que é inquestionável sua importância como instrumento de proteção e concretização do princípio da dignidade da pessoa humana. 4. CONSIDERAÇÕES FINAIS A importância do direito à educação está intimamente ligada à sua condição de fator indispensável ao pleno desenvolvimento da pessoa humana e à concretização da própria cidadania. A Constituição Federal de 1988 estabelece a educação como um direito fundamental e, por isso, tal direito goza de privilégios em nosso ordenamento jurídico. A legislação, seja ela constitucional ou infraconstitucional, é farta. No entanto, não é aplicada no sentido de garantir uma educação pública e de qualidade para todos. Esse é o grande desafio do direito à educação: fazer com que as prerrogativas inerentes a esse direito sejam postas em prática, alcançando-se o objetivo básico da educação, que é proporcionar o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. O poder público deve lutar para alcançar os objetivos estabelecidos na Constituição Federal, quais sejam: a erradicação do analfabetismo, a universalização do atendimento escolar, a melhoria da qualidade de ensino, a formação para o trabalho e a promoção humanística, científica e tecnológica do cidadão. Para o cumprimento desses objetivos, deve-se destacar, também, o papel da familia e da sociedade na educação que, segundo a Constituição, são igualmente responsáveis pela sua promoção. Diante do fato de a educação se constituir como um direito fundamental e essencial ao ser humano, é indispensável a existência da interação do Estado, da família e da sociedade, com o intuito de garantir a todos o acesso a uma educação de qualidade. Essa preocupação se dá pelo significado que a educação tem ao agregar valor à vida de todas as pessoas, sem discriminação. Sem dúvida, a educação constitui a base para a efetivação dos demais direitos, especialmente, do direito à saúde, à informação e à participação em atividade sociais e políticas. Em síntese, somente com a educação, é possível atingir-se a verdadeira cidadania, garantindo-se a igualdade de oportunidade para todos e a dignidade da pessoa humana.
- 135. 134Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer REFERÊNCIAS ARANHA, Maria Lucia de Arruda. História da educação. 2 ed. São Paulo: Moderna, 2001. CALMON, Pedro. Curso de direito constitucional brasileiro: Constituição de 1946. 3.ed. Fortaleza: Freitas Bastos, 1954. GILES, Thomas Ransom. História da educação. São Paulo: Pedagógica e Universitária, 1987. HERKENHOFF, João Batista. Constituinte e educação. Petrópolis: Vozes, 1987. LIMA, George Marmelstin. Controle judicial dos direitos fundamentais. Disponível em: http://direitosfundamentais.net/. Acesso em 11/10/2008. MALISKA, Marcos Augusto. O direito à educação e a constituição. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2001. MOLINA, Victor. Educação, evolução e individualização. Disponível em: <www.seduc.mt.gov.br/download_file.php?id=5134&parent=125>. Acesso em 10/09/2008. RECCO, Cláudio. História: a Revolução Industrial na Inglaterra. Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/folha/educacao/ult305u10188.shtml>. Acesso em 11/09/2008. SILVA, Jose Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 15 ed. São Paulo: Malheiros, 1999. ______, José Afonso da. Poder constituinte e poder popular (estudos sobre a Constituição). São Paulo: Editora Malheiros, 2000. ABSTRACT: This article aims to explore the theme of the right to education, based on constitutional provisions. The purpose of this study is to analyze how the right to education has been treated by the Brazilian Constitutions from 1824 to 1988. The concept of historical evolution of education is initially approached. It also analyzes the development of education in our country legal order. Therefore, a review of the literature was carried out, looking for a historical calendar of education itself and the historical context in which the education projected, implanted, developed and consolidated constitutionally in Brazil. In addition, all Brazilian Constitutions from 1824 to 1988 were analyzed in relation to the devices that deal with education. It was concluded that the Federal Constitution of 1988 establishes a fundamental right and, therefore, that right enjoys privileges in our legal system. Legislation, thus constitutional or infraconstitutional, is full. However, it is not implemented without a
- 136. 135Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer sense of security, a public publication and quality for all. This is the great challenge of the right to education: make as if prerogatives inherent in this right are put into practice, the objective is a basic objective of education, which is a project of full development of the person, his preparation for the exercise of citizenship and your qualification for the job. KEYWORDS: history of education, right to education, Brazilian constitutions.
- 137. 136Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer CAPÍTULO XI O IMPACTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS NO CONTROLE DA EVASÃO: REFLEXÕES A PARTIR DA EXPERIÊNCIA NO INSTITUTO FEDERAL DE SÃO PAULO ________________________ Eder Aparecido de Carvalho Alexandre da Silva de Paula Ivair Fernandes Amorim
- 138. 137Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer O IMPACTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS NO CONTROLE DA EVASÃO: REFLEXÕES A PARTIR DA EXPERIÊNCIA NO INSTITUTO FEDERAL DE SÃO PAULO Eder Aparecido de Carvalho Instituto Federal Catarinense (IFC) – Câmpus Brusque E-mail: carvalhoeder@hotmail.com Alexandre da Silva de Paula Instituto Federal de São Paulo (IFSP) – Câmpus Votuporanga Centro Universitário de Votuporanga (UNIFEV) E-mail: aledpaula@outlook.com Ivair Fernandes Amorim Instituto Federal de São Paulo (IFSP) – Câmpus Votuporanga E-mail: ivairfernandesamorim@gmail.com RESUMO: O presente trabalho procurou ilustrar a importância das políticas públicas no controle da evasão escolar. Neste sentido, mediante um estudo de caso, chamou para uma reflexão sobre questões inerentes a assistência estudantil implementada no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo – Câmpus Votuporanga. E, também, sobre a necessidade de políticas imanentes a transporte, a habitação, a ações afirmativas e a educação inclusiva. Inspirado na literatura especializada e na legislação vigente pretendeu-se refletir sobre políticas públicas que ultrapasse a simples oferta de vagas, visto que não é suficiente para assegurar a formação da população demandante de serviços educacionais - especialmente segmentos mais vulneráveis da população brasileira. PALAVRAS-CHAVE: Assistência Estudantil, Evasão Escolar, Políticas Públicas. INTRODUÇÃO O atendimento à demanda por formação educacional é uma temática recorrente no âmbito acadêmico. Tal discussão ganha maior relevância no contexto brasileiro, onde as políticas públicas educacionais possuem traços evidentes de “filantropia, protelação, fragmentação e improvisação”. (SAVIANI, 2014). Dentre as discussões efetuadas nesta área podemos dizer que tomam maior vulto àquelas destinadas a discussão de políticas públicas educacionais destacando- se, dentre outras, reflexões sobre a legislação educacional, financiamento educativo e políticas afirmativas. Ao partir da concepção de que o Estado pode ser compreendido como um conjunto organizado de instituições com finalidades políticas, jurídicas, administrativas, econômicas, dentre outras, que serão geridas por um governo autônomo circunscrito em um determinado território (JAPIASSU e MARCONDES, 1996), poderemos facilmente distinguir os conceitos de Estado, Sociedade Civil e de Nação.
- 139. 138Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer No âmbito do Estado o conjunto de cidadãos regidos por leis comuns (sociedade civil) e que possuem um passado e um futuro comuns (nação) encontram- se congregados e representados por meio de articulações políticas (JAPIASSU e MARCONDES, 1996). Dessa forma, partimos neste texto da compreensão que as políticas implementadas no âmbito educacional estão, ao menos em uma compreensão ideal, circunscritas no âmbito das políticas públicas estatais. Em específico, no cenário brasileiro, inaugura-se em 29 de dezembro de 2008, com a lei federal nº 11.892, um novo caso com o intento de suprir parte da demanda por formação educacional. Trata-se da criação da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, composta pelos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia; Universidade Tecnológica Federal do Paraná; Centros Federais de Educação Tecnológica; Escolas Técnicas Vinculadas às Universidades Federais e Colégio Pedro Segundo. Dentre estas instituições, o presente texto tem interesse particular nos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IF’s). Os IF’s por imposição da lei que os criou têm uma finalidade complexa, a qual abrange desde a oferta e desenvolvimento da Educação Profissional, Científica e Tecnológica em níveis de excelência que possibilite a integração e a verticalização dos níveis acadêmicos, até a formação e capacitação de profissionais da educação básica. Tem-se, portanto, a partir da criação da Rede Federal e, em especial, dos IF’s uma tentativa audaciosa de suprir a demanda por formação técnica educacional em uma realidade marcada por numerosas políticas infrutíferas que impossibilitaram a inclusão social por meio da inserção acadêmica de jovens. Dito de outra maneira, o desafio dos IF’s é o de formar e qualificar para o mercado de trabalho uma população extremamente vulnerável que sofre com insuficiência de recursos financeiros que afetam não só a aquisição direta de bens e serviços, mas também todo acesso a infraestrutura de saúde, saneamento, habitação, transporte e educação dignos e de qualidade. Todo este cenário de carência econômica é acentuado por fatores sociais e culturais e que marginalizam e discriminam grupos segundo sua raça, credo e orientação sexual. Ao refletir sobre esta situação, surge a preocupação sobre como têm sido tratadas as questões relativas as políticas públicas dentro destas instituições, cujo objetivo é a promoção do êxito e permanência dos estudantes oriundos dos segmentos mais vulneráveis da população brasileira. Neste sentido, o presente texto busca, por meio de um estudo de caso, refletir sobre questões, inerentes a assistência estudantil implementada, em um dos campi do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, localizada na cidade de Votuporanga ao noroeste do estado. E, também, sobre a necessidade de políticas concernentes a transporte, a habitação, a ações afirmativas e a educação inclusiva.
- 140. 139Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer Em um primeiro momento, por meio da análise de dados acadêmicos obtidos junto à Coordenadoria Sociopedagógica23, da referida instituição, a pesquisa apresenta a interpretação dos impactos de ações implementadas, assim como das lacunas ocasionadas pela ausência delas em questões inerentes a assistência estudantil, transporte, habitação e ações afirmativas. Foram analisados dados referentes ao ingresso, conclusão e desistência de alunos ingressantes no primeiro semestre do ano de dois mil e quatorze (2014.1), com ênfase na análise comparativa dos resultados dos alunos em situação de vulnerabilidade. Por intermédio deste processo, a pesquisa aqui apresentada busca, por meio da discussão de questões particulares do caso pesquisado, detectar aspectos generalizáveis que possam auxiliar na compreensão do cenário macro das políticas públicas educacionais. Ainda nesta primeira parte evidencia-se a necessidade da implementação de políticas públicas que tenham o intento de promover o êxito e a permanência de estudantes por meio da assistência social, transporte, habitação e ações afirmativas. Em um segundo momento, o presente texto, objetiva discutir os aspectos primordiais para uma educação que se proponha inclusiva. A temática da inclusão é tradicionalmente tratada no âmbito acadêmico na área de educação especial. Dessa maneira quando ouvimos falar em inclusão nosso imaginário é, quase que instantaneamente, levado a imaginar a educação de pessoas com determinadas limitações, físicas ou cognitivas. Não obstante ao grande avanço obtido nas pesquisas no âmbito da educação especial, é conveniente destacar que a temática da inclusão abrange também questões sociais mais amplas de acesso e disseminação do conhecimento. A continuidade desta pesquisa visa, portanto, situar a questão do atendimento das pessoas com necessidades específicas nas instituições vinculadas a Rede Federal. E compreende os esforços envidados neste fim como parte integrante das ações afirmativas que aliadas a assistência estudantil podem promover a permanência e o êxito dos estudantes. Para tanto, busca na literatura especializada e na legislação vigente os fundamentos para uma política pública que ultrapasse o oferecimento de vagas escolares e que propicie todo o arcabouço logístico e infra estrutural para que os alunos vulneráveis não sejam alijados do processo. 23 A Coordenadoria Sociopedagógica realiza o atendimento individual e coletivo do aluno, professor e familiares. É composto por uma equipe multidisciplinar: assistente social, pedagogo, psicólogo e técnico em assuntos educacionais. Atua nos projetos de contenção de evasão escolar, apoio pedagógico e psicológico, Assistência Estudantil e NAPNE (Núcleo de Atendimento a Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais).
- 141. 140Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer Neste intento, demonstra como os IF’s, por meio de suas normativas próprias, estão institucionalmente incumbidos de promover uma educação inclusiva. Dessa forma, acredita-se que a discussão que é apresentada na sequência fomenta o debate em prol de uma educação pública, gratuita e de qualidade que possa ser usufruída por toda a população brasileira. POLÍTICAS PÚBLICAS NECESSÁRIAS NO COMBATE À EVASÃO ESCOLAR O presente estudo pretende refletir acerca dos impactos de algumas políticas públicas24 no cotidiano de estudantes da educação profissional técnica de nível médio, modalidade concomitante ou subsequente. Mais especificamente do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo – IFSP, Câmpus Votuporanga. O objetivo da pesquisa foi verificar se as políticas públicas (assistência estudantil, transporte, habitação e ações afirmativas25) contribuem diretamente, e de maneira efetiva, na permanência dos discentes – propiciando (ou não) prevenção de situações de retenção e evasão escolar. A assistência estudantil26, mesmo diante da complexidade financeira (recursos financeiros estão cada vez mais escassos), procura assegurar, aos discentes atendidos, direitos que possibilitem a permanência na Instituição de Ensino (IFSP – Câmpus Votuporanga), por outro lado, observou-se por meio desta pesquisa que a permanência dos discentes no IFSP – Câmpus Votuporanga, também depende de outros indicadores como transporte, habitação e ações afirmativas – a partir de suporte da Política de Assistência Estudantil. Do contrário (na falta destas políticas públicas), a superação dos impedimentos ao bom desempenho acadêmico (minimizando dessa forma o percentual de retenção, abandono e trancamento da matrícula), estarão prejudicados. 24 Este trabalho não pretende discutir as diferenças e relações dos termos – política pública e política social. Partiu-se de uma visão mais geral onde política social pode ser entendida como uma modalidade de política pública (CARVALHO, 2013). Sendo assim, a política de transporte, habitação e assistência estudantil (por exemplo) serão todas identificadas enquanto políticas públicas. 25 As políticas/ações afirmativas, segundo Secretaria Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, são tidas como intervenções no sentido de corrigir desigualdades raciais existentes. 26 A Assistência Estudantil no Instituto Federal de São Paulo segue o normatizado pelo Decreto 7.234, de 19 de julho de 2010; Resolução nº 41, de 02 de junho de 2015 e Resolução nº 42, de 02 de junho de 2015. Esclarecendo que a Resolução nº 41, de 02 de junho de 2015, substituiu a Resolução nº 135, de 04 de novembro de 2014, que primeiramente havia substituído a Resolução nº 351, de 10 de junho de 2011.
- 142. 141Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer É notório que pouco adianta a inclusão de estudantes de baixa renda nas Instituições Públicas de Ensino (...), se não houver, de maneira paralela, garantias na legislação que endossem a permanência, êxito e conclusão do curso (CARVALHO; PAULA; AMORIM, 2016, p. 21). Oportuno esclarecer que os discentes contemplados pela Política de Assistência Estudantil no Instituto Federal de São Paulo atendem aos critérios exigidos pela legislação – devem apresentar (prioritariamente) renda per capita de até 1,5 salários–mínimos e ser oriundos (prioritariamente) de escola pública27. Na mesma linha, o ingresso por cotas (ações afirmativas) traz a seguinte exigência: o candidato, para matricular-se no nível médio, modalidade concomitante ou subsequente, necessita comprovar ter cursado integramente o ensino fundamental em escola pública. Também (dependendo a modalidade de cotas que optou) precisa comprovar renda per capita igual ou inferior a 1,5 salários–mínimos e/ou autodeclararão no que se refere a cor: preta, parda ou indígena. Ressalta-se que no período abrangido por esta pesquisa – anos de 2014 e de 2015 - os recursos da assistência estudantil foram suficientes para atender todos os inscritos. Importante reforçar que a pesquisa acompanhou os discentes dos cursos técnico de nível médio concomitante ou subsequente que ingressaram em 2014.1 e com previsão de conclusão em 2015.2 – cursos de Edificações, Eletrotécnica e Mecânica. Os discentes ingressantes no Câmpus Votuporanga são, majoritariamente, oriundos de famílias consideradas de baixa renda – renda per capita igual ou inferior a 1,5 salários-mínimos. Para melhor ilustrar esta realidade, em agosto de 2014 (primeira quinzena) o corpo discente do IFSP Câmpus Votuporanga (turmas dos cursos técnicos nas modalidades concomitante ou subsequente – ingressantes 2014.1) respondeu um questionário socioeconômico (aplicado pela Coordenadoria do Sociopedagógico) com a finalidade de traçar o perfil do aluno e suas vulnerabilidades sociais. Nesta oportunidade colaboraram com a pesquisa (preenchimento do questionário) 63% dos discentes dos cursos técnicos de nível médio concomitante ou subsequente (2014.1), ou seja, 81 de 129 estudantes que ingressaram no primeiro semestre de 2014 responderam o questionário. Quanto aos dados que envolveram renda per capita notou-se que 56 alunos (69% dos que responderam o questionário), encontram-se com renda per capita de até um salário mínimo e meio. Observando-se este critério econômico (sem 27 Os discentes contemplados pela Política de Assistência Estudantil (no período pesquisado) recebiam os seguintes auxílios: alimentação, R$ 200,00 por mês; transporte, R$ 50,00 por mês; moradia, R$ 250,00 por mês; material, R$ 100,00 por semestre e creche, R$ 100,00 por mês. Durante os anos de 2014 e 2015, houve momentos que os discentes acumularam dois auxílios somado ao auxílio material que é semestral.
- 143. 142Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer mencionar outros indexadores socioeconômicos) se evidencia que a maioria dos alunos pode ser atendida pela Política de Assistência Estudantil, ou seja, podem ser considerados em situação de vulnerabilidade28. Esses discentes, certamente, encontrarão dificuldades no transcorrer do percurso acadêmico e, como resultado, em sua carreira profissional. Sendo assim, faz-se necessário a implementação de políticas públicas efetivas (aqui entendida como assistência estudantil, transporte, habitação e ações afirmativas - patrocinadas pela Política de Assistência Estudantil). Somente assim haverá possibilidades para suprir as necessidades materiais exigidas na formação. Certamente a evasão é reflexo (dentro outras coisas) de ordem socioeconômica (CARVALHO; PAULA; AMORIM, 2016). A maioria dos estudantes, da educação profissional técnica de nível médio, modalidade concomitante ou subsequente, sente-se dividida entre a jornada de trabalho extenuante e as exigências do estudo – 79% declararam (via questionário aplicado em agosto de 2014) exercer algum tipo de atividade remunerada. Observado o espaço de vulnerabilidade social e os riscos de insucesso acadêmico procurou-se, por meio deste estudo, ilustrar as políticas públicas que são fundamentais para o sucesso escolar dos sujeitos envolvidos. Torna-se oportuno refletir sobre os dados apresentados nos gráficos abaixo, no âmbito do Instituto Federal de São Paulo (Câmpus Votuporanga) e no que diz respeito aos cursos técnicos de nível médio concomitante ou subsequente (ingressantes 2014.1 e concluintes 2015.2). 28 Importante esclarecer que o recorde trabalhado ilustra bem a realidade do IFSP – Câmpus Votuporanga. Para fins de comparação em dezembro de 2014 foi aplicado um questionário para elaboração do Relatório de Gestão daquele período (exercício 2014) e 70% dos discentes do Câmpus (considerando os discentes do técnico integrado, técnico concomitante ou subsequente e superior) responderam o questionário econômico. Constatou-se que 65% dos discentes possuíam renda igual ou inferior a 1,5 salários-mínimos - faixa considerada de baixa renda/ situação de vulnerabilidade. Percentual semelhante também foi constatado no Relatório de Gestão de 2015 – 55% dos discentes responderam um questionário aplicado em dezembro daquele ano e 69% dos discentes da instituição declararam possuir renda per capita igual ou inferior a um salário-mínimo e meio.
- 144. 143Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer Gráfico1: Concomitante ou Subsequente: Ingressantes 2014.1 O gráfico 1 ilustra o ingresso de 129 discentes em 2014 (primeiro semestre), sendo todos dos cursos técnicos de nível médio concomitante ou subsequente. Destes, 23 (18%) ingressaram não só pelas cotas (reserva de vagas para discentes de escolas públicas), mas também comprovaram renda per capita igual ou inferior 1,5 salários-mínimos. Importante esclarecer que os Institutos Federais (Lei nº 12.711/2012, regulamentada pelo Decreto nº 7.824/2012) precisam reservar no ensino técnico de nível médio no mínimo 50% de suas vagas para estudantes que cursaram integralmente o ensino fundamental em repartições públicas. Destas vagas reservadas (para candidatos oriundos de escola pública) 50% deverão ser asseguradas aos estudantes com renda per capita igual ou inferior a 1,5 salários- mínimos (um salário-mínimo e meio). Diante do exposto, é relevante esclarecer que neste recorte não se considerou discentes oriundos de escolas públicas com renda per capita superior a 1,5 salários-mínimos. Gráfico2 Concomitante ou Subsequente (Turma 2014.1): Cotas (Reserva de vagas por Renda + Escola Pública) e a Assistência Estudantil (PAE) O gráfico 2 ilustra que dos 23 alunos ingressantes via cotas (oriundos de escolas públicas e declarados de baixa renda – per capita de até 1,5 salários- mínimos), 18 (78%) foram beneficiados com auxílios estudantis (auxílio-alimentação, transporte, moradia, material ou creche). Importante esclarecer que houve cinco discentes que ingressaram via cotas (reserva de vagas por renda + escola pública) e 0 50 100 150 Total de Ingressantes Reserva Vagas por Renda + Escola Pública 129 23 100% 18% 0 5 10 15 20 25 Cotas PAE Concluíntes 23 18 6 Cotas PAE Concluíntes
- 145. 144Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer que não foram contemplados pela assistência estudantil. Isso aconteceu porque os discentes desistiram do curso (evadiram) antes do encerramento do período de inscrições para a assistência estudantil ou, quando efetuaram as inscrições, desistiram antes do pagamento do auxílio. Sendo assim, não foram considerados como contemplados pelo PAE. De qualquer forma, fica visível que 33% dos discentes que ingressaram por reserva de vagas (oriundos de escola pública e de baixa renda), e que conseguiram ser contemplados pela Política de Assistência Estudantil, concluíram o curso técnico concomitante ou subsequente. Embora seja um percentual de concluintes aquém do desejado, trata-se de um montante acima dos 29% de concluintes quando se considera o total de ingressantes. Para melhor esclarecer é importante reforçar que em 2014 (primeiro semestre) ingressaram 129 discentes nos cursos técnicos de nível médio concomitante ou subsequente. Destes, concluíram o curso (final de 2015) apenas 38 discentes – 29%. Gráfico 3: Origem do Estudante e Desfecho Observa-se no gráfico 3 que dos 129 discentes que ingressaram em 2014.1, no curso técnico de nível médio concomitante ou subsequente, 78 indicaram, por meio de um questionário aplicado (agosto de 2014), a cidade de origem. Destes 78 discentes, 59 declararam ser de Votuporanga – município onde está instalado o Instituto Federal de São Paulo - Câmpus de Votuporanga. Por outro lado, 19 discentes responderam que são de municípios vizinhos (Cosmorama, Valentim Gentil, Estrela d’ Oeste, Américo de Campos, Cardoso, Jales, Paulo de Faria, Fernandópolis, Riolândia, Meridiano, Pontes Gestal ou Parisi). Nota-se que dos 59 discentes de Votuporanga que ingressaram, 25 (42%) concluíram o curso. Enquanto dos 19 ingressantes de cidades vizinhas, 13 (68%) finalizaram os cursos técnico de nível médio concomitante ou subsequente. Aqui se faz necessário esclarecer que quase todos os municípios vizinhos (exceção de Jales e Fernandópolis) forneciam transporte público gratuito até o local da instituição escolar. Por outro lado, o município da instituição estudada (Câmpus Votuporanga) não fornecia transporte gratuito para os discentes dos cursos técnicos de nível médio concomitante ou subsequente – provavelmente por não existir qualquer obrigatoriedade. Necessário esclarecer que o município de Votuporanga, por meio dos seus gestores, fornecia transporte para discentes dos cursos técnicos integrado 0 10 20 30 40 50 60 70 80 78 59 19 25 13 Ingressantes Concluintes
- 146. 145Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer ao nível médio – na prática para adolescentes entre 15 e 17 anos. Embora sejam realidades distintas, é possível observar que o índice de conclusão nos cursos técnicos integrado ao nível médio é superior – próximo de 60% (Relatório de Gestão do IFSP – Câmpus Votuporanga: Exercício 2014). Caso não houvesse fornecimento de transporte público nesta modalidade (nível) de ensino o percentual de conclusão certamente seria prejudicado29. Gráfico 4 -Tipo de Residência: Relação com Ingresso e Conclusão O gráfico 4, demonstrado acima, indica que dos 129 discentes que ingressaram em 2014.1, 79 responderam (questionário aplicado em agosto de 2014) a pergunta sobre habitação. Destes, 45 declararam possuir residência própria (quitada ou financiada) e 34 não possuem residência própria – morando em casas alugadas ou cedidas. Também é possível observar que quase 2/3 dos discentes que possuem residência própria concluíram o curso. Por outro lado, apenas 1/3 dos que não possuem residência própria concluíram o curso. Ou seja, parece que a questão habitacional (somada a tantos outros indicadores) interferem no percentual de 29Oportuno esclarecer que o objetivo do texto não é exercer crítica a nenhum município específico. Para isso seria necessário estudo aprofundado da realidade de cada um. O objetivo desta pesquisa é ilustrar a importância das políticas públicas, que podem colaborar na redução da evasão escolar. O município de Votuporanga (por exemplo), embora não conceda transporte público para os discentes dos cursos técnico de nível médio concomitante ou subsequente, oferece (como já foi mencionado) aos discentes dos cursos técnicos integrado ao nível médio (uma outra modalidade de curso), não só o transporte escolar, como (via parceria com o IFSP Câmpus Votuporanga) alimentação aos referidos estudantes. Estas ações certamente contribuem de maneira direta no combate à evasão. Não atoa a evasão dos cursos técnicos integrado ao nível médio gira em torno de 40%. Percentual muito menor que o dos cursos concomitante ou subsequente. Interessante reforçar que os cursos técnicos integrado ao nível médio se trata de outro recorte, pois as realidades são distintas. Em razão desta distinção, neste trabalho não se levou em conta os estudantes do técnico integrado. 0 20 40 60 80 Responderam Res. Própria (Fin. ou Quit.) Alugada ou Cedida - OUTRO 79 45 3426 12 Ingressantes Concluintes
- 147. 146Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer permanência e consequentemente de conclusão nos cursos técnicos de nível médio concomitante ou subsequente. Gráfico 5 - Ingresso e Conclusão: Relação Cor Pele O gráfico 5 indica que 79 dos 129 ingressantes responderam questão sobre a cor da pele. Observa-se que 45 (57%) se declararam de cor branca. Por outo lado, 33 (42%) se declararam de cor preta ou parda e 01 (1%) disse ser de cor amarela. Pelo gráfico nota-se que 56% dos declarados de cor branca concluíram o curso e 36% dos que declararam de cor preta ou parda também concluíram. Aqui se processa a seguinte reflexão: a questão da cor da pele está diretamente ligada ao percentual de concluintes, uma vez que se notou um percentual de negros (declarados de cor preta ou parda) inferior ao de brancos quando o tema é permanência e conclusão dos cursos técnicos de nível médio concomitante ou subsequente. Por outro lado, necessário trazer outro dado que não está ilustrado no gráfico acima, mais de 50% dos discentes de cor preta ou parda que concluíram os cursos eram atendidos pela assistência estudantil. Tal cenário ilustra a importância da Política de Assistência Estudantil no Instituto Federal – Câmpus Votuporanga, inclusive diante das questões raciais30. Diante do exposto, faz-se necessário ilustrar os impactos da Política de Assistência Estudantil no IFSP – Câmpus Votuporanga. Levando-se em conta os 129 discentes dos cursos concomitante ou subsequente que ingressaram em 2014 (primeiro semestre), 61 (47%) foram atendidos pela assistência estudantil (auxílio- alimentação, transporte, moradia, material ou creche). Alguns discentes foram atendidos simultaneamente com dois ou até três auxílios. Destes discentes 30 Necessário também pontuar que o discente que se declarou de cor amarela não foi utilizado para fins de comparação com os demais estudantes concluintes (brancos e negros), uma vez que se tratou de um único estudante se autodeclarando de cor amarela. Para efeito de curiosidade trazemos que este estudante concluiu o curso e não foi contemplado em nenhuma oportunidade pela assistência estudantil. Não chegou, em nenhum momento, a realizar inscrição solicitando os auxílios estudantis, haja vista que não se enquadrava nos critérios exigido pela legislação. Apresentava, por exemplo, per capita acima de 1,5 salários-mínimos. Também tinha passado pela rede privada de educação antes de ser matriculado no IFSP – Câmpus Votuporanga. 0 20 40 60 80 79 45 33 1 25 12 1 Ingressantes Concluintes
- 148. 147Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer contemplados pela Política de Assistência Estudantil, 26 (43%) concluíram o curso no tempo regular (duração de quatro semestres). Em um primeiro momento pode se interpretar que o percentual de concluintes é baixo (e de fato pode ser melhor trabalhado), mas comparado com percentual de discentes concluintes que não foram atendidos pela Política de Assistência Estudantil é possível promover uma reavaliação. Veja abaixo: Gráfico 6: Assistência Estudantil: Concluintes Contemplados e Concluintes Não Contemplados Possível notar que dos 68 discentes que ingressaram nos cursos técnico de nível médio concomitante ou subsequente, e que não foram contemplados pelos auxílios estudantis (também chamado de Programa de Ações Permanentes), apenas 12 discentes (18%) concluíram o curso. Por outro lado, o percentual de discentes concluintes que foram assistidos pela Política de Assistência Estudantil chega a 43% (26 discentes). Ou seja, fazendo uma comparação, o percentual de concluintes de discentes assistidos pelos auxílios estudantis são 2,5 vezes maior que os dos não contemplados. Oportuno frisar que todos os discentes que comprovaram renda per capita igual ou inferior a 1,5 salários-mínimos no período (2014.1 e 2015.2) foram contemplados. E se o percentual de permanência não é plenamente eficaz (aqui se refere aos discentes contemplados pela assistência estudantil) pode ser em razão dos valores dos auxílios serem menores que o desejado. Estima-se, segundo posicionamento do FONAPRACE-2014 (Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assuntos Comunitários e Estudantis – Regional Sudeste), que os recursos disponibilizados para assistência estudantil deveriam ser três vezes maiores. Isso certamente contribuiria (de forma eficiente) para reduzir os índices de evasão. Importante deixar claro que não se trata apenas de condição e fatores socioeconômicos, também se faz necessário trabalhar outros indicadores que comprometem a permanência do discente na instituição: capacitação dos docentes que são, mesmo sendo mestres e doutores, predominantemente bacharéis sem formação especificamente pedagógica; ausência (muitas vezes) de empatia entre discentes e docentes; expectativas em relação ao curso escolhido não atendidas; déficit no que se refere a formação/aprendizagem no ensino fundamental e/ou médio e questões pessoais que remetem à saúde do estudante ou de familiar. De qualquer forma, é inegável a importância da Política de Assistência Estudantil no que 0 20 40 60 80 PAE Sem PAE 61 68 26 12 Ingressantes Concluintes
- 149. 148Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer se refere a contribuição junto a permanência dos discentes no seio escolar (CARVALHO; PAULA; AMORIM, 2016). IMPORTÂNCIA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS NO COMBATE À EVASÃO ESCOLAR Os dados trazem que o percentual de concluintes, que envolve os discentes do curso técnico de nível médio concomitante ou subsequente, encontra-se abaixo do esperado – 29%. Levando-se em conta somente os estudantes que não foram contemplados com a Política de Assistência Estudantil (discentes com uma condição socioeconômica mais satisfatória comparado aos assistidos pelos auxílios estudantis) o percentual cai para 18% - índice substancialmente reduzido. Sendo assim, faz-se necessário ampliar a área de abrangência da Política de Assistência Estudantil – visto que nesta esfera o percentual de evasão é 2,5 vezes menor. A pesquisa em tela também procura ilustrar que a permanência dos estudantes requer ações que ultrapassam a Política de Assistência Estudantil. Também se faz necessário políticas públicas no âmbito do transporte e habitação. É necessário que as autoridades compreendam a importância do acesso ao transporte escolar, pois, isso possibilita melhores condições no cotidiano do estudante e, consequentemente, mais chances de permanência e conclusão de cursos – não apenas na modalidade de educação profissional técnica de nível médio concomitante ou subsequente, mas em todos os níveis da educação. Inclusive, nos níveis que não são obrigatórios fornecimento de transporte. Lembrando que não ser obrigatório, não significa proibição. Dessa forma, é possível fornecimento de transporte público e gratuito aos discentes matriculados em qualquer nível ou modalidade escolar, não havendo impedimento legal, desde que haja planejamento e boa vontade. O texto também procurou ilustrar que a habitação (a falta da chamada casa própria) impacta diretamente na permanência do discente no âmbito escolar. É notório que o percentual de evasão é menor quando se trata de discentes detentores de casa própria (quitada ou financiada). Ou seja, mesmo havendo discentes sendo contemplados com auxílio moradia, trata-se de discentes que deixaram o seu município de origem para estudar no Instituto Federal de São Paulo – Câmpus Votuporanga. Ou seja, a legislação não contempla discentes que originalmente residem no município do Câmpus ou em cidades vizinhas com distância inferir a 50 km – mesmo que não possuam casa própria e paguem aluguel. Importante frisar que não trata de mudar os decretos, as resoluções, as portarias ou editais. Ou seja, não adiantaria viabilizar auxílios moradia para todos os discentes que não possui casa própria, se não houver aumento de recursos. Qualquer mudança exige ampliação de recursos que já são escassos. Um auxílio moradia no período de levantamento de dados (2014 e 2015) correspondia a R$ 250,00. Valor que na prática auxilia na despesa com aluguel, mas dificilmente contempla toda a despesa. E mais que o auxílio moradia, fica claro que a preocupação daquele que possui casa própria é menor que aquele que não possui.
- 150. 149Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer Entre garantir a despesa com aluguel ou custos escolares (material e transporte), o estudante opta por desistir do curso e pagar as despesas enquanto inquilino. Saliente, também, ressaltar que tão importante quanto assegurar o acesso ao ambiente escolar, via cotas (política afirmativa), é garantir a permanência deste estudante ingressante. A gratuidade do ensino, característica dos Institutos Federais, se mostra insuficiente no que diz respeito a permanência de estudantes em situação de vulnerabilidade social. Parece necessário intensificação no que se refere as políticas públicas – dentre elas políticas no âmbito de transporte e políticas de habitação. Visto que tais aspectos parecem impactar no processo de permanência no cenário escolar. As cotas (reserva de vagas) aparece como uma política afirmativa importante, mas deve ser complementada com outras políticas – recursos da assistência estudantil (por exemplo), visto que não basta assegurar o acesso, mas garantir a permanência. Lembrando que a Política de Assistência Estudantil se mostra importante no espaço que envolve a cor da pele, haja vista que dos discentes negros (declarados de cor parda ou preta) que concluíram os cursos técnicos de nível concomitante ou subsequente mais de 50% foram contemplados com a Política de Assistência Estudantil. Tal cenário ilustra a importância da Assistência Estudantil no Instituto Federal – Câmpus Votuporanga, inclusive diante das questões raciais. É claro que é preciso mais. Necessário descontruir - segundo Paula, Waidemam e Carvalho (2016) - ideologias que propagam a democracia racial. Haja vista que o percentual menor de concluintes negros (comparado aos brancos) vai ao encontro daquilo que se reflete nos palcos da moda e mídia em geral. Isto é, aos atores e atrizes negras cabe o papel submisso e de inferioridade – papéis marginais. A EDUCAÇÃO INCLUSIVA COMO POLÍTICA PÚBLICA Dentre os 129 ingressantes em 2014.1 (cursos concomitante ou subsequente) constatou-se que não havia discentes com necessidades especiais31. No entanto, a temática da acessibilidade tem sido amplamente debatida como objeto de preocupação por diversos seguimentos da sociedade brasileira, neste 31 Necessário informar que turmas ingressantes no IFSP (Câmpus Votuporanga) em anos anteriores tiveram discentes com necessidades especiais (carência/deficiência física). Houve, inclusive, discentes que concluíram o curso. Dentre os discentes citados também teve aqueles contemplados pela assistência estudantil. É claro que ainda são pouquíssimos os alunos com deficiência que alcançam o nível superior nas instituições públicas de qualidade. E mesmo o texto ilustrando realidades dos cursos técnicos de nível médio concomitante ou subsequente, não ter nenhum discente com deficiência matriculado em 2014.1 (neste nível/modalidade trabalhado no texto) colabora para uma reflexão no que diz respeito às dificuldades enfrentadas por este público que necessita de política pública inclusiva.
- 151. 150Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer contexto, foi necessário imprimir um caráter teórico e legal para que a pessoa com deficiência tivesse seus direitos garantidos (OLIVEIRA; MANZINI, 2008). A inclusão escolar faz parte dessa agenda, onde as prerrogativas da Lei das Diretrizes e Bases (LDB) amparam uma gestão escolar participativa, em conjunto com a comunidade, visando ao acesso universal do ensino em todos os seus níveis. A política de educação inclusiva, no âmbito dos Institutos Federais de Educação Ciência e Tecnologia, segue as normativas e diretrizes da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC), do Ministério da Educação (MEC). Essa secretaria, conforme Art. 13 do Decreto nº 7.690, de 2 de março de 2012, tem como um de seus objetivos “planejar, orientar, coordenar e avaliar o processo de formulação e implementação da Política de Educação Profissional e Tecnológica”. Em termos da legislação internacional, a Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994) enfatiza que: “as escolas devem acolher todas as crianças, independentemente de suas condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas ou outras. Devem acolher crianças com deficiência e crianças bem-dotadas; crianças que vivem nas ruas e que trabalham; crianças de populações distantes ou nômades; crianças de minorias linguísticas, étnicas ou culturais e crianças de outros grupos ou zonas desfavorecidos ou marginalizados” (DECLARAÇÃO DE SALAMANCA, 1994, p. 18). Sabe-se que a política da educação inclusiva não consiste apenas na permanência física dos alunos no ambiente escolar, mas numa mudança de paradigma que representa uma ousadia de rever conceitos e desenvolver o potencial da aprendizagem de alunos considerados com defasagem, sendo o projeto pedagógico da escola um caminho para favorecer esse processo (BRASIL, 2013). A partir da ampliação da Rede Federal do ensino técnico, nota-se vários desafios organizacionais, administrativos e institucionais para que a proposta de um ensino de qualidade seja, de fato, ofertada para a população. É diante disso que cabe a reflexão sobre como a educação especial, fundamentada numa política pública recente, tem sido implantada nos Institutos Federais. Nesta direção, para Dazzani (2010) o que confronta a escola inclusiva, enquanto meta a ser alcançada, tem relação direta com o desenvolvimento de uma pedagogia centrada no aluno e, ainda, capaz de educar com sucesso, incluindo os sujeitos que possuem desvantagens severas. Com efeito, é pertinente a indagação sobre os principais desafios, êxitos ou práticas exemplares constatadas a partir indicadores, estudos de casos ou pesquisas recentes que trazem à tona o cenário da educação inclusiva no Brasil. Para Baptista (2013) a prática pedagógica dirigida para os alunos alvo da educação especial tem sido especializada apenas em sua designação, e a confirmação deste fato tem relação direta com o número reduzido de cursos que formam esses profissionais em nível superior, e com a limitação curricular de tais cursos que afastam os alunos desse tipo de conhecimento pedagógico. Se há graves lacunas na formação de profissionais qualificados na área, quando o aluno precisa de um
- 152. 151Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer conjunto de intervenções para que seus direitos sejam defendidos em sala de aula, o cenário pode ser limitado por resistências, negações ou indiferença. Segundo Prieto, Andrade e Raimundo (2013, p. 107) as políticas educacionais que tratam da inclusão escolar preveem uma tomada de decisões em duas dimensões: “a educação comum e a educação especial; e nessas em pelo menos dois grandes campos: a sua estrutura e a formação continuada dos profissionais”. E, com relação aos direitos da Pessoa com Deficiência, houve avanços importantes em termos jurídicos. Por exemplo, a Lei n° 7.853/89 instituiu a tutela jurisdicional de interesses coletivos ou difusos dessas pessoas, visando a efetiva integração social. Na área educacional, enquanto direitos alcançados, encontramos os seguintes termos da Lei em seu Art. 2: a) a inclusão, no sistema educacional, da Educação Especial como modalidade educativa que abranja a educação precoce, a pré-escolar, as de 1º e 2º graus, a supletiva, a habilitação e reabilitação profissionais, com currículos, etapas e exigências de diplomação próprios; b) a inserção, no referido sistema educacional, das escolas especiais, privadas e públicas; c) a oferta, obrigatória e gratuita, da Educação Especial em estabelecimento público de ensino; d) o oferecimento obrigatório de programas de Educação Especial a nível pré-escolar, em unidades hospitalares e congêneres nas quais estejam internados, por prazo igual ou superior a 1 (um) ano, educandos portadores de deficiência; e) o acesso de alunos portadores de deficiência aos benefícios conferidos aos demais educandos, inclusive material escolar, merenda escolar e bolsas de estudo; f) a matrícula compulsória em cursos regulares de estabelecimentos públicos e particulares de pessoas portadoras de deficiência capazes de se integrarem no sistema regular de ensino; Posteriormente, em 1996 encontramos na Lei de Diretrizes e Bases (LDB) alguns princípios norteadores da Educação Especial. No capítulo V consta a definição conceitual de Educação Especial, a indicação de suporte pedagógico especializado em salas de atendimento, a faixa etária da educação infantil, os deveres dos sistemas de ensino e, por fim, o local de atendimento aos alunos, como observa-se a seguir: Art. 58. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos portadores de necessidades especiais. §1º Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola regular, para atender as peculiaridades da clientela de educação especial. §2º O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não for possível a sua integração nas classes comuns do ensino regular. §3º A oferta da educação especial, dever constitucional do Estado, tem início na faixa etária de zero a seis anos, durante a educação infantil.
- 153. 152Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer Os Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com necessidades especiais: I – currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos, para atender às suas necessidades; II – terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados. Nas últimas décadas o Estado articulou ações, com amplitude em toda a Rede Federal, com o objetivo de desenvolver e a efetivar as práticas inclusivas. Nesse aspecto, destaca-se o programa chamado TEC/NEP, o qual tem como foco a inclusão dos alunos deficientes, superdotados ou com transtornos globais do desenvolvimento nos cursos oferecidos na Rede Federal. Atualmente a política da inclusão na educação pública está vinculada e articulada com a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI), a qual agrega temáticas na área de alfabetização e educação de jovens e adultos, educação ambiental, educação em direitos humanos, educação do campo, indígena, quilombola e questões que tratam das relações étnico-raciais nas escolas. E, nessa secretaria, o órgão que trabalha diretamente com a temática da educação inclusiva é a Diretoria de Políticas de Educação Especial (DPEE). Em 1990, foi realizada a Conferência Mundial sobre Educação para Todos: satisfação das necessidades básicas de aprendizagem, em Jomtien, Tailândia, promovida pelo Banco Mundial, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Participaram educadores de diversos países do mundo, sendo nessa ocasião aprovada a Declaração Mundial sobre Educação para Todos. Nos países pobres e em desenvolvimento, as estatísticas do início da década de 1990 apontavam que mais de 100 milhões de crianças e jovens não tinham acesso à escolarização básica; e que apenas 2% de uma população com deficiência, estimada em 600 milhões de pessoas, recebia qualquer modalidade de educação (MENDES, 2006, p. 395). Essa articulação institucional e jurídica, num âmbito global, repercutiu de forma incisiva nas diretrizes que fundamentam a educação pública brasileira. Mas, além disso, concordamos com Baptista (2013) uma vez que é preciso favorecer a pluralidade de ações complementares, que constituam um currículo pautado na abrangência, na flexibilidade e na garantia de acesso ao conhecimento. Para o autor citado a ação pedagógica voltada para a pessoa com deficiência no contexto brasileiro contemporâneo tem relação com uma rede de interações e saberes que dificilmente comportam um único campo profissional. Ou seja, a discussão sobre a educação inclusiva e a ação docente comporta a diversidade de conhecimentos e profissionais que precisam dialogar com base em uma proposta única e, ao mesmo tempo, compartilhada: a inclusão do aluno. Chama atenção que, com relação aos dados da educação especial nos últimos anos, o Censo Escolar levantado pelo Ministério da Educação aponta uma
- 154. 153Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer evolução importante nas matrículas de alunos com números de 337.326 em 1998 para 843.342 em 2013, um crescimento de 150%. E, no que se refere ao ingresso em classes comuns do ensino regular, houve um crescimento de 1.377%, passando de 43.923 estudantes em 1998 para 648.921 em 2013 (BRASIL, 2013). Contudo, segundo Mendes (2006, p. 391) uma análise da literatura sobre inclusão escolar indica que, “em geral, sua origem é apontada como iniciativas promovidas por agências multilaterais, que são tomadas como marcos mundiais na história do movimento global de combate à exclusão social”. Ou seja, há uma correlação de fatores sociais, políticos e históricos que envolvem vários seguimentos populacionais atingidos por uma gestão do ensino que não prioriza a inclusão de todos aqueles que precisam de uma educação de qualidade, no acesso, permanência e êxito. Isso notadamente ocorre com o público- alvo da educação especial, os alunos com deficiência, mas também, com outras camadas da população, como os negros, indígenas, adolescentes em conflito com a lei, idosos, dentre outras minorias em situação de risco e vulnerabilidade. Dorziat (2011, p.154) afirma que um caminho apropriado para que ocorra sucesso no processo de inclusão não é o desmonte dos serviços de Educação Especial. Para a autora citada na realidade “tanto o ensino regular como a Educação Especial necessitam passar por um processo de reorganização estrutural, material, física e conceitual, mas não de limitação ou mesmo de extinção”. Desse modo, conclui a autora, que restringir serviços que atendem essa população pode incorrer no fortalecimento da proposta de Estado Mínimo da política econômica neoliberal. As transformações do Estado e as relações deste com a sociedade, e o crescente progresso tecnológico – pai do incremento dos mecanismos de exclusão social e da miséria – têm levado populações inteiras, grupos sociais e indivíduos à desesperança e à regressão. Vive-se uma nova farsa: sob a ilusão de que finalmente as decisões são livres e democráticas, o Estado mínimo impõe-se como Estado forte, eliminando regras sociais estabelecidas, se necessário for, com um grau de autoritarismo que não deixa nada a dever aos regimes militares. Os homens podem escolher aquilo que o mercado livre lhe impuser; o apelo ao consumo desenfreado é seguido pela impossibilidade de consumir e de desfrutar dos bens sociais e culturais produzidos em larga escala (SASS, 2010, p. 62). A reflexão sobre a inclusão escolar perpassa, portanto, uma ampla rede de poder que envolvem a política econômica defendida pelo Estado. Alguns reflexos, vividos na prática pela população desfavorecida são: o fracasso escolar, a evasão e o analfabetismo, problemas estruturais que são evidentes há décadas, porém, não se tratam de uma prioridade para poder público ou instâncias competentes. Nota-se uma tendência no controle e distribuição de recursos financeiros para a educação pública, que reforça a garantia de sucesso para os setores privilegiados da sociedade, em detrimento dos setores mais vulneráveis. Isso é, notadamente, comprovado com os indicadores sociográficos que traçam o perfil dos alunos ingressantes e concluintes do técnico no Brasil.
- 155. 154Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer “[...] a escola, admitida como uma complexa instituição social moderna, é determinada pela sociedade em que se inscreve e, por isso mesmo, retém contradições, ambiguidades, problemas e perspectivas específicas; em decorrência, para se enfrentar os problemas da educação escolar, especialmente aqueles relacionados com a formação do aluno, do professor e de todos que direta ou indiretamente da escola fazem parte [...] (SASS, 2010, p. 62) É diante disso que compreendemos que mesmo com avanços jurídicos e legais, como as políticas de ações afirmativas, ainda são poucos os alunos negros, indígenas ou com deficiência que alcançam o nível técnico nas instituições públicas de excelência no Brasil. E, na sala de aula, quando prevalecem estigmas e estereótipos, os professores podem partir do princípio que um olhar superficial para o aluno “permite dizer se ele terá ou não dificuldades para aprender. A percepção inicial que as professoras têm dos seus alunos parece se manter, e a explicação dada é a experiência que possuem” (BRITO; LOMÔNACO, 1983, p. 77). “É claro que não vamos encontrar alguém que defenda a exclusão, a discriminação e a violação dos diretos humanos (a legislação brasileira, inclusive, penaliza quem o faz). Todos são favoráveis à inclusão e à democracia. Porém, o problema é mais complexo do que simplesmente usar palavras de ordem, porque implica questões éticas e epistemológicas” (DAZZANI, 2010, p. 367). A autora citada afirma que “nem sempre a exclusão se resume ao fato de que a criança está fora do espaço físico da escola, mas fora do espaço simbólico da cultura e da economia” (DAZZANI, 2010, p. 365). De fato, há uma relação entre a exclusão social e a exclusão escolar. E este fato vem sendo, cada vez mais, agravado com uma gestão financeira dos recursos públicos que almeja restringir gastos, principalmente quando se trata da Educação Básica. E de fato, “a proposta de educação inclusiva é muito maior do que somente matricular o indivíduo na escola comum, implica em dar outra lógica à escola” (DRAGO; RODRIGUES; DIAS, 2014, p. 18). Diante dessa necessidade de mudança paradigmática, os docentes têm sido alvo de exigências na formação de novas gerações, as quais devem ser educadas segundo o princípio ético da tolerância e do respeito ao outro. E, na relação professor e aluno, o que está em jogo é o desejo de ensinar e aprender. Ao entrar na sala de aula, os professores se deparam com o imprevisível e, às vezes, o indizível no desejo do aluno, enquanto sujeitos em desenvolvimento que trazem suas angústias, dúvidas e incertezas. Diante desta relação complexa, permeada por demandas que se atualizam diariamente, muitas vezes, ocorrem conflitos onde o significante “professor” surge como “bode expiatório” da instituição, sendo representado como incapaz de incluir as diferenças e promover o protagonismo. Desse modo, compreender as particularidades da interação entre os atores principais do palco escolar, suas manifestações e contradições, torna-se imperativo para a escola atual definida como
- 156. 155Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer inclusiva, cujo propósito é atender a toda população, respeitando a diversidade de ritmos, disposições e esquemas cognitivos singulares. CONSIDERAÇÕES FINAIS Cônscios da complexidade da temática proposta para este trabalho, não ousamos propor um esgotamento do assunto e tampouco postular assertivas em definitivo. No entanto, não nos furtamos em apresentar algumas notas à guisa de conclusão. A primeira verificação possibilitada por este texto é a de que a Rede Federal criada em dezembro de 2008 arca com o ônus de um contexto de privação cultural e educacional que a precedeu, sendo neste cenário incumbida, dentre outras coisas, de promover a inclusão social e a disseminação de Educação, Ciência e Tecnologia com patamares de qualidade. Diante desta problemática, constata-se, por meio do caso estudado, que a simples oferta de vagas não é suficiente para garantir a formação da população demandante de serviços educacionais. Neste aspecto destacam-se as ações viabilizadas pela Política de Assistência Estudantil, que como ilustrado nos dados analisados, interferem no rendimento dos alunos. Haja vista que os alunos atendidos pela assistência estudantil apresentam melhores índices do que aqueles não contemplados ou ainda que o resultado geral. No entanto, cabe ressaltar que, embora melhores, os resultados obtidos pelos alunos assistidos ainda não são plenamente satisfatórios e, neste aspecto, a pesquisa em tela demonstrou que tal fato se deve provavelmente a insuficiência de recursos que gera auxílios financeiros defasados (cerca de três vezes menos que o necessário) e também pela existência de outras questões determinantes que não são supridas efetivamente pela assistência estudantil – transporte e habitação, por exemplo. A pesquisa aponta ainda que possíveis soluções para esta situação seriam a ampliação da Política de Assistência Estudantil, com maior aporte financeiro, possibilitando auxílios mais efetivos e diversos para que pudessem suprir a variada gama de necessidades dos estudantes ou, ainda, parceria com outros entes administrativos, como os governos municipais por exemplo, para suprir carências como a de transporte, somente para citar um caso. No concernente especificamente a inclusão de pessoas com necessidades específicas a presente pesquisa careceu de casos concretos, pois a instituição pesquisada não apresentou matrícula de alunos especiais no período selecionado. De todo modo, a revisão bibliográfica realizada aliada ao estudo das normativas viabilizou a constatação de que a Rede Federal tem se mobilizado para institucionalizar políticas inclusivas com o intuito de melhor acolher este público. Embora haja um esforço institucional a discussão realizada demonstrou a grandeza do desafio de incluir a todos na educação profissionalizante e/ou tecnológica e vislumbrou algumas das principais dificuldades. A primeira diz respeito
- 157. 156Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer a nossa tradição educacional que historicamente se demonstrou excludente o que exige uma mudança de atitude e uma consequente sensibilização de todo comunidade escolar para o acolhimento da diferença. Outra grande dificuldade enfrentada ainda pela Rede Federal é a adequação de infraestrutura para que todo aluno seja atendido com qualidade independente de suas limitações e/ou habilidades. E por fim, mas não menos importante demonstrou uma lacuna formativa dos docentes o que se torna um problema multifacetado, pois de um lado os professores se sentem despreparados para lidar com a diversidade e por outro são culpabilizados por uma situação que, em muitos aspectos, extrapola sua competência. Dessa forma, conclui-se que o primeiro passo para que as instituições da Rede Federal se tornem inclusivas foi dado por meio da institucionalização de políticas para este fim, mas que ainda carecem de implementação e efetividade. Não hesitamos, portanto, em afirmar que ações afirmativas não só são benéficas aos alunos da Rede Federal, como são antes de tudo necessárias a democratização da educação de qualidade em nosso país. REFERÊNCIAS Brasil. Decreto nº 7.234, de 19 de julho de 2010. Dispõe sobre o Programa Nacional de Assistência Estudantil – PNAES. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 20 julho. 2010. _______________. Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012. Dispõe sobre o ingresso nas universidades federais e nas instituições federais de ensino técnico de nível médio e dá outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 30 agosto. 2012. _______________. Decreto nº 7.824, de 11 de outubro de 2012. Regulamenta a Lei no 12.711, de 29 de agosto de 2012, que dispõe sobre o ingresso nas universidades federais e nas instituições federais de ensino técnico de nível médio. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 15 outubro. 2012. _______________. Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Brasília: Ministério da Educação, 2013. BAPTISTA, C. R. Ação pedagógica e educação especial: para além do AEE. Em: JESUS, D. M.; BAPTISTA, C. R. Baptista; CAIADO, K. R. M. (Orgs.), Prática pedagógica na educação especial: multiplicidade do atendimento educacional especializado. 1ª ed. Araraquara: Junqueira & Marin, 2013, v. 1 , p. 43-61.
- 158. 157Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer BRITTO, V. M. V; LOMÔNACO, J. F. B. Expectativas do professor: implicações psicológicas e sociais. Psicologia Ciência e Profissão, v. 3, n. 2, p. 57-80, 1983. CARVALHO, Eder Aparecido de. Política Pública versus Política Social: conceituando. Jornal Gazeta de Votuporanga, Votuporanga/SP, p. 2, 2013. _______________; PAULA, Alexandre da Silva de; AMORIM, Ivair Fernandes. Políticas de Inclusão Social: limites e perspectivas da assistência estudantil no IFSP – campus Votuporanga. In: REVISTA ELETRÔNICA “DIÁLOGOS ACADÊMICOS”. Sertãozinho-SP, FNSA-UNIESP, v.10, n.1, p. 17-32, jan-jul, 2016. DAZZANI, M. V. M. A psicologia escolar e a educação inclusiva: Uma leitura crítica. Psicologia, Ciência e Profissão, v. 30, n. 2, p. 362-375, 2010. DORZIAT, A. A Formação de Professores e a Educação Inclusiva: Desafios Contemporâneos. Em: CAIADO, K. R. M.; JESUS D. M.; BAPTISTA, C. R. (Orgs.). Professores e Educação Especial: formação em foco. Porto Alegre: Mediação, 2011, p. 147-159. DRAGO, R.; RODRIGUES, P. S.; DIAS, I. R. Em busca da inclusão. Em: DRAGO, R. (Org.), Transtornos do desenvolvimento e deficiência: inclusão e escolarização. Rio de Janeiro: WAK, 2014, p. 17-28. FONAPRACE (Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assuntos Comunitários e Estudantis - Regional Sudeste). Mesa Redonda “Panorama Nacional da Política de Assistência Estudantil”. Ouro Preto – MG, abr. 2014. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO – IFSP. Resolução nº 351, de 10 de junho de 2011. Regulamenta o Programa de Assistência Estudantil no IFSP. São Paulo: Conselho Superior do IFSP, 10 jun. 2011. _______________. Resolução nº 135, de 04 de novembro de 2014. Aprova a Política de Assistência Estudantil (PAE). São Paulo: Conselho Superior do IFSP, 04 nov. 2014. _______________. Resolução nº 41, de 02 de junho de 2015. Altera a Política de Assistência Estudantil (PAE) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo – IFSP. São Paulo: Conselho Superior do IFSP, 02 jun. 2015. _______________. Resolução nº 42, de 02 de junho de 2015. Altera a Normatização dos Auxílios da Política da Assistência Estudantil (PAE) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo – IFSP. São Paulo: Conselho Superior do IFSP, 02 jun. 2015.
- 159. 158Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO – IFSP (Câmpus Votuporanga). Relatório de Gestão: Exercício 2014. Mar. 2015. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO – IFSP (Câmpus Votuporanga). Relatório de Gestão: Exercício 2015. Abr. 2016. JAPIASSU, Hilton; MARCONDES, Danilo. Dicionário Básico de Filosofia. Rio de Janeiro: 3. Ed. Jorge Zahar, 1996. MENDES, E. G. A radicalização do debate sobre inclusão escolar no Brasil. Revista Brasileira de Educação, v. 11, n. 33, p. 387-405, 2006. OLIVEIRA, E. T. G.; MANZINI, E. J. Acessibilidade na Universidade Estadual de Londrina: o ponto de vista do estudante com deficiência. Em: ALMEIDA, M.A.; MENDES, E. G.; HAYASHI, M. C. P. I. (Orgs.), Temas em Educação Especial: múltiplos olhares. 1ª ed. Araraquara: Junqueira & Marin, 2008, v. 1, p. 220-229 PAULA, Alexandre da Silva de; WAIDEMAM Carlos Roberto; CARVALHO, Eder Aparecido de. Semana da Consciência Negra no IFSP: Práticas e Reflexões. In: REVISTA THEMA. Pelotas-RS, IFSul-Rio-Grandense, v.13, n.3, p. 130-139, 2016. DOI 10.15536/thema.13.2016.130-139.387. PRIETO, R. G.; ANDRADE, S. G.; RAIMUNDO, E. A Inclusão escolar e constituição de políticas públicas. EM: JESUS, D. M.; BAPTISTA, C. R. Baptista; CAIADO, K. R. M. (Orgs.), Prática pedagógica na educação especial: multiplicidade do atendimento educacional especializado. 1ª ed. Araraquara: Junqueira & Marin, 2013, v. 1, p. 105- 126. SASS, O. Educação e Psicologia Social: uma perspectiva crítica. São Paulo em Perspectiva, São Paulo, v. 14, n.2, p. 57-64, 2000. SAVIANI, Dermeval. Plano Nacional da Educação (PNE). Rio de Janeiro, ANPEd, 07 abr. 2014. Entrevista concedida à Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação. SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL. O que são Ações Afirmativas. Acesso em: 24 de janeiro de 2018. Disponível em: <http://www.seppir.gov.br/assuntos/o-que-sao-acoes-afirmativas>. UNESCO. Declaração de Salamanca. Salamanca, 1994. ABSTRACT: The present work sought to illustrate the importance of public policies in the control of school dropout. In this sense, through a case study, called for a reflection on issues inherent to student assistance implemented at the Federal
- 160. 159Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer Institute of Education, Science and Technology of São Paulo - Câmpus Votuporanga. And also on the need for immanent policies on transportation, housing, affirmative action and inclusive education. Inspired by the specialized literature and current legislation, it was intended to reflect on public policies that exceed the simple offer of vacancies, since it is not enough to ensure the education of the demanding population of educational services - especially the most vulnerable segments of the Brazilian population. KEYWORDS: Student Assistance, School Evasion, Public Policies.
- 161. 160Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer CAPÍTULO XII OS ROTEIROS DE ATIVIDADES DE MATEMÁTICA PROPOSTOS PELO CECIERJ PARA TURMAS DA 1º SÉRIE DO ENSINO MÉDIO: UMA BREVE ANÁLISE ________________________ Jonas da Conceição Ricardo Raquel Costa da Silva Nascimento Herivelton Nunes Paiva Reginaldo Vandré Menezes da Mota
- 162. 161Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer OS ROTEIROS DE ATIVIDADES DE MATEMÁTICA PROPOSTOS PELO CECIERJ PARA TURMAS DA 1º SÉRIE DO ENSINO MÉDIO: UMA BREVE ANÁLISE Jonas da Conceição Ricardo Universidade Estácio de Sá/ SEEDUC-RJ/CEFET-RJ Rio de Janeiro-Brasil Raquel Costa da Silva Nascimento Universidade Salgado de Oliveira/ SEEDUC Rio de Janeiro-Brasil Herivelton Nunes Paiva Universidade Salgado de Oliveira/ SEEDUC Rio de Janeiro-Brasil Reginaldo Vandré Menezes da Mota Instituto Nacional de Educação de Surdos – INES Rio de Janeiro-Brasil RESUMO: O presente trabalho é uma edição ampliada de um artigo já apresentado e publicado no IV Congresso Nacional de Educação, acontecido em 2017. A partir da apresentação deste trabalho houve o convite para que o mesmo compusesse, viesse a compor um dos capítulos do livro “Políticas Públicas na Educação Brasileira – Vol. 2”. Para essa edição foram acrescentados mais dados que podem dar um panorama mais amplo da abordagem dos roteiros de atividades e sua potencialidade, bem como discutir, segundo as propostas curriculares nacionais, a abordagem feita em materiais didáticos da disciplina de matemática da 1ª série do Ensino Médio, proposto em um curso de Formação Continuada para Professores do Estado do Rio de Janeiro, que surge como sendo uma forma de Política Pública Educacional apresentada pela Secretaria de Educação do Rio de Janeiro entre os anos de 2011 e 2014. Dentre outras temáticas do curso, existia a proposta de intervenção didática em sala de aula com o material que era ofertado no curso, sendo a sua potencialidade discutida em fóruns temáticos na modalidade EAD. Como metodologia de trabalho, foram analisados os roteiros que fazem parte do 1º ano do ensino médio, verificando sua aplicação, se o mesmo utiliza recurso educação tecnológico ou não. Para ajuda da análise dos roteiros de atividades foi utilizado como referencial teórico, Alarcão (1991), Duval (2004), Gardner(1994) e Nóvoa (2001). Como conclusão do trabalho apresentados o grau de satisfação dos docentes não somente com o material proposto, mas sim com todo o curso em si. PALAVRAS-CHAVE: Políticas Educacionais. Roteiros de Atividades. CECIERJ. Funções. Práticas Educacionais 1- INTRODUÇÃO Após o baixo índice alcançado na avaliação do Índice de desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) em 2009, Nascimento (2013), a Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro, SEEDUC/RJ, deu início a uma séries de ações que
- 163. 162Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer visavam o aumento desse índice em avaliações futuras, dentre as várias ações propostas, Lião (2014), Gomes, Barbosa e Concorrido (2017), no ano de 2011, foi elaborado em parceria com o CECIERJ cursos na modalidade de Ensino à Distância (EAD) para professores de Matemática e Língua Portuguesa do 9º ano do Ensino Fundamental e da 1º série do Ensino Médio. Esse curso perdurou na SEEDUC/RJ entre os anos de 2011 e 2013, sendo que nos anos posteriores ao de 2011 o mesmo chegou atingir as outras séries do Ensino Médio e também outras disciplinas, como História, Geografia, Física e Química. A metodologia do curso consistia em encontros presencias mensais e encontros virtuais na plataforma moodle, um ambiente interativo onde as discussões eram direcionadas sobre o material que o professor estava fazendo uso, dentro do bimestre em questão e, posteriormente, sendo aplicado nas suas turmas onde o mesmo lecionava. Esse material foi elaborado por uma equipe graduada na qual a maioria dos integrantes da equipe atuavam na rede estadual de ensino, logo desde o inicio ele foi pensado no aluno, condizente com o currículo mínimo que a SEEDUC/RJ utilizava (outra ação para melhorar e equiparar o ensino de todo o Estado) e que focava não no conteúdo mas sim nas práticas que o conteúdo em si proporcionava. Esse material é conhecido como roteiro de atividades e para fins de verificação de eficácia do mesmo, após a sua aplicação, os resultados eram discutidos pelos professores da rede estadual de ensino, participantes do curso, em grupos de até 30, nos fóruns temáticos. Para esse trabalho a proposta não é falarmos do Curso “Formação Continuada” mas sim analisarmos brevemente, alguns dos roteiros de atividade da 1º série do Ensino Médio de matemática, verificando a suas aplicabilidades e a suas potencialidades em conformidade ao que trata os documentos norteadores da educação brasileira. 2- OS DOCUMENTOS NORTEADORES E O ENSINO DA MATEMÁTICA Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) foram criados com a intenção de ampliar e aprofundar um debate educacional que envolvesse escolas, pais, governos e sociedade, com o intuito de promover uma transformação positiva no sistema educacional brasileiro. Encontramos nos PCN os critérios necessários para a seleção de conteúdo a serem abordados, seja em sala de aula ou em pesquisa, de acordo com a relevância social. A partir disso, podemos então privilegiar o desenvolvimento intelectual do aluno, indicando a resolução de problemas como o ponto de partida da atividade Matemática, discutindo temas como trabalho em sala de aula, destacando a importância da história da Matemática e a utilização de jogos e Tecnologia da Comunicação em sua abordagem (BRASIL, 1998).
- 164. 163Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer No ano de 1999, o Ministério da Educação e Cultura (MEC), sendo intermediado pela Secretaria da Educação Média e Tecnológica, elaborou os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (PCNEM). Esse trabalho envolveu discussões com especialistas e educadores de todo o país, vislumbrando auxiliar o professor na execução de seu trabalho. Nele é proposto um currículo baseado no domínio de competências básicas, atribuindo significado ao conhecimento escolar na perspectiva de trabalho contextualizado e interdisciplinar (BRASIL, 1999). A Matemática no Ensino Médio, segundo os PCN+ Brasil (2002), tem um valor formativo propiciando a estruturação do pensamento e do raciocínio dedutivo, desempenhando também papel instrumental, por ser uma ferramenta para a vida cotidiana. No seu papel formativo, a Matemática contribui para o desenvolvimento de processos de pensamento e aquisição de atitudes, cuja utilidade e alcance, transcendem o âmbito da própria Matemática, podendo, com isso, preparar o aluno para resolver problemas genuínos, gerando assim o hábito de investigação. Diante disto, os PCN+ definem as prioridades de aprendizado para o ensino da Matemática, a saber: Compreender os conceitos, procedimentos e estratégias matemáticas que permitem a ele desenvolver estudos posteriores, aplicar seus conhecimentos matemáticos a situações diversas, utilizando-os na interpretação na implementação da ciência, na atividade tecnológica e nas atividades cotidianas; analisar e valorizar informações provenientes de diferentes fontes, utilizando ferramentas matemáticas para formar uma opinião própria que lhe permita expressar-se criticamente problemas da matemática, das outras áreas do conhecimento e da atualidade; desenvolver as capacidades de raciocínio e resolução de problemas, de comunicação, bem como o espírito crítico e criativo; estabelecer conexões entre diferentes temas e matemáticos e entre esses temas e o conhecimento de outras áreas de conhecimento do currículo; reconhecer representações equivalentes de um mesmo conceito, relacionando procedimento associado às diferentes representações (BRASIL, 2002, p.25-26). Dentre as finalidades do Ensino Médio, os PCNEM afirmam que deve “[...] estabelecer conexões entre diferentes temas e matemáticos e entre estes temas e o conhecimento de outras áreas de conhecimento [...]” (BRASIL, 1999,p.4). Outro documento oficial (BRASIL, 2002) deixa ainda mais explícita a orientação de se fazer uma associação entre os conteúdos estudados, objetivando maior ênfase ao ensino de funções que prioritariamente se configura em nosso objeto de estudo. A intenção de completar a formação geral do estudante nessa fase implica, entretanto, uma ação articulada, no interior de cada área e no conjunto de áreas. Essa ação articulada não é compatível com um trabalho solitário, definido independentemente no interior de cada disciplina, como acontecia no antigo ensino de segundo grau (BRASIL, 2002. p. 09).
- 165. 164Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer Diante do exposto, fazemos uma breve análise de alguns exemplos de como é apresentado a temática função nos roteiros de atividades propostos pelo CECIERJ e aplicado em sala de aula. 3- O PROCEDIMENTO METODOLÓGICO Para análise desse trabalho, dentre os 39 roteiros de atividades propostos para a 1ª série do Ensino Médio, 21 atividades fazem uso do geogebra, dessas 13 faziam algum tipo de abordagem ao conceito de funções (SOUZA E MARINHO, 2013). A escolha dos roteiros de atividades para este trabalho se deu em conformidade ao que está proposto nos documentos norteadores brasileiros, no que tange a utilização dos recursos tecnológicos na aprendizagem da Matemática; e sobre a interdisciplinaridade com outros conteúdos e aplicação da matemática em outras áreas (BRASIL, 2006), para esse caso especifico foi escolhido a música. Souza e Marinho (2013) ao fazerem um estudo sobre os a inserção de tecnologias nos roteiros de atividades destacam outras finalidades: As atividades sempre levam o aluno à experimentação, ou seja, ao teste das hipóteses formuladas por ele próprio ou pelas atividades e esta se torna mais eficiente devido à característica de matemática dinâmica encontrada no Geogebra, a qual permite a movimentação dos objetos respeitando sempre as relações matemáticas entre eles. Utilizando a experimentação e a matemática dinâmica, proporcionada pelo Geogebra, o aluno possui as ferramentas necessárias para esboçar os resultados dos experimentos, assim se torna capaz de definir conjecturas. Assim o aluno, com o auxílio dos roteiros e do Geogebra, adquire condições de construir seu próprio conhecimento, a sessão seguinte ilustra um dos roteiros. (SOUZA E MARINHO, 2013.p.05) Outro ponto relevante para escolha do material foi o feedback dado pelos professores nos fóruns temáticos sobre a utilização do material em relação a aplicabilidade do mesmo em sala de aula, seus ganhos e suas dificuldades. Para análise dos trabalhos utilizaremos ao longo do texto embasamentos fundamentação teórica, de Alarcão (2001), Duval (2004), Gardner (1994) e Nóvoa (2001). 4- ALGUMAS PROPOSTAS PARA O ENSINO DAS FUNÇÕES APRESENTADA PELO MATERIAL DE CECIERJ E SUAS ANÁLISES. A proposta de material desenvolvido pelo CECIERJ é feita em forma de Roteiro de Atividades onde as mesmas são abordadas levando em consideração um descritor associado, sempre acompanhados por indicadores de duração prevista para a atividade, objetivos, pré-requisitos e material necessário, esses roteiros podem ser apresentados fazendo a utilização de recursos tecnológico ou fazendo uso de material construído pelos próprios alunos.
- 166. 165Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer O primeiro exemplo de Roteiro de Atividade apresentado é baseado em um acidente real, noticiado por uma emissora de televisão, onde se utilizou do conceito de função quadrática para calcular, através da marca de frenagem do carro, a velocidade que o carro estava na hora do acidente. Figura 1 : Roteiro de Atividade Função quadrática Fonte : Material Produzido pelo CECIERJ Fonte : Material Produzido pelo CECIERJ Este Roteiro de Atividade tem por título: “Dirigir e Matemática: tem a ver?”. O objetivo do roteiro é de introduzir o estudo das funções quadráticas a partir da abordagem de resolução de problemas e modelagem matemática, para isso são levando em consideração os seguintes quesitos: Duração prevista: 100 minutos. Área de conhecimento: Funções Quadráticas. Objetivos: Introduzir o estudo das funções quadráticas a partir da abordagem de resolução de problemas e modelagem matemática. Pré-requisitos: Noções de proporcionalidade; conceito de função.
- 167. 166Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer Material necessário: Folha de atividades, apresentada em arquivo anexo; calculadora comum. Organização da classe: Turma disposta em pequenos grupos (2 ou 3 alunos), propiciando trabalho organizado e colaborativo. Descritores associados: H43 – Resolver problemas envolvendo equações do 2º grau. H49 – Reconhecer a representação algébrica ou gráfica da função polinomial do 2º grau. H111 – Identificar uma equação do 2º grau que expressa um problema Ao se trabalhar com este tipo de roteiro de atividade, somos levados a repensar a nossa prática pedagógica (RICARDO, 2016), dando ênfase a uma abordagem diferenciada do que tem sido proposto nos livros didáticos. O potencial da utilização desse roteiro é grande, pois o mesmo trabalho conteúdo integrado como Matemática e Física, o que é umas das prioridades do PCN+ Brasil (2002). Como não se fosse o bastante, o mesmo pode servir para introduzir o aluno a outros tipos de atividades que a matemática pode proporcionar, fazendo uma diversificação da abordagem de conteúdo apresentado, ou como podemos dizer, uma mudança de registo (DUVAL, 2004). O roteiro acima apresentado serviu como base para um trabalho de uma turma da 1ª série do Ensino Médio de uma escola Estadual do Rio de Janeiro, onde abordava-se a interdisciplinaridade entre três disciplinas: Física (cinemática), Matemática (aplicação da função quadrática) e Língua Portuguesa (onde foi trabalhado o conteúdo de produção textual), originando uma atividade produzido pelos próprios alunos, editada e posteriormente disponibilizado no youtube.( disponível em : https://www.youtube.com/watch?v=_Jg4sHU2-nM, acessado em :20.jan.2018 Um outro exemplo de atividade onde a função quadrática é abordada, desta vez fazendo o uso do recurso tecnológico, está exposto abaixo. Figura 2 : Roteiro de Atividade Função quadrática Fonte : Material Produzido pelo CECIERJ
- 168. 167Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer Este Roteiro de Atividade tem por título: “Parábolas Dinâmicas” cujo objetivo é esboçar o gráfico da função quadrática a partir de transformações geométricas percebidas pela análise de sua lei algébrica na forma canônica, levando em consideração os seguintes itens: Pré-requisitos: Reconhecimento do gráfico da função quadrática e de suas propriedades. Material necessário: Folha de atividades; Laboratório de Informática / Projetor Multimídia e Notebook do Professor. Organização da classe: Turma disposta em pequenos grupos (2 ou 3 alunos), propiciando trabalho organizado e cooperativo. Descritores associados: H 49 – Reconhecer a representação algébrica ou gráfica da função polinomial do 2º grau H 112 – Reconhecer o gráfico de uma função a partir de sua lei de formação As atividades propostas neste roteiro de atividade são feitas com o uso do software geogebra. A vantagem de se fazer o uso de um software dinâmico no ensino de funções é algo que amplia a visão do aluno no que tange ao conteúdo abordado fazendo com que haja uma mudança de paradigma na forma de ensino. Para Nóvoa (2001 apud RICARDO, 2016) a transição entre a forma tradicional e a inovação não é algo fácil, devendo sempre observar a abordagem da maneira de ensinar: O equilíbrio entre inovação e tradição é difícil. A mudança na maneira de ensinar tem de ser feita com consistência e baseada em práticas de várias gerações. Digo que nesta área nada se inventa, tudo se recria. O resgate das experiências pessoais e coletivas é a única forma de evitar a tentação das modas pedagógicas. Ao mesmo tempo, é preciso combater a mera reprodução de práticas de ensino, sem espírito crítico ou esforço de mudança. É preciso estar aberto às novidades e procurar diferentes métodos de trabalho, mas sempre partindo de uma análise individual e coletiva das práticas (NÓVOA, 2001, p.12 apud RICARDO, 2016, p.22) Seguindo a mesma linha de utilização de roteiro onde seja abordado a utilização do recurso tecnológico, apresentamos o terceiro roteiro de atividade “brincando com o piano”. Este roteiro é apresentado com as seguintes características: Pré-requisitos: Conhecer funções trigonométricas. Material Necessário: Software GeoGebra; Folha de atividades; Laboratório de Informática (opcional)/Projetor Multimídia e Notebook do Professor. Organização da Classe: Turma disposta em pequenos grupos (2 ou 3 alunos), propiciando trabalho organizado e colaborativo. Este roteiro vem pronto para se trabalhar a função senoide com os alunos, mostrando a eles, por meio de um applet no geogebra como as notas musicais interferem na composição gráfica da função.
- 169. 168Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer Figura 3 : Roteiro de Atividade Brincando com o Piano Fonte : Material Produzido pelo CECIERJ Ao teclar em alguma das teclas das escalas músicas pode-se ver a transformação das curvas da senoide. Figura 4 : Roteiro de Atividade Brincando com o Piano Fonte : Material Produzido pelo CECIERJ
- 170. 169Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer Figura 5 : Roteiro de Atividade Brincando com o Piano Fonte : Material Produzido pelo CECIERJ No primeiro gráfico gerado vemos que as notas musicais tocadas são , Re, Sol, Fa sustenido e Si, já no segundo gráfico temos Re, Fa, La, Sol sustenido o que faz com que haja uma leve diferenciação gráfica. Gardner em seus estudos sobre a Teoria das Inteligências Múltiplas, aponta que a relação matemática e música já é algo antigo: Na época medieval, o estudo cuidadoso da música partilhou muitas características com a prática da matemática, tais como um interesse em proporções, padrões recorrentes e outras séries detectáveis. Novamente no século XX _ primeiramente na esteira da música dodecafônica, e mais recentemente, devido ao amplamente difundido uso de computadores _ o relacionamento entre as competências musical e matemática foi amplamente ponderado. A meu ver, há elementos claramente musicais, quando não de “alta matemática” na música: estes não deveriam ser minimizados. (GARDNER,1994, p. 98) Sendo assim esse roteiro ele não ajuda somente a relacionar matemática ele ajuda a desenvolver outras habilidades, ajuda a estimular outras habilidades, para Gardner (1994) ainda que as inteligências sejam individuais e distintas, o autor defende que raramente as mesmas atuam de forma separada. Com essa mescla, matemática é música o aluno tem a ganhar no sentido prático de ver aquilo que estuda sendo aplicado, fazendo sentido, assim como pode se interessar por campo que o ajude, futuramente a ter o seu potencial mais desenvolvido. Com estes exemplos de roteiros apresentados acreditamos estar em conformidade com a fala de Nóvoa (2001) e também com o pensamento de Alarcão (2001) no que tange aos questionamentos sobre as realizações do que se tem feito na sala de aula.
- 171. 170Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer 5- CONSIDERAÇÕES FINAIS As propostas apresentadas no material do CECIERJ se fazem de suma importância e não tem por finalidade substituir os livros didáticos, mas sim enriquecer os conteúdos ali apresentados programáticos. Na forma de se apresentar os conteúdos não podemos classificar uma alguma como melhor ou pior, apenas podemos dizer que são diferente e podem ser complementares. Em estudos feitos por SILVA, A. C. et al (2013) foi verificado que os professores cursistas do então programa Formação Continuada ao serem perguntados sobre suas práticas pedagógicas, 81% indicaram que desenvolveram novas práticas pedagógicas a partir das atividades propostas pelo material didático, 80% responderam que houve uma melhora significativa no processo de ensino aprendizado e que os alunos apresentaram resultados acima do esperado. Quando perguntado do material didático proposto, 54 % definiram como ótimo e 43 % como bom em relação a clareza dos objetivos das atividades apresentadas. Com isso, concluímos que ainda que não seja o ideal, a proposta apresentada no material em questão tem um valor que transcende a questão do “apresentar um material pronto” para ser aplicado em sala de aula, ele tem servido como se não for o principal, mas um excelente complemento para aulas. Ao se deparar com uma proposta que o transforme a visão sistemática, do que é aprender matemática, os alunos sentem-se confortável e com vontade de aprender mais, mostrando habilidades que muitas das vezes não podem ser percebidas dentro de uma sala de aula “ convencional”, com isso damos liberdade aos nossos alunos para criarem, descobrirem, investigarem e torná-los protagonistas do saber, e é isso que esperamos com atividades onde não só o “saber” seja importante, mas outras variáveis como, companheirismo, liderança, trabalho em grupo, afinal uma pessoa vencedora na vida precisa muito mais que notas altas na escola. REFERÊNCIAS: ALARCÃO, I. Professor-investigador: Que sentido? Que formação? In: CAMPOS, B. P (Org.). Formação profissional de professores no ensino superior. v. 1,. Porto: Porto Editora 2001, p.21-31 BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: Matemática. (3º e 4º ciclos do ensino fundamental). Brasília: MEC, 1998 _______. Parâmetros Curriculares Nacionais - Ensino Médio, Parte III - Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias: MEC/SEMT, 1999. Disponível em: www.inep.gov.br Acesso em 21 Abril. 2012.
- 172. 171Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer _______. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Média e Tecnológica. Parâmetros Curriculares Nacionais (Ensino Médio). Brasília: MEC, 2002. Disponível em: www.inep.gov.br Acesso em 21 Abril. 2012 ________ : Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica, 2006. 135 p. (Orientações curriculares para o ensino médio ; volume 2) CECIERJ, Fundação Centro de Ciências e Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro. Funções quadráticas- matemática – 1º ano – 3º bimestre – 1º ciclo. CEDERJ: Rio de Janeiro, 2011, Disponível em: http://teca.cecierj.edu.br/popUpVisualizar.php?id=54480, acessado em 01.out.2017 DUVAL, R. Semiosis y Pensamiento Humano: Registros Semióticos y Aprendizajes Intelectuales. Universidad del Valle: PeterLang, 2004. GARDNER, H. Estruturas da Mente: a Teoria das Inteligências Múltiplas. Trad.Sandra Costa. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 1994. GOMES, D. A.; BARBOSA, A. C. C.; CONCORDIDO, C. F. R.. Ensino de Matemática Através da Resolução de Problemas: Análise da Disciplina RPM Implantada pela SEEDUC-RJ. Educ. Matem. Pesq., São Paulo, v.19, n.1, 105-120, 2017 LIAO, T. A Elaboração e Instituição do Currículo Mínimo de Matemática no Rio de Janeiro, Tese de Doutorado- Universidade Federal do Espirito Santo- Vitória-174 fls, 2014. NASCIMENTO ,T. R. : A Educação, o Ensino de História e o Currículo Mínimo do Estado do Rio de Janeiro: Currículo Escrito, Em Ação E Formação De Professores. História & Ensino, Londrina. v. 19, n. 2, p. 87-114, jul./dez. 2013 NÓVOA, A.. Professor se forma na escola. Revista Nova Escola, n. 142, maio- 2001, p.13-15, Entrevista concedida à Paola Gentile. RICARDO, J .C..Uma proposta para o Ensino de Funções Quadrática– 1ª Ed- Curitiba: Appris, 2016, SILVA, A. C. et al. Avaliação do Grau de Satisfação dos Professores de Matemática do Estado do Rio de Janeiro com o Curso de Formação Continuada Oferecido Pela Fundação CECIERJ: um estudo piloto. Meta: Avaliação, Rio de Janeiro, v. 5, n. 13, p. 126-157, 2013 ABSTRACT: he present work is an extended edition of an article already presented and published in the IV National Congress of Education, happened in 2017. From the
- 173. 172Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer presentation of this work there was the invitation for it to compose, to compose one of the chapters of the book "Policies Public in Brazilian Education - Vol. 2 ". For this edition were added more data that can give a broader overview of the approach of the activities scripts and their potential, as well as discuss, according to the national curricular proposals, the approach taken in didactic materials of the 1st grade mathematics discipline of High School , proposed in a course of Continuing Education for Teachers of the State of Rio de Janeiro, which appears as a form of Educational Public Policy presented by the Secretary of Education of Rio de Janeiro between the years 2011 and 2014. Among other themes of the course, there was the proposal of didactic intervention in the classroom with the material that was offered in the course, being its potentiality discussed in thematic forums in the EAD modality. As a working methodology, the scripts that are part of the 1st year of high school were analyzed, verifying their application, whether they use technology education or not. To aid in the analysis of the activity scripts, Alarcão (1991), Duval (2004), Gardner (1994) and Nóvoa (2001) were used as theoretical references. As conclusion of the work presented the degree of satisfaction of teachers not only with the proposed material, but with the entire course itself. KEY WORDS: Educational Policies. Activity Schedules. CECIERJ. Functions. Educational Practices
- 174. 173Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer CAPÍTULO XIII POLÍTICA EDUCACIONAL EM MANAUS: INICIATIVAS E DESAFIOS PARA MELHORIAS DO IDEB ________________________ Vilma Terezinha de Araújo Lima Edilza Laray de Jesus Gilson Nazareno da Conceição Dias Suzianne Lima de Moraes
- 175. 174Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer POLÍTICA EDUCACIONAL EM MANAUS: INICIATIVAS E DESAFIOS PARA MELHORIAS DO IDEB Vilma Terezinha de Araújo Lima Universidade do Estado do Amazonas (UEA) Manaus- Amazonas Edilza Laray de Jesus Universidade do Estado do Amazonas (UEA) Gilson Nazareno da Conceição Dias Prof. Secretaria de Estado e Educação do Amazonas (Seduc) Manaus- Amazonas Suzianne Lima de Moraes Graduação em Geografia - Universidade do Estado do Amazonas (UEA) Manaus- Amazonas RESUMO: A pesquisa tem o objetivo de compreender uma das iniciativas de políticas educacionais que visam melhorias do Ideb em Manaus. Tem como objeto de estudo um convênio entre o governo do Estado do Amazonas e a Universidade Federal de Juiz de Fora - MG por meio do Curso de Aperfeiçoamento para Profissionais da Educação (CAEd) e o Sistema de Avaliação do Desempenho Educacional do Amazonas (Sadeam). A metodologia utilizada foi um estudo qualitativo exploratório- descritivo. No estado do Amazonas o sistema de avaliação já vem ocorrendo desde 2008, no entanto, há carência de discussão na academia e mais ainda em publicações para serem utilizadas nos cursos de formação de professores. O texto traz contribuições de professores que participaram dos cursos de formação CAEd. PALAVRAS-CHAVE: Avaliação externa; Sadeam; Manaus. 1. INTRODUÇÃO A onda de reforma educacional varreu o mundo inteiro, criando uma espécie de consenso global a favor da ideia da aferição constante da aprendizagem como sinônimo de uma gestão educacional voltada para a melhoria da qualidade e da equidade. Tais reformas surgiram em vários países. Cuba deu início ao processo na década de 1970, Inglaterra e Estados Unidos no início dos anos 1980, Espanha e Portugal, 1986; no Chile em 1988; França, 1989; México, 1992; Argentina, 1993; Brasil 1978-98. A consolidação e acordo entre países na busca da qualidade ocorreu a partir da Conferência Mundial sobre Educação para Todos, em Jomtien, Tailândia, de 5 a 9 de março de 1990. (ALVES, 2015). Desde então o Banco Mundial passa a cobrar, dos países que buscam empréstimos financeiros, maiores resultados nas avaliações educacionais como condição, por um lado, para a política de modernização dos sistemas educacionais e, por outro, um certo nivelamento desses países demandantes, entendendo que a educação de qualidade impulsionaria o desenvolvimento econômico nos países.
- 176. 175Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer O ingrediente que o Banco agregou, já corrente nos países mais industrializados, foi o argumento de que o processo de globalização econômica estava alterando as bases da competição entre os países e que os sistemas educacionais precisavam se adaptar ao novo cenário internacional mediante uma preocupação cada vez maior com seus indicadores de qualidade. (BROOKE, 2012 apud ALVES; OLIVEIRA, 2015, p. 19). As reformas educativas objetivam unir a educação à economia, isso porque no novo paradigma de produção, as novas tecnologias requerem trabalhadores mais qualificados. Segundo Libâneo, a ordem era sintonizar os sistemas educacionais ao modelo neoliberal. Assim, a avaliação educacional, pode servir, por um lado, para controle e regulação por parte do Estado e, por outro, como mecanismo de introdução lógica do mercado, visando a maior competição e desempenho, além de reforçar valores como individualismo, meritocracia e competência (CATANI, OLIVEIRA & DOURADO 2002, apud LIBÂNEO, 2012, p.263). No Brasil foram implementados programas e políticas norteando o projeto educativo do país, bem como legislações especificas para tais finalidades. Destacam-se entre outros os Parâmetros Curriculares Nacionais-PCNs, o Programa Nacional do Livro Didático, o Exame Nacional do Ensino Médio, as Diretrizes Nacionais de Formação de Professores da Escola Básica, a Resolução CNE/2002 e a Lei n. 11.274 de 2006, de ampliação do ensino fundamental para nove anos, e, por último, a Lei No 13.005 de 25 junho de 2014, que aprova o Plano Nacional de Educação. A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no artigo 9o destaca “assegurar processo nacional de avaliação do rendimento escolar no ensino fundamental, médio e superior, em colaboração com os sistemas de ensino, objetivando a definição de prioridades e a melhoria da qualidade do ensino”. Essa opção política do Estado brasileiro tem o objetivo de buscar o acesso universal à escolarização básica e adequar as instituições aos objetivos de competividade, eficiência e produtividade, tendo como um dos seus elementos a flexibilização do processo de avaliação do ensino- aprendizagem, com o intuito de garantir maior permanência de crianças e jovens na escola (CAVALCANTI, 2012, p. 14). As escolas e alunos passaram a ser avaliados através de programas que se articulam do local (a escola) ao global. No plano internacional destaca-se o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA); no nacional / estadual / municipal o Ideb; e no Amazonas, uma avaliação específica, por meio do Sistema de Avaliação do Desempenho Educacional do Amazonas (Sadeam). Assim, Almeida e Freitas (2013) comentam: O Ideb foi operacionalizado em 2007 como um indicador de qualidade educacional a ser utilizado tanto para orientar no planejamento de políticas públicas educacionais nos diferentes entes federativos (município, estado e Federação) e no financiamento da educação, quanto para servir como informativo à população em geral (ALMEIDA, DALBEN & FREITAS, 2013, p. 1155).
- 177. 176Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer Os rumos que as práticas avaliativas vêm tomando no âmbito do sistema de ensino brasileiro, ao contrário da posição formulada anteriormente, encaminham-se para a subordinação do trabalho dos professores e, portanto, da avaliação que fazem, aos critérios da avaliação do sistema. Nesse caso, não são os objetivos de ensino que irão determinar as formas de avaliação, mas é a avaliação que acabará por determinar os objetivos, ou seja, dependendo das finalidades postas pelos governos em relação à avaliação do sistema de ensino, ter-se-á uma escola funcional a serviço dos interesses de agências externas à escola. (LIBÂNEO; OLIVEIRA; TOSCHI, 2012, p. 199). Ao visitar as escolas é comum os professores relatarem que, em função da avaliação, os tempos de aula das disciplinas são reduzidos pois os alunos precisam treinar para a prova. Nesse sentido Afonso concorda com Rosales ao observar que “o professor, de algum modo, deixa de ser dono dos seus próprios actos, perde autonomia profissional e converte-se num instrumento de objetivos e de normas impostas de fora para dentro” (ROSALES, 1992, apud AFONSO, 2009, p. 82). Dessa maneira os conteúdos geográficos devem ser reduzidos devido o cronograma escolar destinado para atividades direcionadas para elevação dos dados quantitativos do índice da educação. Para Freitas, os objetivos e a extensão das disciplinas nas escolas estão relacionados à avaliação quantitativa. Sob tal perspectiva o autor questiona: Hoje é fato visível nas escolas que a avaliação externa orienta e determina os objetivos e a extensão das disciplinas (em especial português e matemática, mas não menos as demais disciplinas pois que interfere nos tempos que a escola permite dedicar a estas) (FREITAS, 2014, p.1094). A reforma educacional em curso no país coloca em evidência um processo simultâneo de regulação e flexibilização do trabalho docente em contraposição à perspectiva de valorização do professor que busca criar condições para autonomia pedagógica onde o professor deve estimular a reflexão e interpretação da realidade e valorização da capacidade de decisão. Os professores que não exercem a autonomia, a capacidade crítica reflexiva, não pode ensiná-las aos seus alunos, pois ninguém ensina o que não sabe. (CACETE, 2013, p. 56). Quanto aos dados da avaliação, esses são divulgados pelos meios de comunicação, geralmente números classificando a melhor e a pior escola. Esses números são utilizados pelas políticas públicas e interferem diretamente no dia a dia da escola, no entanto pouco se discute esses dados, apenas em algumas escolas são colocados em um cartaz próximo à entrada. [...] os resultados dessas avaliações têm sido apropriados pelas políticas públicas e divulgados pela mídia de tal forma que se chega a acreditar que seus efeitos são inquestionáveis e que, ao interferirem no cotidiano escolar e na vida das pessoas, o fazem de forma sempre benéfica,
- 178. 177Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer desconsiderando-se os diferentes tipos de erro e os variados efeitos colaterais destas políticas (FREITAS, 2014, p.1154). Seguindo as orientações que seguem o curso desde o Banco Mundial até o Ministério da Educação e as Secretarias municipais e estaduais de educação, no estado do Amazonas foi criado o Sistema de Avaliação do Desempenho Educacional do Amazonas (Sadeam), administrado pelo Curso de Aperfeiçoamento para Profissionais da Educação CAEd, da Universidade Federal de Juiz de Fora que oferece curso de aperfeiçoamento aos professores da rede de ensino estadual e um mestrado profissional em Políticas Públicas e Avaliação da Educação. Os recursos vêm do Programa de Aceleração do Desenvolvimento da Educação do Amazonas (Padeam) onde o Governo do Estado, via Seduc, capta recursos internacionais objetivando a ampliação e melhoria do sistema público de educação do Estado. 2. METODOLOGIA O texto traz uma reflexão sobre o Sistema de Avaliação do Desempenho Educacional do Amazonas (Sadeam) e do Curso de aperfeiçoamento CAEd/UFJF. Constatou-se a escassez de dados de pesquisa sobre a temática no estado do Amazonas, apesar do investimento em cursos de formação na área. Assim, baseia- se em pesquisa bibliográfica e documental além de entrevistas com professores da rede de ensino estadual que participaram do Curso de aperfeiçoamento CAEd. Tratando-se de uma abordagem qualitativa exploratória-descritiva. 3. O SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO EDUCACIONAL DO AMAZONAS (SADEAM). O Sadeam foi criado em 2008, buscando aferir o desempenho educacional dos alunos da rede pública estadual de ensino. Em 2011, seguindo modelo adotado em outros estados brasileiros como: AC –SEAPE, AL- AREAL, AM-SADEAM, BA-SABE, CE-SPAECE, ES-PAEBES, GO-SAEGO, MG-SIMAVE, MS- SAEMS, PA –SISPAE, PB- AVALIANDO IDEPB, PE-SAEPE, PE-TRAVESSIA, PI-SAEPI, PR –SAEP, RJ-SAERJ, RS- SAERS, RO –SAERO (Figura 1), consolidou parceria com o Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação (CAEd) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).
- 179. 178Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer Figura 1. Sistemas de Avaliação por Estado Fonte: (CAEd, 2014 apud SILVA & SOARES, 2015). O Sadeam avalia no 3o e 7o ano do Ensino Fundamental e nos anos iniciais e finais da EJA (50 e 90 anos do Ensino Fundamental), Língua Portuguesa e Matemática. No 3o ano do Ensino Médio, para as modalidades de Ensino Regular e EJA, são avaliadas as competências relativas a língua Portuguesa, Matemática, Ciências Humanas e Ciências da Natureza. (GOLVEIA et al, 2014). No Brasil, a sua grande área territorial, com sazonalidades, costumes e culturas diferentes, são entraves para a realização do processo avaliativo. No Amazonas, maior estado brasileiro, além da extensão territorial tem que superar outros desafios como a limitação aos meios de comunicação e dificuldades de transportes para os professores realizarem seus percursos formativos, já que a maioria dos municípios o acesso é realizado por via área ou fluvial. Se levarmos em conta que o sistema depende diretamente da internet complica mais ainda. Além do mais, muitos professores da rede pública de ensino não têm sequer formação para atuar como docentes na área, isso quando tem nível superior. Ainda que o trabalho traga o recorte escalar de Manaus, onde até mesmo em escolas tradicionais o cargo de professor é ocupado por professores de outra área, essa realidade pode ser constatada nos municípios do Amazonas. Além das limitações mencionadas, o perfil socioeconômico é, segundo Freitas, fator de diferenciação no desempenho cognitivo dos alunos e deveria sim, ser considerada para efeito da média de qualidade de uma escola. Dito de outro modo, escolas diferentes têm alunos muito diferentes e é amplamente conhecida a influência do nível socioeconômico no desempenho dos alunos da educação básica. (FREITAS, 2014, p.1160). Bourdieu, outro importante teórico da educação chama atenção para o capital cultural construído ao longo da vivência do indivíduo no âmbito familiar. Em suas palavras:
- 180. 179Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer [...] cada família transmite aos seus filhos, mais por vias indiretas que diretas, um certo capital cultural e um certo ethos, sistema de valores implícitos e profundamente interiorizados, que contribui para definir, entre outras coisas, as atitudes face ao capital e à instituição escolar. A herança cultural, que difere, sob os dois aspectos, segundo as classes sociais, é a responsável pela diferença inicial das crianças diante da experiência escolar e, consequentemente, pelas taxas de êxito (BOURDIEU, 2014, p.46). Se atentarmos para o aspecto socioeconômico e o capital cultural, sinalizados respectivamente por Freitas (2014) e Bourdieu (2014) pode-se inferir que as avaliações da educação em Manaus, ao primar por dados quantitativos, subestima a qualidade do processo. Vejamos os dados da realidade em estudo. O Sistema educacional amazonense, em 2014, era composto por 5.524 escolas, com 1.191.882 matrículas, 41.990 docentes para 50.88 turmas. Atualmente, são 50.444 professores que compõem a Educação Básica, sendo 24.370 na rede estadual, 20.503 na municipal e 5.571 na rede particular. (AMAZONAS, 2015, p.14). Os dados do Sadeam podem ser acessados na página da internet vinculada a UFJF http://www.sadeam.caedufjf.net/, lá estão disponíveis tabelas, gráficos e apostilas para os que estão diretamente ligados ao processo de avaliação externa. Acerca desses dados Gouveia observa que, ao leitor, passa a ideia de que o Sistema é capaz de “produzir informações precisas sobre o desempenho escolar, as avaliações possibilitam, por parte dos atores educacionais, a execução de ações e estratégias voltadas a redução das desigualdades e ampliação das oportunidades educacionais” (GOUVEIA, 2014). Na matriz de referência de Ciências Humanas são objeto de avaliação as habilidades que se referem a conceitos de memória e identidades; representações cartográficas e iconográficas que permitem identificar os significados histórico- geográficos das relações de poder; e análise dos diferentes discursos que influenciam ações das políticas públicas, traduzindo os interesses e enfrentamentos dos diferentes grupos sociais. (GOUVEIA, 2014). No Diário Oficial do Estado do Amazonas de 14/12/2015, o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, empresta ao Amazonas 115.285,041,41 (cento e quinze milhões, duzentos e oitenta e cinco mil quarenta e um reais e quarenta e um centavos) para serviços de consultoria para o Programa de Aceleração do Desenvolvimento da Educação do Amazonas - Padeam. Tal empréstimo tem como fim o Projeto de Expansão e aperfeiçoamento do Sistema de Avaliação de Desempenho Educacional do Amazonas em parceria com a Universidade Federal de Juiz de Fora/CAEd em um contrato com duração de 5 anos. Para tal finalidade a agência executora foi a Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino – Seduc - Am.
- 181. 180Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer 4. CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO O curso de aperfeiçoamento para profissionais da educação pública do Amazonas foi ofertado por meio de um convênio entre a Seduc - AM e Universidade Federal de Juiz de Fora, na modalidade a distância contendo 4 módulos: Módulo 1. Avaliação educacional; Módulo 2. Currículo e Políticas curriculares; Módulo 3. Políticas Educacionais e Legislação e Módulo IV Gestão Escolar. As turmas variavam entre trinta e cinquenta alunos, professores ingressos do concurso de 2011 de todas as disciplinas. Participaram concursados da capital e do interior do Amazonas com cargas horárias de 20 e 40 horas. O sistema dispunha de um tutor(a) que semanalmente publicava na plataforma virtual questionamentos referentes aos módulos estudados. Os “fóruns” eram espaços de interação para o aluno conversar com outros cursistas em seus perfis pessoais ou ainda com o tutor virtual. No fim de cada quinzena o tutor virtual informava o encerramento do debate e individualmente cada aluno recebia um retorno de seu desempenho, normalmente as palavras mais usadas eram “parabéns”, e “com sucesso foi finalizado”. Aos alunos que não participavam dos fóruns, eram encaminhadas mensagens da tutoria solicitando maior interação nos debates. As aulas eram presenciais seguidas por avaliações. Essas aulas eram divididas por coordenadorias distritais (capital) ou por unidades regionais de ensino (interior); os professores eram reunidos em escolas que possuíam auditório, geralmente centros de educação integral (CETI) com equipamentos para a transmissão via internet com professores na UFJF. Cada professor participava de acordo com sua carga horária, independente se o profissional tivesse outro vínculo empregatício (exemplo Seduc/Semed). As aulas consistiam em comentários sobre os textos referentes aos módulos. Era possível enviar perguntas escritas por meio de e-mail e um técnico de cada coordenadoria ficava responsável em enviá-las para o professor na UFJF. As escolas não paralisavam suas atividades, em sua maioria funcionavam em sistema de tempo reduzido (nas escolas de ensino regular o tempo de cinquenta minutos era reduzido em tempos de trinta e nas escolas de tempo integral o período da tarde era reduzido). Os professores que não participavam dos módulos iam normalmente para a escola e assim cumpriam sua agenda. Nos livros de ponto era escrito “formação CAEd” e a frequência dos professores era enviada para as escolas pelo e-mail expresso e para professores faltosos ou que não assinavam as listas era atribuída a “falta” para ser inserida nos livros de ponto. Nesse período foi disponibilizada uma ajuda de custo aos professores participantes do curso que variava de R$ 60,00 (Sessenta Reais) até R$ 100,00 (Cem Reais), para professores com carga horária de trabalho de vinte e de quarenta horas, respectivamente. Esses valores eram disponibilizados por meio de cadastro previamente realizado no site do CAEd informando a conta bancária. Em alguns casos servidores ficaram sem receber esse benefício por falta de informação de suas
- 182. 181Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer escolas ou desconhecimento, pois o próprio site disponibilizava um link de cadastro para conta bancária ou ordem de pagamento. A não participação de um número considerável de professores e a dependência na maioria dos módulos fez com que a Seduc, por meio de Diário Oficial do Amazonas, em março de 2015, publicasse os resultados do estágio probatório. A publicação com o seguinte texto “aprovado na 1ª fase com pendência em CAEd” “aprovado na 2ª fase com pendência em CAEd” e “aprovado na 3ª fase com pendência em CAEd” e dezoito publicações de “não apto ao serviço público”. Esta publicação gerou um desconforto entre os servidores e o surgimento de boatos sobre uma possível “exoneração”, fez com que um grupo de professores entrassem na justiça alegando a ilegalidade do processo. Uma das medidas tomadas pelo CAEd, foi a criação de outras turmas, absorvendo assim os alunos que tinham pendência. Para esses, no portal de acesso, links com atividades substitutivas eram disponibilizados (recuperações), questionários e os fóruns eram abertos novamente como possíveis formas de reabilitá-los ao curso. Cartas circulares foram entregues a todos os cursistas e eram chamados para dar ciência da necessidade de voltar a plataforma virtual. Dentre as possibilidades as apostilas, antes disponibilizadas para download, eram entregues aos professores impressas e em CD ROM. Como iniciativa dos próprios alunos, em algumas escolas grupos de estudos foram criados; nas redes sociais, fóruns de caráter mais informal surgiram. Os mesmos cadernos eram estudados pelos professores em formação, independentemente de sua área de formação e de trabalho, seja das humanas, biológicas ou exatas. Como atitude solidária os cursistas de módulos mais avançados ajudavam colegas em estágio de formação anterior. Foi possível identificar em alguns casos a interação entre os professores que alguns chamavam de “cooperação CAEd” ou “força tarefa do CAEd” esses encontros aconteciam geralmente nos intervalos ou nas HTP (Hora de Trabalho Pedagógico) dos professores. Em 2015, avaliações presenciais foram realizadas para todos os módulos, aos alunos que estavam com pendência, desta feita alocados em escolas sedes da Seduc, necessitando, em alguns casos, realizar provas em dois dias, cada uma referente as atividades que anteriormente tivera perdido. Em algumas escolas as aulas forram suspensas (principalmente as que eram sede de avaliação) e em outras funcionam em sistema de tempos corridos. O que se pode destacar no processo de avaliação e formação do CAEd como válido foi a proposta de interação entre os profissionais da educação pública das mais diferentes realidades na cidade e no interior por meio do uso das tecnologias hoje disponíveis. No período de 2011 e 2014, notebooks, tabletes, mini modems 3Gs, foram doados aos professores e rede wi-fi com terminais foram instalados nas escolas, todas as ferramentas possíveis foram disponibilizadas também nesse período houve a padronização do sistema do diário digital que aboliu o diário físico. Vários anos os professores passaram sem momentos de formação continuada, iniciativas isoladas eram desenvolvidas por secretarias municipais e pela Seduc, a exemplo de seminários, encontros e formações continuadas, era
- 183. 182Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer necessário criar um espaço para troca de experiências, para ouvir os profissionais das mais diversas realidades. Infelizmente poucos são os momentos de encontro dos professores para conversar e trocar experiências. O CAEd era esse espaço, entretanto a forma como o programa foi apresentando aos professores e como foi conduzido não gerou resultados positivos. A resistência de alguns professores e descaso no processo são resultado da não socialização dos processos formativos, isso gerou no meio dos professores conflito e pouco aproveitamento. Como o relato: Os assuntos não eram irrelevantes, mas a maior parte deles não fazia parte do nosso cotidiano, pois as avaliações externas só entravam em nossa rotina como professor durante a aplicação. Não havia programas pedagógicos que visassem o melhor desempenho dos alunos nessas provas. Aliás, na minha escola nem havia pedagogo, só para constar (professora, Seduc, 2011). Para a maioria dos professores do concurso de 2011 o CAEd, como forma de avaliar o estágio probatório, foi imposto de forma inadequada pois não constava no edital. Assim, protestos nas redes sociais, ações jurídicas do sindicato dos professores tentaram impedir a sua validade. [...] a maneira como ele foi aplicado aos professores mostrou-se altamente coercitiva e impositiva, deixando de lado seu valor pedagógico e formador para dar lugar a um critério de punição àqueles que não o fizessem, já que nos era afirmado que seríamos automaticamente exonerados se nos negássemos a fazê-lo. (Professora, Seduc, 2016). No mesmo período a Seduc/Semed/UEA em convênio ofereceram um curso de Especialização em Metodologia do Ensino direcionado para a área de cada professor. O Curso em Metodologia do Ensino de Geografia ministrado por professores da Uea/UFAM foi oferecido aos sábados no período matutino e vespertino. A quantidade de alunos escritos foi de 227, entretanto apenas 164 foram selecionados e 159 matriculados, no final apenas 89 conseguiram concluir o curso. As disciplinas ministradas eram: Teorias da Aprendizagem no Ensino de Geografia; Pesquisa na Formação Docente; Elementos de Geografia Física na Educação; Elementos de Geografia Física na Educação Básica; Elementos de Geografia Humana na Educação Básica entre outras que estava, todas direcionadas para o ensino de Geografia. (MORAES, 2017, p, 56). Alguns professores não concluíram a especialização pois além da carga horária como professor do ensino básico alguns encontravam-se em estágio probatório e faziam o Curso ministrado pelo Caed. Da especialização artigos foram selecionados para compor dois livros que ainda estão no prelo. Em 2013 e 2017 a Seduc realizou convênio com o CAEd/UFJF em um Curso de mestrado profissional em Gestão e Avaliação da Gestão Pública, dissertações foram defendidas a partir de 2015.
- 184. 183Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer 5. CONSIDERAÇÕES FINAIS Embora o CAEd/UFJF seja um centro de referência nacional na execução de programas de avaliação educacional, discutimos aqui a sua importância no aperfeiçoamento de professores no estado do Amazonas. A experiência de um curso para avaliar o professor no estágio probatório não parece ter tido êxito, foi o que mostrou as entrevistas depoimentos e o número de professores reprovados nos módulos registrados no diário oficial do Estado. Assim, a avaliação externa, apesar de oferecer informações relevantes sobre a educação, não pode ser a principal forma de conhecer a realidade das escolas de Manaus, pois os números não refletem a realidade vivida por meios estudantes da educação básica. Os números não revelam os problemas enfrentados na escola como a presença de drogas, falta de pessoal qualificado (pois é comum encontrar professores ministrando a disciplina de geografia sem ter a formação), falta de pedagogo, a infraestrutura precária por manutenção e a falta de biblioteca, entre outros. Fica a pergunta: a quem servem os dados do sistema de avaliação? Enquanto milhões são gastos com materiais e cursos que os professores não valorizam porque não são informados o seu verdadeiro significado, a educação continua passando por problemas, pois a maioria dos professores da rede pública de ensino não é incentivada a debater, a escrever suas experiências, conhecer novas realidades. Seria primordial o cumprimento das Leis que regem o sistema escolar no Plano Estadual de Educação do Amazonas, por exemplo, com número máximo de até 35 alunos por sala de aula no Ensino Médio, em cumprimento a Lei 257 de 30 de abril de 2015, na vigência do Plano Estadual de Educação/AM; Como podemos contribuir com a melhoria da educação sem resolver problemas reais? Como relatado, o curso a distância do CAEd serviu não para cumprir os seus objetivos mais sim para aproximar os professores nas redes sociais. Carece, portanto, de uma discussão crítica e reflexiva sobre o porquê do Curso e qual a sua importância na formação do professor. É mister aproximar os professores-mestres da Universidade para conhecermos mais suas experiências, suas angústias acumuladas ano após ano e ainda, por meio de projetos em parceria, dar visibilidade ao saber docente. Concordamos com Tardif (2014) ao asseverar que os professores, no exercício de suas funções e na prática de profissão, desenvolvem saberes específicos, baseados em seu trabalho cotidiano e no conhecimento de seu meio. Esses saberes brotam da experiência e são por elas validados. Se o professor não for incentivado a escrever suas experiências no futuro ninguém as conhecerá.
- 185. 184Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer REFERÊNCIAS AFONSO, Almerindo Janela. Avaliação educacional: regulação e emancipação: para uma sociologia das políticas avaliativas contemporâneas. 4 ed. São Paulo: Cortez, 2009. ALMEIDA, Luana Costa; DALBEN, Adilson & FREITAS, Luiz Carlos de. O Ideb: limites e ilusões de uma política educacional. Educ. Soc. [online]. 2013, vol.34, n.125, pp.1153-1174. ISSN 0101-7330. http://dx.doi.org/10.1590/S0101- 73302013000400008. ALVES, Maria Tereza Gonzaga; OLIVEIRA, Lina Kátia Mesquita. A Avaliação da Educação Básica: a experiência brasileira, Belo Horizonte, MG, Fino Traço, 2015) AMAZONAS, Plano Estadual de Educação do Amazonas. Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino (SEDUC/AM), Manaus, 2015. BOURDIEU Pierre, Escritos de educação. Maria Alice e Afrânio Catani (organizadores). 15. ed. Petrópolis-RJ: Vozes, 2014. – (Ciências Sociais da Educação). BOURDIEU Pierre, Escritos de educação. Maria Alice e Afrânio Catani (organizadores). 15. ed.Petrópolis-RJ: Vozes, 2014. – (Ciências Sociais da Educação). CACETE, Núria Hanglei. Reforma educacional em questão: os parâmetros curriculares Nacionais para o ensino de Geografia e a formação de professores para a escola básica. In: ALBUQUERQUE, Maria Adailza Martins de; FERREIRA, Joseane Abílio de Souza. Formação, pesquisa e práticas docentes: reformas curriculares em questão. João Pessoa: Mídia, 2013. Cap. 2. p. 47-58. CAVALCANTI, Lana de Souza. O Ensino de Geografia na Escola. Campinas: Papirus, 2012. 208 p. (Coleção Magistério: Formação e Trabalho Pedagógico). FREITAS, Luiz Carlos de. Os reformadores empresariais da educação e a disputa pelo controle do processo pedagógico na escola. Educ. Soc. [online]. 2014, vol.35, n.129, pp. 1085-1114. ISSN 0101-7330. FREITAS, Luiz Carlos de. Os reformadores empresariais da educação e a disputa pelo controle do processo pedagógico na escola. Educ. Soc. [online]. 2014, vol.35, n.129, pp. 1085-1114. ISSN 0101-7330. GOLVEIA, C. A. D’ ASSUMPÇÃO et al. O Sistema de Avaliação do Desempenho Educacional do Amazonas – Sadeam. In: Processo de formação de profissionais da educação pública. Guia de estudos. Vol. 1. CAEd/AMAZONAS, 2014.
- 186. 185Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer LIBÂNEO, J. C.; OLIVEIRA, J. F.; TOSCHI, M. S. Educação Escolar: Políticas, estrutura e organização. Cortez: São Paulo, 2012, 10 ed. 543 p. MORAES, Suzianne Lima. O ideb e seus reflexos no ensino de geografia em Manaus – Am. Trabalho de conclusão do curso de licenciatura em Geografia. Amazonas – Manaus, 2017. SILVA, R. A. da; SOARES, A. P.A. Estudo comparativo do resultado do Sadeam entre duas escolas públicas de ensino médio no município de Manaus. TCC do Curso de Metodologia do Ensino de Geografia. Universidade do Estado do Amazonas, 2015. TARDIF, Maurice. Saberes docentes e formação profissional. 17. Ed. Petrópolis- RJ: Vozes, 2014. ABSTRACT: The research aims to understand one of the initiatives of educational policies that aim at improvements of Ideb in Manaus. It has as object of study an agreement between the government of the State of Amazonas and the Federal University of Juiz de Fora - MG through the Improvement Course for Professionals of Education (CAEd) and the System of Evaluation of Educational Performance of Amazonas (Sadeam). The methodology used was an exploratory-descriptive qualitative study. In the state of Amazonas the evaluation system has been taking place since 2008, however, there is a lack of discussion in the academy and even more in publications to be used in teacher training courses. The text brings contributions from teachers who participated in the CAEd training courses. KEYWORDS: External evaluation; Sadeam; Manaus
- 187. 186Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer CAPÍTULO XIV POLÍTICAS EDUCACIONAIS E INTERCULTURALIDADE: UMA ANÁLISE DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À INCLUSÃO DIGITAL NAS COMUNIDADES INDÍGENAS ________________________ Neide Borges Pedrosa Rogéria Moreira Rezende Isobe Fernanda Borges de Andrade
- 188. 187Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer POLÍTICAS EDUCACIONAIS E INTERCULTURALIDADE: UMA ANÁLISE DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À INCLUSÃO DIGITAL NAS COMUNIDADES INDÍGENAS Neide Borges Pedrosa Universidade Federal de Rondônia, Porto Velho – RO. Rogéria Moreira Rezende Isobe Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Uberaba – MG. Fernanda Borges de Andrade Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Uberaba – MG. RESUMO: O trabalho apresenta resultados de uma investigação cujo escopo foi analisar o processo de implantação de ambientes digitais nas escolas das aldeias Arara-Karo e Gavião-Ikolen – localizadas na Terra Igarapé Lourdes (Ji- Paraná/Rondônia) – como parte de um processo de inclusão digital das comunidades indígenas. A pesquisa realizada em 2010 utilizou-se da metodologia fundamentada numa abordagem qualitativa na perspectiva da pesquisa-ação que possibilitou o envolvimento entre os sujeitos da pesquisa de modo cooperativo ou participativo. Os referenciais teóricos que nutriram a investigação pautaram-se no entendimento de que a interculturalidade pressupõe a convivência e coexistência de culturas e identidades diferenciadas. Nesse sentido entende-se que para o indígena se inserir na modernidade não significa que deva abdicar de sua origem, modos de vida e tradições; significa, sim, interagir com outras culturas de forma consciente e, a partir de sua referência identitária, rejeitar a homogeneização condicionada por um mundo globalizado. O estudo foi realizado com onze professores indígenas por meio de duas atividades articuladas: 1) atividades de formação continuada no processo de implantação de telecentros nas escolas das aldeias em decorrência da política nacional de inclusão digital; 2) observação e registro dos modos de apropriação das TICs pelos indígenas. Os resultados demonstraram que aquelas comunidades indígenas reconhecem a importância da inclusão digital para superação dos processos de exclusão social e para produção de conteúdo voltado para preservação de sua cultura e construção de uma rede de integração entre os povos indígenas para o exercício da cidadania e luta pelos direitos sociais. PALAVRAS-CHAVE: comunidades indígenas; política educacional, inclusão digital, interculturalidade. 1- INTRODUÇÃO Na América Latina, as comunidades indígenas se constituem como grupos vulneráveis devido aos inúmeros preconceitos étnicos que os levam a negar suas identidades como estratégia de sobrevivência e para amenizar a discriminação e estigma em função dos seus costumes tradicionais. Nesse processo os indígenas acabam se distanciando de sua própria cultura ao mesmo tempo em que são excluídos da cultura capitalista urbana. No entanto, desde o final do século passado vem ocorrendo no Brasil um fenômeno de reetinização, conhecido como “etnogênese” que consiste na
- 189. 188Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer reafirmação de identidade de um povo étnico, após ter deixado de assumir sua identidade, por circunstâncias históricas, recuperando aspectos relevantes de sua cultura (BANIWA, 2006). A saída da invisibilidade ocorreu no âmbito de um processo de luta desses povos pela sua afirmação étnica que engendrou melhorias nas políticas públicas, advindas da conquista de direitos e de cidadania por parte das comunidades indígenas. Ainda assim, muitos jovens indígenas têm dificuldades no acesso ao ensino superior e poucas possibilidades de emprego digno ficando vulneráveis a todo tipo de violência, assistência precária à saúde, discriminação étnica, homicídio, suicídio e abuso de drogas (POPOLO; LÓPEZ; ACUÑA, 2009). Baniwa (2006) – primeiro índio a obter o título de Mestre em Antropologia Social no Brasil – observa que atualmente “vive-se um período de consolidação do movimento indígena, de políticas públicas específicas e de revalorização das culturas” (p. 29). Ele analisa que os povos indígenas brasileiros são sobreviventes e resistentes do processo de colonização europeia, que vivem o desafio de consolidar um espaço na vida multicultural do país. No âmbito das políticas públicas nota-se alguns avanços nas conquistas dos povos indígenas, notadamente nas áreas de saúde e educação básica, referenciadas pela busca de superação das histórias de práticas tutelares e paternalistas de políticas indigenistas oficiais. Entre os desafios para o desenvolvimento de políticas públicas voltadas para os direitos dessa população, destaca-se a possibilidade do acesso do indígena aos artefatos e instrumentos, ao conhecimento e valores do mundo global como o acesso às TICs (POPOLO; LÓPEZ; ACUÑA, 2009). No que se refere à educação, nota-se que as prescrições constitucionais vigentes buscam assegurar às sociedades indígenas uma educação escolar específica e diferenciada, intercultural e bilíngue (BRASIL, 1988). A relevância dessa conquista pode ser analisada quando observamos que, até o final da década de 1970, a educação escolar indígena foi marcada por um paradigma assimilacionista, ou seja, que tinha por objetivo incorporar, assimilar os valores e comportamentos, inclusive linguísticos, da sociedade nacional. Dessa forma, vivia-se um modelo educacional que trabalhava a submersão cultural e linguística do índio na sociedade dominante. Os fortalecimentos políticos das associações indígenas levaram a uma importante conquista legal: pela primeira vez foi assegurado na Constituição Federal o direito das populações indígenas terem seus costumes e seus princípios educacionais respeitados no processo de escolarização formal. A ênfase da Constituição Federal de 1988 em uma educação escolar específica e diferenciada resultou em medidas adotadas a partir do Decreto Federal 26/91, que consistiram na retirada da incumbência do órgão indigenista, a Fundação Nacional do Índio (FUNAI), em conduzir processos de educação escolar nas sociedades indígenas, atribuindo ao MEC a coordenação das ações e sua execução, aos Estados e Municípios. Por sua vez, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) em seus artigos 26, 32, 78 e 79 estabelece que a educação escolar para os povos indígenas deve ser intercultural e bilíngue para a reafirmação de suas identidades étnicas, recuperação de suas memórias históricas, valorização de suas línguas e
- 190. 189Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer ciências, além de possibilitar o acesso às informações e aos conhecimentos valorizados pela sociedade nacional (BRASIL, 1996). Tais conquistas configuram um paradigma emancipatório em termos de educação indígena: trata-se de um modelo que busca promover o respeito às crenças, aos saberes e às práticas culturais destes povos ao mesmo tempo em que promove interlocução da tradição com a modernidade. Nessa conjuntura, torna-se fundamental a realização de pesquisas e ações voltadas para a formação de docentes para a escola Indígena de modo a assegurar a constituição de valores, conhecimentos e competências gerais e específicas para a efetividade do compromisso da sociedade brasileira, assumido através deste corpo de leis, suas diretrizes e normatizações. É nesse caminho de reflexões que se situa esta pesquisa que foi realizada em 2010 com o objetivo analisar o processo de implantação de ambientes digitais nas escolas das aldeias AraraKaro e Gavião-Ikolen – localizadas na Terra Igarapé Lourdes (Ji-Paraná/Rondônia), como parte de um processo de inclusão digital das comunidades indígenas. Este trabalho foi organizado em três seções. A primeira apresenta os referenciais teóricos que subsidiaram a investigação. A segunda discorre sobre desenvolvimento da pesquisa ressaltando os sujeitos envolvidos bem como os procedimentos metodológicos. A terceira evidencia os resultados da investigação. Por fim, serão apresentadas algumas considerações finais que sumarizam os principais resultados da pesquisa. 2- REFERENCIAL TEÓRICO Os referenciais teóricos que nutriram a investigação pautaram-se no entendimento de que a interculturalidade pressupõe a convivência e coexistência de culturas e identidades diferenciadas. Baniwa (2006, p. 50) afirma que “a consciência de uma cultura própria é, em si, um ato libertador, na medida em que vence o sentimento de inferioridade diante da cultura opressora”. Para ele nenhuma prática intercultural pode confundir o conceito de cidadania diferenciada com desigualdade ou inferioridade. A obra de Baniwa (2006) corrobora um consenso, hoje vigente: para o indígena se inserir na modernidade não significa que deva abdicar de sua origem, modos de vida e tradições; significa, sim, interagir com outras culturas de forma consciente e, a partir de sua referência identitária, rejeitar a homogeneização condicionada por um mundo globalizado. Buscar esta identidade, entretanto, não quer dizer construir uma identidade indígena genérica, mas, identidades étnicas específicas, presentes na diversidade cultural dos diferentes grupos étnicos abrigados sob a denominação mais ampla de povos indígenas do Brasil. Nesse contexto, o indígena tem clareza de que precisa ter acesso às tecnologias e informações do mundo globalizado para se fortalecer e lutar por seus interesses e sobrevivência. Ou seja, a preservação de sua cultura e de sua autonomia
- 191. 190Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer pressupõe o acesso ao conhecimento de forma também autônoma, contrapondo-se a uma “conquista” manipulada, quando tal processo não se dá através de um diálogo intercultural. O reconhecimento de que a tecnologia tanto serve para a emancipação como para a dominação engendrou a importância de eleger como discussão conceitual a questão da humanização pela tecnologia, com desdobramentos em termos de emancipação. Nesse sentido, o pensamento de Freire (1979, p.22) referenciou o procedimento analítico quando o autor, estabelece relação entre humanização e tecnologia: [...] se o meu compromisso é com o homem concreto, com a causa de sua humanização, de sua libertação, não posso por isso mesmo prescindir da ciência, nem da tecnologia, com as quais me vou instrumentando para melhor lutar por esta causa (FREIRE, 1979, p.22). O autor explicita, assim, o falso dilema entre humanismo e tecnologia, isto é, não há como negar que a humanização nos tempos atuais passa pela superação de uma oposição equivocada à apropriação da tecnologia. E ao falar do uso das tecnologias na educação assim se expressa: [...] nunca fui ingênuo apreciador da tecnologia: não a divinizo, de um lado, nem a diabolizo, de outro. Por isso mesmo sempre estive em paz para lidar com ela. Não tenho dúvida nenhuma do enorme potencial de estímulos e desafios à curiosidade que a tecnologia põe a serviço das crianças e adolescentes das classes sociais chamadas desfavorecidas (FREIRE, 1979, p.87). A propósito das TICs são pertinentes as observações de LÉVY (1999) [...] acesso para todos sim! Mas não se deve entender por isso um acesso ao equipamento, a simples conexão técnica que, em pouco tempo, estará de toda forma muito barata (...) devemos antes entender um acesso de todos os processos de inteligência coletiva, quer dizer, ao ciberespaço como sistema aberto de autocartografia dinâmica do real, de expressão das singularidades, de elaboração dos problemas, de confecção do laço social pela aprendizagem recíproca, e de livre navegação nos saberes. A perspectiva aqui traçada não incita de forma alguma a deixar o território para perder-se no ´virtual`, nem a que um deles ´imite` o outro, mas antes a utilizar o virtual para habitar ainda melhor o território, para tornar- se seu cidadão por inteiro (p.196). Nessa perspectiva, a inclusão digital é considerada como uma das formas de combater estereótipos relacionados às comunidades indígenas e equalizar oportunidades em uma sociedade marcada por diversas formas de exclusão das diferentes etnias e classes sociais. Inclusão digital aqui é concebida na perspectiva de Young (2006, p. 97) que pode ser considerada como “aprendizagem necessária ao indivíduo para interagir no mundo das mídias digitais, podendo não apenas saber onde encontrar a informação, mas também qualificá-la e torná-la útil para seu dia-a-
- 192. 191Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer dia”. A investigação se nutriu dos referenciais teóricos alinhados à análise da a inclusão digital configura-se, pois, como importante processo de inclusão social numa perspectiva de emancipação humana. São pertinentes ainda as observações de Sorj (2003, p. 14) “embora aceitemos que as novas tecnologias não sejam uma panacéia para os problemas da desigualdade elas constituem hoje uma das condições fundamentais de integração na vida social”. 3- DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA O desenvolvimento da pesquisa ocorreu no âmbito do processo de implantação de dois Telecentros em escolas das aldeias Arara-Karo e Gavião-Ikolen – localizadas na Terra Igarapé Lourdes (Ji-Paraná/Rondônia). As aldeias foram beneficiadas pelo Programa Nacional de Apoio à Inclusão Digital nas Comunidades, coordenado pelo Ministério das Comunicações, que tem como prioridade oferecer ferramentas em tecnologias de informação e comunicação para áreas remotas e excluídas com escassez de infra-estrutura de telecomunicações. Nesse contexto, duas escolas indígenas representantes daquelas etnias foram beneficiadas com salas de informática providas de mobiliários e 10 computadores conectados à internet em banda larga – estabelecida com antena do GESAC – com o objetivo de promover a inclusão digital e social das comunidades envolvidas. A investigação teve como público alvo professores indígenas que atuavam nas 8 (oito) escolas das aldeias. No momento de desenvolvimento da pesquisa as etnias contavam com um quadro de 19 (dezenove) docentes indígenas sendo 07 (sete) da etnia Arara e 12 (doze) da etnia Gavião. Participaram da pesquisa 11 (onze) professores destas duas etnias, pois, nem todos tinham condição de fazer o curso de formação continuada em inclusão digital – que configurava-se em uma das etapas da investigação – já que o mesmo coincidia com o calendário do curso de formação do Projeto Açaí ministrado pela Secretaria Estadual de Educação - SEDUC- RO. Os participantes, professores das etnias Arara e Gavião das aldeias da Terra Igarapé Lourdes de Ji-Paraná/RO, tiveram sua formação de Magistério Indígena. Dos 11 (onze) professores 9 (nove) são homens; à época da pesquisa o grupo tinha entre 27 e 35 anos; todos possuíam formação docente em nível médio por meio do Projeto AÇAI da SEDUC-RO e 8 (oito) deles frequentavam a Licenciatura em Educação Básica Intercultural, da Universidade Federal de Rondônia - UNIR. A metodologia fundou-se numa abordagem qualitativa (MINAYO, 2007) na perspectiva da pesquisa-ação definida por Thiollent (2005, p. 14) como investigação realizada “em estreita associação com a resolução de um problema coletivo e na qual o pesquisador e participantes estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo”. Esse processo foi marcado por pelo respeito à cultura indígena, seus valores, anseios e expectativas em relação às TICs. Aqui foram importantes as premissas de Morin (2004) que entende a pesquisa-ação fundamentada em um
- 193. 192Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer objetivo emancipatório e transformador do discurso, das condutas e das relações sociais; porém, sem pretender apontar respostas, indica os possíveis caminhos para superar os desafios postos pela situação-problema, no caso, a inclusão digital de comunidades indígenas. Nesse processo, foi utilizado um conjunto de procedimentos que viabilizou situações de interação com os sujeitos da pesquisa. Após a instalação dos equipamentos, iniciou-se o curso de formação continuada em inclusão digital. O curso foi estruturado em 03 módulos de 60 horas, perfazendo um total de 180 horas/aulas, desenvolvidas no período de março/2010 a nov/2010. As atividades formativas abordaram as seguintes temáticas e ações: a) contato com a máquina, identificação dos componentes (CPU, monitor, teclado, etc), sequência dos atos de ligar e desligar; b) criação de e-mail pelos participantes, promovendo-se, em primeiro lugar, a troca de e-mails entre eles; c) pesquisa na internet, a partir da ideia de se buscar a informação sobre o significado do próprio nome para subsidiar a história de vida; d) criação do blog de cada uma das duas etnias para a divulgação cultural das mesmas; e) desenvolvimento de habilidades e competências relativas ao uso didático-pedagógico das tecnologias na sala de aula; f) debates e discussões sobre as possibilidades de apropriação crítica e social das tecnologias digitais de rede, reconhecendo seu potencial crítico e emancipatório. Também foram realizadas várias visitas às aldeias com a técnica de observação e registro em um diário de bordo sobre a experiência de implantação de ambientes digitais nas aldeias. 4- RESULTADOS Os resultados demonstraram que os professores indígenas que participaram da pesquisa reconhecem a importância da inclusão digital para superação dos processos de exclusão social. Compreenderam ainda que inclusão digital supera o acesso às tecnologias e está relacionado com o empoderamento do sujeito para transformação de sua realidade. Isso se evidenciou nas discussões sobre a necessidade de apropriação crítica das TICs e nos modos de interação com o mundo das mídias digitais. Foram realizadas algumas ações que evidenciam o protagonismo indígena: produção de materiais didáticos específicos em sua língua, voltado para a preservação de sua cultura e lutando pelo direito à identidade de seu povo; criação de blogs de cada etnia e utilização dessa ferramenta para integração entre as aldeias, divulgação e registro de eventos e reuniões, difusão de conteúdo permitindo, desta forma, diminuir as distâncias e facilitar a comunicação; apropriação da internet para concretização de uma ponte intercultural com o movimento indígena nacional, com acesso a portais, comunidades, blogs e sites de organizações voltados para conscientização dos direitos indígenas e denúncia contra preconceitos e discriminações contra essa população (ex: portal índios on line www.indiosonline.org.br e Ação dos Jovens Indígenas-AJI www.ajindo.blogspot.com ); realização de pesquisas para subsidiar as atividades docentes de modo a agregar
- 194. 193Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer valor ao processo de formação das novas gerações de sua etnia; iniciativa de organização de um projeto para preservação dos bens imateriais mais antigos das etnias como os mitos, histórias e dicionário na língua Karo. Por meio de posturas que evidenciaram, autonomia, coletividade e cooperação os sujeitos se apropriaram das mídias digitais para produção de conteúdo voltado para preservação de sua cultura e construção de uma rede de integração entre os povos indígenas para o exercício da cidadania e luta pelos direitos sociais. 5- CONSIDERAÇÕES FINAIS As políticas de inclusão digital engendradas pelo programa do governo federal apresentam lacunas a serem preenchidas, pois para que se efetive essa inclusão, além do fornecimento de equipamentos é preciso investir nos processos de formação crítica para o uso criativo e produtivo das informações digitais das redes. A inserção dos povos indígenas na modernidade não significa a abdicação de suas origens, modos de vida e tradições; significa, sim, interação com outras culturas a partir de sua referência identitária, rejeitando a homogeneização condicionada por um mundo globalizado. As TICs são, pois, concebidas como ferramentas que permitem ao usuário ser um agente ativo na produção e veiculação de informações próprias, como emissor em conexão com as mídias digitais. O desenvolvimento da pesquisa-ação possibilitou a experiência de um processo inicial mais amplo de inclusão digital na medida em que este trabalho faz a opção pela emancipação enquanto conceito que, inspirado no pensamento freiriano, norteou uma experiência de formação de sujeitos críticos, participantes da construção do próprio conhecimento, no contexto de uma prática que buscou caminhos para superar uma trajetória de dominação das comunidades indígenas. Nesse processo, a relação com indígenas não os concebeu como “depositários” de um conhecimento levado pronto para eles, mas, como sujeitos de um processo de construção de consciência de si e da sociedade envolvente; ali, os próprios “aprendentes” se refizeram dialeticamente a partir de suas experiências anteriores em diálogo com a experiência de agora, isto é, mediando-se conhecimento e opções pela reflexão sobre si mesmo e sobre a chegada das TICs no cotidiano daquelas etnias. Conclui-se que inclusão digital configura-se como um processo muito complexo que vai além da instalação de equipamentos e utilização de tecnologias. Existem elementos multifacetados que envolvem movimentos de conscientização e empoderamento ocorrem, necessariamente, por meio de processos formativos críticos e criativos.
- 195. 194Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer REFERÊNCIAS BANIWA, G. S. L. O índio brasileiro: o que você precisa saber sobre os povos indígenas no Brasil de hoje. Brasília: MEC/Secad; Museu Nacional/UFRJ, 2006. BRASIL. Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei No. 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil. Brasília, DF, 23 dez. 1996. Ano CXXXIV, n. 248. BRASIL. Constituição Federal de 1988. Promulgada em 5 de outubro de 1988. Disponível em: http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/legislacaoConstituicao/anexo/CF.pdf. FREIRE, P. Educação e mudança. Tradução de Moacir Gadotti e Lillian Lopes Martin. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979. (Coleção Educação e Comunicação, v.1). LÉVY, P. Cibercultura. São Paulo: Editora 34, 1999. MINAYO, M. C. de S. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 10ª ed. São Paulo: Hucitec, 2007. MORIN, A. Pesquisa-ação integral e sistêmica: uma antropedagogia renovada. Rio de Janeiro: DP&A, 2004. POPOLO, F. D.; LOPEZ, M.; ACUÑA, M. Juventude Indígena e ascendência africana na América Latina: desigualdades sóciodemográficas e desafios. Madrid, Espanha: Centro Latino Americano e Caribeño de demografia/División de Problación de La Cepal, 2009. Disponível em: www.cepal.org/celade/noticias/documentosdetrabajo/3/38523/ebook_juventud_i ndigena_pt.pdf. Acesso em: 07 abril. 2017. SORJ, B. Brasil@povo.com: a luta contra a desigualdade na sociedade da informação. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed.; UNESCO, 2003 THIOLLENT, M. Metodologia da pesquisa-ação. 6. ed. São Paulo: Cortez, 2005. YOUNG, R. A inclusão digital e as metas do milênio. Inclusão social. v.1, n.2, p.96-99, abr/set. 2006. ABSTRACT: The work presents results of an investigation whose scope was to analyze the process of implantation of digital environments in the schools of the villages Arara-Karo and Gavião-Ikolen - located in Terra Igarapé Lourdes (Ji-Paraná /
- 196. 195Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer Rondônia) - as part of an inclusion process communities. The research conducted in 2010 used the methodology based on a qualitative approach from the perspective of action research that made possible the involvement of the research subjects in a cooperative or participatory way. The theoretical references that nourished the investigation were based on the understanding that interculturality presupposes the coexistence and coexistence of different cultures and identities. In this sense, it is understood that for the Indian to be inserted in modernity does not mean that he must abdicate his origin, ways of life and traditions; it means interacting with other cultures in a conscious way and, based on their identity reference, to reject the homogenization conditioned by a globalized world. The study was carried out with eleven indigenous teachers through two articulated activities: 1) continuous training activities in the process of implementing telecenters in village schools as a result of the national policy of digital inclusion; 2) observation and registration of indigenous ways of appropriation of ICTs. The results showed that these indigenous communities recognize the importance of digital inclusion to overcome the processes of social exclusion and to produce content aimed at preserving their culture and building a network of integration among indigenous peoples for the exercise of citizenship and struggle for social rights. KEYWORDS: indigenous communities; educational policy, digital inclusion, interculturality.
- 197. 196Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer CAPÍTULO XV QUE EDUCAÇÃO, PARA QUE PAÍS? PERCEPÇÕES E TEMÁTICAS EMERGENTES ________________________ Denise Rangel Miranda Joselaine Cordeiro Pereira Elita Betânia de Andrade Martins
- 198. 197Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer QUE EDUCAÇÃO, PARA QUE PAÍS? PERCEPÇÕES E TEMÁTICAS EMERGENTES Denise Rangel Miranda Prefeitura Municipal de Juiz de Fora - PJF, PPGP/CAED/UFJF, GESE/FACED/UFJF Joselaine Cordeiro Pereira Universidade Federal de Juiz de Fora - GESE/FACED/UFJF Elita Betânia de Andrade Martins Universidade Federal de Juiz de Fora - GESE/FACED/UFJF RESUMO: Objetivamos apresentar algumas percepções e temáticas que emergiram do levantamento inicial realizado na pesquisa intitulada “Que educação para que país: uma análise das políticas educacionais sob o olhar da escola” (2015). A referida pesquisa está em andamento e é desenvolvida pelo Grupo de Estudo Sistema de Ensino – GESE; grupo esse que integra o Núcleo de Estudos do Conhecimento e da Educação – NESCE – da Faculdade Educação, da Universidade Federal de Juiz de Fora e do qual somos pesquisadoras. Desenvolvendo pesquisas desde o ano de 1999, o GESE realiza estudos de temas correlatos ao Sistema de Educação, com trabalhos voltados para a autonomia municipal, a criação de sistemas municipais de ensino, além de investigações pautadas nas escolas brasileiras e sua identidade nacional. Tais investigações levaram o grupo a debater questões relativas à construção de um Sistema Nacional de Educação no Brasil, tratando das relações que se estabelecem entre os poderes central e local, o que evidencia a dificuldade de se definir um projeto nacional dadas as diferenças regionais e sociais, historicamente, construídas, além da dificuldade de constituição de uma sociedade democrática e da inserção do país num contexto de nações de um mundo globalizado. No caso da pesquisa em tela, objetivamos identificar as possíveis políticas públicas educacionais presentes nos contextos escolares, procurando compreender como influenciam as práticas docentes e gestoras dos profissionais da rede pública de Juiz de Fora, Minas Gerais. Fazemos isso, à luz dos referenciais teórico-metodológicos do ciclo de políticas públicas (BALL e BOWE, 1992). Os resultados preliminares da pesquisa, oriundos da aplicação de questionário piloto a 40 profissionais da educação pública, do munício de Juiz de Fora – MG – permitiram localizar as temáticas: “avaliação externa” e “qualidade da educação” como assuntos presentes no cotidiano escolar dos sujeitos investigados. Além disso, apontou a relevância da reunião pedagógica como locus onde se estabelecem as principais interlocuções e circularidade dos temas. PALAVRAS-CHAVE: Políticas Públicas, Avaliação Externa, Qualidade da Educação, Reunião Pedagógica. INTRODUÇÃO O Grupo de Estudo em Sistemas de Ensino – GESE – integra o Núcleo de Estudos do Conhecimento e da Educação – NESCE – da Faculdade de Educação, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Desde 1999 desenvolve pesquisas e estudos sobre os Sistemas de Educação dos municípios e estado de Minas Gerais. Mais
- 199. 198Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer recentemente aprofundou estudos sobre as influências das avaliações em larga escala nestes sistemas; as relações entre os entes federativos na condução da política educacional após o Decreto n°. 6 094 /07 do governo federal, que criou o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) e a autonomia dos sistemas municipais frente a esta política; as relações construídas em torno do Plano de Ações Articuladas (PAR) exigido aos municípios que aderiram ao PDE (SARMENTO, 2015). Estes estudos têm demonstrado que o percurso de construção de uma proposta de educação para o país tem se desenvolvido em meio a debates e conflitos, corroborando com a constituição da sociedade a partir de uma “nova” perspectiva de educação que a sustente. O grupo tem se motivado, então, a identificar que educação está se configurando a partir de planos, programas, currículos e metas definidas no âmbito nacional e sua incorporação nos sistemas de educação e nas escolas. Partimos do pressuposto de que está se desenvolvendo a construção de uma proposta de educação para o país, resultado de confrontos, coalisões e negociações, entre diferentes forças políticas. A fim de estudar e compreender que efeito essas ações estão provocando nas escolas, a pesquisa Que educação para que país: Uma análise das políticas educacionais sob o olhar da escola busca identificar possíveis transformações nas práticas docentes e gestoras, reconhecidas pelos professores e gestores da rede pública de Minas Gerais, especificamente do município de Juiz de Fora, como decorrentes das atuais políticas educacionais. Após a aplicação de um questionário piloto, algumas considerações preliminares foram tecidas e organizadas em três temas: avaliações externas, qualidade da educação e reunião pedagógica. Os dois primeiros são temas recorrentes que perpassam discursos e práticas cotidianas das escolas; já o segundo – reunião pedagógica – apresenta-se como espaço privilegiado para a circularidade das informações educacionais. METODOLOGIA Para efeito de análise dos dados, a pesquisa foi inspirada nos estudos de Ball (apud SARMENTO, 2015) que destaca a importância da análise do nível macro do sistema educacional, aos atores. O autor considera que políticas são tanto processos, quanto resultados; e distingue o que chamou política como texto, da política como discurso. Os textos são, portanto, o produto de compromissos que vão se constituindo desde a influência inicial, passando pela formulação legislativa, pelos processos parlamentares e influência de grupos políticos nos vários estágios em suas articulações. As políticas, enquanto intervenções textuais, na prática, admitem que os professores, diretores e demais profissionais da educação constroem suas leituras dos textos e suas reações a eles, em função das circunstâncias que os cercam e dos problemas a resolver. Nesse processo, dão significado ao que é proposto, contestam, influenciam, constroem resposta, lidam com contradições, tentando configurar
- 200. 199Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer representações das políticas. Por isso, a importância de analisar a política, também, como discurso. As análises preliminares se baseiam no questionário piloto, desenvolvido a partir de uma amostra com 40 colaboradores, professores da rede pública municipal e estadual que atuam no município de Juiz de Fora. Buscamos contemplar os seguintes aspectos: a) perfil profissional; b) formação e atuação; c) significações sobre qualidade da educação; d) principais políticas educacionais em debate na escola; e, e) influência das políticas educacionais no cotidiano escolar. Para fins deste artigo, detemo-nos em apresentar uma análise preliminar dos temas emergentes nesta fase inicial. TEMÁTICAS EMERGENTES: AVALIAÇÃO EXTERNA, QUALIDADE DA EDUCAÇÃO E REUNIÃO PEDAGÓGICA Considerando as análises preliminares dos resultados que emergiram do instrumento utilizado na pesquisa, em sua primeira fase, localizamos a recorrência de três temáticas que chamaram especial atenção: avaliações externas, qualidade da educação e reunião pedagógica. Acerca das avaliações externas, notamos predominância das respostas, quando inquerimos “Quais das atuais políticas educacionais tem sido alvo das discussões nas escolas?”. Das alternativas disponibilizadas, a avaliação externa apareceu em 72,5% dos respondentes. Numa outra questão do instrumento, questionamos se “as avaliações externas influenciam no planejamento pedagógico?”. Dentre as respostas, 37,5% afirmaram que ocorre influencia no planejamento pedagógico, sendo que 35% apontaram que essa influência se dá apenas em parte. Nesse sentido, as respostas obtidas ganham mais sentido se comparadas ao estudo de Martins (2014), que trata da autonomia docente. Tal estudo concluiu que a avaliação externa tem se tornado uma forma de controlar o trabalho docente, constituindo-se numa “figura” para que o professor se reporte nos momentos de dúvidas, em relação a direções a serem seguidas. Esse novo entendimento pode substituir configurações anteriores de controle, como, por exemplo, por meio do supervisor pedagógico. Há o entendimento de uma subordinação relacionada à produção de resultados em avaliações. Essa subordinação advém de reformas educacionais, trazendo implicações para as formas de atuação docente, cujo trabalho passa a ser visto a partir da lógica do “desempenho”. Coelho (2009) também se refere a importância que é reportada a avaliação quando do processo de destaque para os padrões relativos à produtividade nas relações sociais (...) os procedimentos de avaliação constituem hoje um dos mais importantes meios de controle da educação. Para Afonso (2001), há um aumento da interferência e controle pelo Estado por meio da avaliação sistêmica que caracteriza a ‘radicalização’ da figura do Estado
- 201. 200Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer intervencionista’ (...) forma de regulação híbrida que conjuga o controle estatal com estratégias de autonomia e auto-regulação das instituições educativas. (COELHO, 2009, p.68) Sob essa perspectiva, pensamos que pautar o trabalho docente aos padrões de produtividade, intervém, ou pode intervir, na forma de compreender a qualidade educacional, o que influenciaria a prática pedagógica no cotidiano escolar. Nesse sentido, outro achado inicial enceta a qualidade da educação como tema que permeia o cotidiano dos respondentes. A discussão sobre qualidade da educação nos remete à compreensão dos elementos objetivos e subjetivos que se colocam no interior da vida escolar e na percepção dos diferentes sujeitos sobre a organização da educação. Num sentido mais amplo, são múltiplos aspectos envolvidos na compreensão e construção de uma escola de qualidade ou escola eficaz (DOURADO e OLIVEIRA, 2009). Ao perguntarmos sobre o que é qualidade da educação, os respondentes apontam um conjunto de respostas ligadas à legitimação e inserção social dos sujeitos, ante aos aspectos ligados às condições de reafirmação de direito e cidadania; emancipação social; acesso à informação; transformação da sociedade; dentre outros. Outro significado relevante concatena qualidade à assunção do currículo escolar, vinculando ensino e aprendizagem às necessidades individuais e sociais, assim como instrução para emancipação e transformação social. Qualidade da educação também se apresenta como vetor de valorização do magistério, sobretudo quando considerada a remuneração do profissional da educação, as condições estruturais e pedagógicas de trabalho e de formação. Pode ser atrelada à equalização das desigualdades sociais, quando propicia relações equitativas, ensino não excludente, equidade de possibilidades educativas, inclusão social, dentre outros. A qualidade como princípio da gestão democrática vinculada à participação e parceria dos sujeitos na garantia dos processos educacionais. Por fim, a qualidade como elementos de responsabilização coligando todos na garantia da ação formação para autonomia e para o mundo em sociedade. Quando questionados sobre as contribuições das políticas educacionais para a qualidade da educação, o conjunto de respostas aponta para um devir de sua função social; consideram-nas necessárias, porém distante das práticas escolares. Nessa via, indicam também certa perversão do sentido atribuído às políticas, fundamentadas na quantificação (ampliação do acesso, promoção automática, controle por meio do IDEB), e, consequente retirada de direitos e da autonomia do professor. Nesse sentido, endossam o axioma sociológico e político próprio à qualidade da educação, vinculado ao combate às desigualdades e à dominação (MACEDO, 2014). No que tange à qualidade da educação, depreendemos que a mesma possui múltiplos significados, construídos a partir da assunção de narrativas hegemônicas (MACEDO, 2014) referenciada, socialmente, nos debates e documentos oficiais. Narrativas estas que circulam o clamor necessário ao novo contexto educacional, primando pela qualidade como significação compartilhada por todos. Mas, também, demarcam narrativas políticas, as quais estão sobrepujadas.
- 202. 201Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer A circularidade das informações e debates acerca de temas referentes à educação foi outro elemento que nos chamou atenção, numa primeira análise. Espaço privilegiado, a Reunião Pedagógico ou Módulo de Ensino – tempo, presencial, da carga horária remunerada do professor, destinada à formação e planejamento coletivo – apareceu, quase que na totalidade das respostas (35), quando inquerimos sobre os momentos destinados, na escola, para tratar de questões relacionadas às políticas educacionais. Logo, depreendemos que tais reuniões se constituem como espaços de circularidade de informações, potenciais espaço de formação e de ressignificação dos textos legais que impregnam o cotidiano das escolas públicas. CONSIDERAÇÕES FINAIS A despeito do caráter elementar das análises aqui presentes, depreendemos que os temas emergentes são variáveis das narrativas discursivas, em construção, inerente ao cotidiano das escolas públicas e de seus atores. Parte de do processo atual de constituição e implementação das políticas públicas educacionais, são frutos dos discursos pertencentes a agrupamentos distintos de atores sociais, num tenso jogo de forças do campo educacional. Uma tensão que gira em torno da própria construção política do sentido de qualidade da educação, de avaliação externa, bem como dos espaços de circularidade e de ressignificação que passam a ter dentro das escolas públicas. Em nosso entendimento, aprofundar a interpretação destes sentidos, tenderá a apontar os grupos e os discursos predominantes sobre o projeto de educação em curso no país. Sobretudo, permitirá, a partir da apropriação e reconstrução das políticas no interior das escolas públicas, compreender como operam mudanças que podem ou não corroborar para qualidade da educação nacional. REFERÊNCIAS BALL, S.J.; BOWE, R. Subject departments and the “implementation” of National Curriculum policy: an overview of the issues. Journal of Curriculum Studies, London, v. 24, n. 2, p. 97-115, 1992. COELHO, Maria Inês de Matos. Estado-avaliador, regulação e administração gerencial: implicações para o que é ser professor (a) na educação básica no Brasil. In: BRITO, Vera Lucia Ferreira Alves. (Org.) Professores: identidade, profissionalização e formação. Belo Horizonte, MG: Editora Argvmentvm, 2009, p.79-100. DOURADO, Luiz Fernandes e OLIVEIRA, João Ferreira de. A qualidade da educação: perspectivas e desafios. Cad. Cedes, Campinas vol. 29, n. 78, p. 201-215, maio/ago. 2009
- 203. 202Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer FAIRCLOUGH, Norman. Discurso e mudança social. Brasília: Editora da UNB, 2001 MACEDO, E. Base Nacional Curricular Comum: novas formas de sociabilidade produzindo sentidos para educação. Revista e-Curriculum, São Paulo, v. 12, n. 03 p.1530 - 1555 out./dez.2014 <http://revistas.pucsp.br/index.php/curriculum> acessado em nov. 2016. MAINARDES, Jefferson. A abordagem do ciclo de políticas e suas contribuições para a análise da trajetória de políticas educacionais. Revista Atos de Pesquisa em Educação, v. 1, n. 2, p. 94-105, maio/ago. 2006. Disponível em: http://proxy.furb.br/ojs/index.php/atosdepesquisa/article/view/34/10 MARTINS, Elita Betania de Andrade. Abelhas ou arquitetos?: A compreensão dos professores sobre autonomia e as implicações no seu processo de formação e trabalho. Tese de Doutorado em Educação. UFJF: Faculdade de Educação, Programa de Pós Graduação em Educação, 2014. SARMENTO, D. C. Que educação, para que país? Uma análise das políticas educacionais sob o olhar da escola. (Projeto de Pesquisa). Faculdade de Educação. Universidade Federal de Juiz de Fora, 2015. ABSTRACT: We present some perceptions and themes that emerged from the initial survey carried out in the research entitled "What education for what country: an analysis of educational policies under the eyes of the school" (2015), developed by the Study Systems of Education System - GESE, of the Nucleus of Studies of Knowledge and Education - NESCE - of the Education Faculty of the Federal University of Juiz de Fora, of which we are researchers. Since 1999, the group has been conducting research on issues related to the Education System, with research focused on municipal autonomy, the creation of municipal education systems, as well as research focused on Brazilian schools and their identities. The debates take place on questions related to the construction of a National System of Education in Brazil, dealing with the relations that are established between the central power and the local power, which shows the difficulty of defining a national project. In the case of this article, the objective is to identify the possible public educational policies present in the school contexts and to understand how they influence the teaching and management practices of the professionals of the public network of Juiz de Fora, Minas Gerais. We do this, based on the theoretical-methodological framework of the public policy cycle (Ball and Bowe, 1992). The preliminary results of the research, which resulted from the application of a pilot questionnaire to 40 public education professionals from the mentioned municipality, allowed us to locate the themes: "external evaluation" and "quality of education" as guidelines for the daily schooling of the subjects studied. In addition, the initial considerations pointed out the relevance of the pedagogical meeting as locus where the main dialogues and circularity of those themes are developed. KEYWORDS: Public Policies, External Evaluation, Quality of Education, Pedagogical Meeting
- 204. 203Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer CAPÍTULO XVI UM BREVE OLHAR NAS POLÍTICAS E DISCURSOS EDUCATIVOS NO PERÍODO DITATORIAL NO BRASIL E EM PORTUGAL: AMARRAS DE UM PROJETO NACIONALISTA AUTORITÁRIO ________________________ Joel Severino da Silva
- 205. 204Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer UM BREVE OLHAR NAS POLÍTICAS E DISCURSOS EDUCATIVOS NO PERÍODO DITATORIAL NO BRASIL E EM PORTUGAL: AMARRAS DE UM PROJETO NACIONALISTA AUTORITÁRIO Joel Severino da Silva Universidade Federal de Pernambuco – UFPE joelsilva.educar@gmail.com RESUMO: Este artigo, originou-se de um trabalho de investigação bibliográfica realizado na disciplina de história da educação contemporânea do curso de Ciências da Educação, da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto – Portugal, durante o período de intercâmbio que realizei em 2016, pelo Programa – Luso brasileiro de Educação, do Santander Universidade. Parceria entre Santander, Universidades Federais brasileiras e europeias. Nesta disciplina, tinha-se como instrumento “avaliativo”, a elaboração de um artigo que, contemplasse uma discussão histórica. Assim, este trabalho teve como objeto de estudo, as principais políticas educativas na ditadura militar no Brasil, que perdurou entre 1964 e 1985 e, em Portugal, a qual iniciou-se em 1929 e se estendeu até 1975. A ditadura portuguesa, também conhecida como ditadura salazarista, uma vez que, Salazar foi o “grande” expoente deste regime. Teve como objetivo, analisar os discursos operantes nestas políticas e verificar quais as intencionalidades subjacentes que permeavam os bastidores político do contexto. Metodologicamente, sustenta-se na pesquisa bibliográfica, e como instrumento de análise se baseia na Teoria do Discurso (TD), elaborada por Ernesto Laclau e Chantal Mouffe (1997). A pesquisa por um lado, sinaliza para uma tentativa de hegemonização e legitimidade da ditadura em ambos os países como constitutivo estatal frente a sociedade. Por outro, indica que, os processos articulatórios dos regimes autoritários na tessitura de um projeto de antecipação discursiva, se desencadeavam como ação política muito comum naquele contexto. Por conseguinte, sublinha que, tal legitimidade, se deu provisoriamente, sustentada no discurso de políticas educativas centradas no ideário nacionalista. Por fim, sustenta que essa provisoriedade se deu por meio, e difusão da educação de adultos nos dois países, como estratégia populista na tessitura de um projeto nacionalista e autoritário. PALAVRAS-CHAVE: Políticas educativas, ditadura militar, educação de adultos, nacionalismo. 1. INTRODUÇÃO As políticas educativas, tanto em Portugal como no Brasil no período das ditaduras em seus respectivos lugares, apontam muitas similaridades no tocante à educação, nomeadamente, a noção de projeto de nação. E que tais similaridades, sustentada num cunho autoritário, enfrentou dificuldades de legitimação social. No caso de Portugal, este período de “hegemonia” autoritária deu-se início em, 28 de maio de1926, e no Brasil só em 64 do mesmo século.
- 206. 205Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer Segundo Fernandes (2003), e Antônio Nóvoa (1991), todas as políticas educativas no período da ditadura em Portugal, estavam em causa, acabar com os ideários da Educação Republicana, o que seria fundamental para impor seu controle. Para tal, foram desencadeadas um conjunto de políticas educativas, que reforçavam o sentimento nacionalista, o amor à pátria e obediência ao regime. Similar a este processo, as políticas educativas da ditadura no Brasil, se deram, em contraposição as políticas de cunho popular, como o método Paulo Freire de Alfabetização de adultos em Angico – RN. E por temer a expressão da força popular. Assim, a política de educação dos militares pretendeu destruir o processo resultante da campanha de pé no chão também se aprende a ler, realizada no RN, apoiado metodologicamente no método freireano; e outros levantes educativos, espraiados pelo Nordeste do país. Assim, para se legitimar frente a população, o governo Militar implementou o MOBRAL (Movimento Brasileiro de Alfabetização de Adultos). Portanto, o objeto de estudo deste trabalho, é estudar as principais políticas educativas na ditadura militar em Portugal e no Brasil. E o objetivo, é fazer uma análise dos discursos operantes nestas políticas e verificar quais as intencionalidades subjacentes que permeavam os bastidores político do contexto. Para tal, elenca algumas das principais políticas educativas nos respectivos países neste período. Para efeito de análise, lança-se luz da Teoria do Discurso (TD) de Ernesto Laclau e Chantal Mouffe (1987)32 e no conceito de posição de sujeito e posição de lugar de Erni Orlandi (2003). Segundo Fernandes (2003), dois pontos são fundamentais para análise da educação no período ditatorial em Portugal: primeiro, a ideia de igualdade para todos; segundo, a segmentação de estruturas, como forma de contraponto a primeira, apoiada no ideário da divisão técnica do trabalho. Deste modelo de segmentação, derivam-se um conjunto de políticas de controle social. Assim, nas políticas educativas salazaristas, a Igreja católica recuperou suas prerrogativas tradicionais, tanto na educação pública, quanto privada, Fernandes (2003, p.10). Segundo Nóvoa (1991), neste período, houve um elevado aumento percentual de alunos no ensino secundário por meio do ensino privado. Também nas políticas salazaristas, as classes preparatórias pré-escolares em fase de lançamento no final da primeira república, foram extintas, e confiada a uma organização estatal (IDEM), passando a imperar a moral religiosa. No plano da educação nacional, a obra foi praticamente destruída, as escolas, Normais Primárias e Superiores foram encerradas. Além do tempo da escola primária que passou de três a quatro anos. Segundo Fernandes (2003) a política educacional salazarista se mostrava paradoxal. Onde por um lado, apoiava a agricultura, por outro, o ensino técnico, que se divida em: industrial e comercial (IDEM). Esta contraditoriedade, não se dava ao acaso, mas sustentado num modelo de sociedade industrial e mercantil, e numa população agrária por meio do discurso ruralização, isto é, de uma tentativa de manter os campesinos no meio rural. Desde modo, o ensino rural era de modalidade 32 Toma-se como apoio para o uso da Teoria do Discurso de Ernesto Laclau e Chantal Mouffe, neste trabalho, outros autores como: Ferreira (2011); Oliveira e Silva (2010) e outros.
- 207. 206Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer prático informal, cujas as metodologias diferenciavam das escolas urbanas. Destarte, as escolas agrícolas, tinham a missão de “fixar” o homem no campo. Os ensinamentos eram simplórios e “apontavam no sentido de uma modalidade de ensino prático informal, visando os adultos, da criação de um ensino primário rural cujos programas metodologias e professores teriam que se diferenciar profundamente das escolas urbanas” (FERANDENS, 2003, p. 12). Em contrapartida, na cidade foram construídas ente 1953 e 1954, várias escolas técnicas, na região litorânea, o que revelava o caráter industrial e de serviços (IDEM). Só no Plano II, foi que se deu maior valoração aos cursos agrícolas. A 4ª classe da escola primária agrícola e habilitação em técnico secundário (IDEM). Contudo, salienta o autor, que este modelo de ensino também tinha suas limitações, não permitindo grande mobilidade social dos diplomados desta formação. Já em relação ao Brasil, temos durante o governo Militarista, um arsenal discursivo no entorno do MOBRAL – Movimento Brasileiro de Alfabetização. Segundo o Art 5º da Lei nº 5.379, de 15 de dezembro de 1967 é o órgão executor do Plano de Alfabetização Funcional e Educação Continuada de Adolescentes e Adultos. A Lei nº 5.379, é a que põe em vigor a educação funcional aqui referida. Sua intenção subjacente, era acabar com as campanhas de alfabetização e educação popular, espalhada pelo Nordeste do Brasil, sustentadas, no pensamento de Paulo Freire. 1. Liga brasileira contra o analfabetismo (1915) A Liga brasileira contra o Analfabetismo foi uma instituição criada em 1915, pensada por intelectuais, e teve inauguração no salão do círculo Militar, financiada por sócios. Cujas contribuições não poderiam ser menores que quinhentos réis, aceitando-se ainda a oferta de artigos escolares ou serviços didáticos (SETEMY, sem ano de publicação. Texto da internet). Cujo objetivo, seria erradicar o analfabetismo brasileiro, sob o pretexto de desencadear uma ideia nacionalista, uma vez que, o país enfrentava problemas de origens políticas e sócias em função dos impactos da eclosão da primeira guerra mundial. Esta proposta, além de alfabetizar, reataria o sentimento de pertença. Neste período, as relações internas, governo/sociedade cívica, enfrentavam situações conflituosas, que se tornavam ainda mais tênue em função da difusão jornalística. Esta liga tem seus dias finais em 1940 no governo de Getúlio Vargas. 2. Campanha de educação de adolescentes e adultos (1947) A Campanha de educação de adolescentes e adultos, foi uma proposta liderada por Anízio Teixeira, a qual visava oportunizar aos adolescentes e adultos a possibilidade de ler. Segundo Costa e Araújo (2011), foi a primeira iniciativa do Estado para educação de adultos. Teve início no ano de 1947, onde até 1950 ficou conhecido como primeira fase. O objetivo desta campanha seria o de banir o analfabetismo no Brasil, tendo em vista que, o quantitativo de pessoas
- 208. 207Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer “analfabetas”33 era alarmante naquela época. Num período, onde por um lado, o Brasil desencadeava uma promissora ideia de desenvolvimento econômico; e por outro, um forte êxodo rural. Diante deste cenário, o governo brasileiro, financiado pelo ONU e EUA, cria vários programas de correção, entre eles, a Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos. As consequências disto para educação de jovens e adultos, é que mais uma vez a preocupação é apenas, o “alfabetizar” e não uma formação política emancipatória. Soma-se a isso, a precocidade desta proposta, ou seja, a não continuação dos estudos iniciados. Encerrando-se em um ciclo meramente pragmático. 3. Campanha de pé no chão também se aprende a ler (1961) A campanha foi o que poderíamos cunhar de uma experiência educacional de caráter popular, criada no Rio Grande do Norte apoiada na metodologia freireana, (Aquino e Pinheiro 2014). Que tinha como objetivo, incluir as crianças, jovens e adultos “excluídos do processo regular de ensino” (IDEM, p. 60). Esta campanha aconteceu num período histórico bastante denso e de crise política já ensaiada nos bastidores parlamentares. Além disso, havia o “fantasma” do analfabetismo, que assolava todo país. Especificamente, esta campanha foi criada no Rio Grande do Norte, em função do alto índice do analfabetismo. O título da campanha é uma crítica ao governo local – RN. As aulas aconteciam em galpões de festa da comunidade, Aquino e Pinheiro (2014). Ainda segundo essas autoras, o espaço já enunciava e fortalecia o caráter popular da campanha. Não obstante, Souza (2004) apresenta esta e outras campanhas dentro de um ciclo denominado naquele contexto, de educação popular, o qual se alastrava pelo Nordeste do Brasil e se estendia para outras regiões do país, criando assim, um vultoso movimento educativo nacional. 2- METODOLOGIA O presente trabalho está metodologicamente sustentado na pesquisa do tipo bibliográfica, posto que, segundo Marconi e Lakatos (2003), a pesquisa bibliográfica possibilita o pesquisador ter um contato direto a despeito do que foi escrito sobre determinada temática, ao passo que “tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com vista a torná-lo mais explicito” (GIL 2006, p. 41), assumindo um caráter exploratório. O trabalho originou-se de uma investigação bibliográfica, realizada na disciplina de história da educação contemporânea, do curso de Ciências da Educação, da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto – Portugal, durante o período de intercâmbio que realizei em 2016, pelo 33 Coloco o termo analfabeto entre aspas, porque não concordo com esta expressão, pois, dá o sentido de uma condição nata, quando na verdade, é resultante de processos estruturais e históricos. Portanto, prefiro o termo – não alfabetizado, Termo que ainda não encontrei na literatura.
- 209. 208Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer Programa – Luso brasileiro de Educação do Santander Universidade, parceria entre Santander, Universidades Federais brasileiras e europeias. Nesta disciplina, tinha-se como instrumento “avaliativo”, a elaboração de um artigo que, contemplasse uma discussão histórica. O material bibliográfico acerca das políticas educativas desenvolvidas em Portugal no período supracitado, uma parte foi extraído da própria ementa da disciplina, outra, levantada na biblioteca da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto – Portugal. Já o material que fundamenta as políticas educativas brasileiras no contexto do regime autoritário foi levantado, na internet e na disciplina da educação de jovens e adultos, do curso de Pedagogia da UFPE. Para análise do material bibliográfico, este estudo, elegeu a Teoria do Discursos (TD), elaborada por Ernesto Laclau e Chantal Mouffe (1987). Considerando nesta Teoria, especificamente, as categorias: hegemonia; discurso e ponto nodal. Também se utilizou o conceito mecanismo de antecipação da Análise do Discurso de Michel Pêcheux (1975), a partir de Eni Orlandi (2003). Assim, este trabalho teve como objeto de estudo, as principais políticas educativas na ditadura militar no Brasil, que perdurou entre 1964 e 1985 e, em Portugal, a qual iniciou-se em 1929 e se estendeu até 1975. A ditadura portuguesa, também conhecida como ditadura salazarista, uma vez que, Salazar foi o “grande” expoente deste regime. Teve como objetivo, analisar os discursos operantes nestas políticas e verificar quais as intencionalidades subjacentes que permeavam os bastidores político do contexto. 3- RESULTADO E DISCUSSÃO 3.1UMA ANÁLISE DAS POLÍTICAS EDUCATIVAS NA DITADURA EM PORTUGAL E BRASIL À LUZ DA TEORIA DO DISCURSO (TD). A teoria do discurso (TD) elaborada por Ernesto Laclau e Chantal Mouffe (1987), toma como pressuposto que, tudo é discursivo. Defende, portanto, que o discurso não é um campo fechado, estagnado, cujo significado se consolida absolutamente a partir de uma cadeia de junção de significantes, antes defende “que há proliferação de significantes presentes na sociedade cuja competição pelos significados se dá em processos de disputas hegemônicas atuantes em relações sociais” (OLIVEIRA & SILVA 2011, P. 145). Neste sentido, as autoras chamam a atenção para o fato que, a relação entre significante e significado, se configura como contingente, em função da impossibilidade da constituição da totalidade, razão pela qual, o discurso se constitui, como terreno primário onde a realidade se constitui (Ferreira 2011). Assim, não há realidade que não seja discutida, uma vez que, não há nada fora do discurso. No entanto, isso não significa necessariamente significado, mas significante. Significante este, que se dá em função dos pontos nodais (pontos comuns entre as partes diferentes), onde se desenham relações de estabilidades contingentes de sentidos precariamente estabelecidos. Esta disputa constante, pela
- 210. 209Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer constituição da tessitura do significante, reverbera na limitação da hegemonia, fazendo com que esta, se inscreva no campo da discursividade e não da solidez absoluta do significado. Assim, o discurso se conceitua “como uma totalidade significativa que transcende a distinção entre o linguístico e o extralinguístico” (LACLAU 1993, P. 10, apud OLIVEIRA & SILVA 2011, p. 145). Além dos discursos serem constituídos, por um conjunto de elementos que se hibridizam e se fundem na busca de fixação de sentido, ocorre também, pela e, na articulação de demandas particulares hegemonizadas por uma das identidades que configuram o sentido da realidade (Ferreira 2011). Ainda segundo esta teoria, a constituição do discurso se configura pela articulação de diferenças hegemonizadas. Destarte o “discurso é a totalidade articulada resultante da prática articulatória” (FERREIRA 2011, p. 16). A partir desta breve conceituação, podemos verificar à luz da (TD), de Laclau e Mouffe (1987), que as políticas educativas em Portugal e Brasil no período autoritário, tinham um ponto em comum. A hegemonia da legitimidade do regime. 3. 2. PRETENSÕES IDEOLÓGICAS EM PORTUGAL E BRASIL, PELO CANO DA EDUCAÇÃO DE ADULTOS Segundo Nóvoa (1991), a ditadura militar, principalmente em sua primeira faze, foi um período, onde sucederam-se vários ministros, e estava em jogo, construir um modelo educativo que fortalecesse o ideário nacionalista. De maneira, que em 1927 foram tirados todos os programas educativos republicano. Ainda segundo Nóvoa (1991), em 1930 foi designada a redução da escolaridade dos meninos, de cinco para três anos, e a eliminação da educação feminina, e 1931 foram criados os postos escolares, que era uma sala de aula com condições limitadas. Entre 1936 a 1947 foi um período caracterizado por uma ideologia e doutrinação moral. Onde na gestão do Ministro Carneiro Pacheco, foi designado o uso de um único livro na escola; a criação da Mocidade Portuguesa; a Obra das Mães pela Educação Nacional. E no período dos Ministros: Pires de Lima e Leite Pinto, tem-se as reformas o Ensino Liceal e do Ensino Técnico. O autor evidencia que em função da segunda guerra emerge a necessidade de formar recursos humanos. Que passa ser vislumbrado a valorização do capital escolar. O cenário, dos anos 50 e 60 do século XX revela-se insustentável, por duas razões: primeiro, por passar a pairar uma compreensão de que “a educação era uma das condições do crescimento económico” (FERNANDES 2003, P. 14); em segundo, a “explosão popular ocorrida na candidatura do General Humberto Delgado à Presidência da República” (IDEM). Em resposta a indignação popular, foi criada a Campanha nacional de educação de adultos nos anos 50 do século XX. Além desta prerrogativa, passa a ser legislado um conjunto de leis e decretos que promulgaram: o prolongamento da escolaridade obrigatória até a aprovação do exame da 4ª classe; seis anos de escolaridades para ambos os sexos; criação da Telescola; criação do
- 211. 210Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer ciclo preparatório do ensino secundário; aprovação do próprio ciclo (IDEM). Segundo Nóvoa (1991), esta estratégia educativa pretendia se constituir como parte da tarefa de controle ideológico do Estado. Estas medidas dos anos cinquenta, caracterizavam-se por obedecer a um modelo escolar, no qual se visava diminuir o analfabetismo, “no entanto, estas medidas rapidamente se revelariam insuficientes e nada relacionadas com o conteúdo do conceito de Educação de Adultos, já na época com uma significativa tradição noutros países” (BARROS, 2004, p. 139). Esta mesma lógica, se identifica no regime autoritário brasileiro, onde se criou o MOBRAL com a função/objetivo de operar a alfabetização funcional, visando apenas encaminhar os sujeitos por eles alfabetizados ao mercado de trabalho de pouca qualificação. De início, o MOBRAL articulava ideia com a famosa ABC – Ação Básica Cristã de caráter também conservador. Posteriormente, sobretudo, a partir de 1969 o MOBRAL começa a se distanciar da proposta originária, passando então a uma proposta de massa, cujos objetivos eram dois segundo Haddad e Pierro (2000). Primeiro, que “atendesse aos objetivos de dar uma resposta aos marginalizados do sistema escolar...” (Haddad e Pierro 2000: 114). Segundo “... aos objetivos políticos dos governos militares”. (IDEM). Portanto, o primeiro passo, seria adquirir recursos financeiros. Estes, foram conseguidos pelo imposto do setor privado 1% e 24% da loteria. As empresas lucrariam com um contingente de trabalhadores habilitado para o exercício da indústria aprimorado com a alfabetização. Além disto, o MOBRAL foi implantado segundo os autores com três características: o paralelismo em relação aos demais programas, conseguido com recursos de empresas privada e da Loteria, convencendo as empresas do feedback, Segunda, foi a organização operacional descentralizada. Com comissões municipais espalhadas pelo país, cuja função era executar a campanha nas comunidades, e organizá-las, providenciando os rudimentos necessários para operacionalização da mesma. (Haddad e Pierro 2000). Terceira “era a centralização de direção do processo educativo” (Haddad e Pierro, 2000:115). O qual por meio da Gerência Pedagógica Central, era responsável por quatros pilares centrais de funcionamento: programação, execução, avaliação e treinamento de pessoas, em todas as fases do processo. E para efeito de organização entre o MOBRAL Central e as comissões municipais, havia os coordenadores estaduais, que por sua vez, se responsabilizavam pela assistência e orientação. O principal articulador entre a ideia ou instância central e local do MOBRAL era os coordenadores estaduais, para “garantir” a execução. A segunda ação educativa voltada para jovens e adultos no período militar, segundo (Haddad e Pierro 2000), diz respeito ao ENSINO SUPLETIVO (ES), regulamentado no capítulo IV da LDB de 1971, cujo objetivo, seria suprir e promover a oferta de educação continuada, uma vez que o MOBRAL tinha “alfabetizado” um contingente de pessoas. Para os autores, as três principais características do ES são princípios ou ideias – forças. Onde o primeiro princípio foi o de que este ensino, foi definido como um subsistema integrado e independente do ensino regular. O segundo princípio, foi o de colocar o ES voltado para o desenvolvimento nacional,
- 212. 211Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer apoiado no capital de mão de obra. O terceiro princípio, foi o desenvolvimento doutrinário de cunho nacionalista. Além de “... repor a escolarização regular, formar mão de obra...” (Haddad e Pierro, 2000: 117). Assim, o ES foi organizado em quatro funções, a saber, Suplência – Suprir a escolarização regular dos jovens e adultos que, por uma série de razões, não tenha conseguido esta escolaridade dentro do período considerado como idade própria. Segundo: Suprimento, cuja finalidade, seria oferecer estudo de aperfeiçoamento para aqueles que tinham conseguido o ensino regular. Terceiro, foi a aprendizagem de forma metódica – organizada e sistemática. E em quarto, qualificação – formação para o trabalho. O objetivo central seria “garantir” a formação de mão de obra e organização. (IDEM). 3. 3. ESTRATÉGIAS DOS DISCURSOS EDUCATIVOS EM AMBOS OS REGIMES COMO DISPOSITIVO ARTICULATÓRIO NA TESSITURA DE PROJETOS NACIONALISTAS AUTORITÁRIOS. Frente aos dados bibliográficos, identificamos em ambos os países, ações de caráter populista, visto que, diante de uma ilegitimidade do Estado, o governo cria medidas de educação paliativas, isto é, ações provisórias, com fins estrategicamente visualizado. Estas estratégias foram muito recorrentes no contexto de “administração” autoritárias nos países autoritários. Este processo articulatório dos regimes autoritários na tessitura de um projeto de antecipação discursiva, se desencadeia como ação política, muito comum naquele contexto. Neste aspecto, Orlandi (2003), em muito nos ajuda a compreender, a partir do conceito de “mecanismo de antecipação” criado por Michel Pêcheux (1975). Segundo a autora, é possível antecipa-se, colocar-se no lugar do outro, diz ela que: segundo “o mecanismo de antecipação todo sujeito tem a capacidade de experimentar, ou melhor, de colocar-se no lugar em que seu interlocutor “ouve” suas palavras” Orlandi (2003, p. 39). Logo, mediante a posição de sujeito e lugar se preconiza para enfrentar uma situação. Tendo este dispositivo “em mãos”, tanto Portugal como Brasil, ao perceber a possibilidade de revoltas, dos movimentos populares, criaram propostas educativas para jovens e adultos, na tentativa de mostrar para população que estava ao serviço dela, buscando assim, legitimar-se perante a população. Quando na verdade, estas medidas se constituíram por razões como: economia; inibição de movimentos sociais e legitimidade social. Verifica-se, em ambos os países, que a tentativa de hegemonização se constituiu provisoriamente. Acerca disto, Laclau e Mouffe (1987), sublinham que, toda hegemonia é precária em função da relação entre necessidade e contingencia, apontando nomeadamente, uma posição e compreensão flutuante em torno do ponto nodal. Que por sua vez, é o conjunto de dispositivo, onde as diferenças se anulam provisoriamente na constituição do significado em disputa. Assim, há um deslocamento de sentido parcial da estrutura para o projeto social, pois há de haver
- 213. 212Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer também as ambiguidades de todo o projeto (IDEM). Neste caso em análise, identifica-se, que tanto as políticas educativas salazaristas, quanto as desencadeadas no Brasil militar, houve uma fundição de sentidos autoritarista centrada num modelo de hegemonia populista, como dispositivo de controle social. Segundo Laclau e Mouffe (1987), isto se estabelece a partir da prática articulatória, onde a articulação é a transformação do elemento em momento, que, por conseguinte, são associados a outros elementos momentos: estes elementos são diferenças que aprecem articuladas no interior do discurso Ferreira (2011). As políticas educativas acima elencadas, se constituem como situações que criam uma desestrutura mediante “a identificação com outros elementos que vão configurar o sentido perdido (Ferreira 2011, p. 15). Ou seja, sentido de identidade social, da população em crise no período ditatorial. 4. CONSIDERAÇÕES FINAIS A constatação que se evidenciou neste sintético trabalho, foi a tentativa de hegemonização e legitimidade da ditadura em ambos os países como constitutivo estatal frente a sociedade. Tal legitimidade, foi provisoriamente, sustentada no discurso de políticas educativas inclinadas ao populismo, e que essa provisoriedade se deu em grande escala, mediante a política de educação de adultos em ambos os países, embora partidas de perspectiva diferentes, mas com os mesmos fins. No entanto, em ambos os países, houve uma forte instabilidade governamental. Em Portugal, sucessivas substituições de ministro, durante a primeira fase do salazarismo (1929 – 1945). No Brasil, instabilidades nos governos: Castelo Branco 1964 – 1967; Arthur da Costa e Silva 1967 – 1969. Em Portugal isso convergiu numa constante mutação das políticas educativas, as quais por vezes, as prioridades oscilavam entre a educação pública e privada, por outras, entre as propostas educativas de cunho industrial e agrícolas. Já no Brasil, as instabilidades nos governos, direta ou indiretamente, implicaram nas políticas educativas, uma vez que, o país vivia numa intensa transação de paradigma – transitando de um modelo social agrário, para um urbano e industrial. Diante da TD de Laclau e Mouffe (1987), podemos assegurar que, esta hegemonia não se consolidou absolutamente, pela própria natureza hegemônica do discurso. Posto que, o discurso não é um campo fechado, estagnado, cujo significado se estabelece, antes é o campo onde “há proliferação de significantes presentes na sociedade cuja competição pelos significados se dá em processos de disputas hegemônicas atuantes em relações sociais” (Oliveira & Silva 2011: 145). O que faz com que a relação entre significante e significado, seja contingente dada da impossibilidade da constituição da totalidade, que por sua vez, constitui o discurso, como terreno primário onde a realidade se constitui (Ferreira 2011). Assim, não há realidade que não seja discutida, uma vez que não há nada fora do discurso, o que não significa necessariamente significado, mas significante, e que se dá em função dos pontos nodais, onde se desenham relação de estabilidades contingentes de
- 214. 213Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer sentidos precariamente estabelecidos. O que faz com que a hegemonia se inscreva no campo da discursividade e não da solidez absoluta do significado. Portanto, as políticas educativas, sobretudo, de educação de adultos em ambos os países, se constituíram em torno de um ponto (hegemonia autoritária), através de uma tentativa de consolidar a hegemonia do regime, perante a população, por meio de discursos hegemônicos subjacentes nas políticas educativas. Por “fim”, esta teoria, nos permite concluir que, o projeto nacionalista autoritário em ambos os casos, revela a natureza contingencial de qualquer hegemonia. O que faz do social um campo de discursos e significados flutuante em busca de uma “estabilidade”, que se mostra instável, hibrido, plural e dinâmico. REFERÊNCIAS AQUINO, Fernanda Mayara Sales de. PINHEIRO, Rosa Aparecida. Campanha de Pé no chão Também se Aprende a Ler: Influência freiriana nas práticas curriculares. Debates em Educação - ISSN 2175-660, Vol. 6, n. 11. Maceió, 2014. BARROS, Rosanna. Contributos para uma sociologia política do campo da educação de adultos em Portugal. Vº Congresso Português de Sociologia Sociedades Contemporâneas: Reflexividade e Acção Atelier: Direito, Crime e Dependências. 2004. CÂMARA DOS DEPUTADOS, Lei nº 5.379, de 15 de dezembro de 1967. Disponível em: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1960-1969/lei-5379-15-dezembro- 1967-359071-normaatualizada-pl.pdf. Acessado em: 04/09/2015. COSTA, Deane Monteiro Vieira. ARAÚJO, Gilda Cardoso de. A Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos e a atuação de Lourenço filho (1947-1950): a arte da guerra 2011. Disponível em: http://www.anpae.org.br/simposio2011/cdrom2011/PDFs/trabalhosCompletos/c omunicacoesRelatos/0126.pdf. Acessado em: 04/09/2015. FERNANDES, Rogério. Tendências da política escolar e a escola para todos em Portugal na segunda metade do século XX. In Fernandes Rodrigues, R: Pintassiglo, J. (org.) A modernização pedagógica e a escola a escola para todos na Europa do Sul no século XX. Lisboa: SPICE, 2003. FERREIRA, Fábio Alves. Para Entender a Teoria do Discurso de Ernesto Laclau. In: Revista Espaço Acadêmico – Nº 127. 2011. HADDAD, Sérgio; PIERRO, Maria Clara Di. 2000. Escolarização de Jovens e Adultos. Pontifica Universidade Católica. São Paulo. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/rbedu/n14/n14a07. Acessado em: 04/05/2016.
- 215. 214Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer LACLAU, E; MOUFFE, C. 2011. Hegemonia y Estratégia Socialista. Hacia uma radicalización de la democracia. 3ª ed. 1ª reimp. – Buenos Aires: Fondo de Cultura Econónimca. NÓVOA, António. 1991. A educação Nacional. In Rosas, Fernando (coord.). Portugal e o estado novo (1930 – 1960) [ Nova História de Portugal, vol. XII]. Lisboa: Editorial Presença, pp. 538 – 542. OLIVEIRA. A. M. & SILVA. D. E. Alteridade X Intolerância: diretrizes curriculares que podem embasar mais democrática e politicamente o Ensino Religioso. 2011. Revista Teias v. 13 • n. 27 • 139-160 • jan/abr. 2011 – CURRÍCULOS: Problematização em práticas e políticas. Disponível em: http://periodicos.proped.pro.br/index.php/revistateias/article/viewFile/1018/830. Acessado em 17/11/2014. ORLANDI, Eni P. Análise de discurso: princípios e procedimentos/ 11ª edição, Campinas, SP Pontes Editores, 2003. SETEMY, Adriana Liga Brasileira contra o Analfabetismo. FONTES: Liga Brasileira Contra o Analfabetismo; NOFUENTES, V. Desafio. Disponível em: http://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/verbetes/primeira- republica/LIGA%20BRASILEIRA%20CONTRA%20O%20ANALFABETISMO.pdf. Acessado em: 04/08/2017. SOUZA, João Francisco. E a Educação: Que? A educação na sociedade e/ou a Sociedade na Educação. Edições Bagaço. Recife-PE, 2004.
- 216. 215Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer CAPÍTULO XVII UM QUINTETO HISTÓRICO E SUA RELAÇÃO COM POLÍTICAS PÚBLICAS E FRACASSO ESCOLAR ________________________ Vicente de Paulo Morais Junior
- 217. 216Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer UM QUINTETO HISTÓRICO E SUA RELAÇÃO COM POLÍTICAS PÚBLICAS E FRACASSO ESCOLAR Vicente de Paulo Morais Junior Universidade Metodista de São Paulo (UMESP/SP) RESUMO: A presente pesquisa teve como objetivo resgatar e evidenciar um quinteto histórico presente nas entrelinhas das políticas públicas educacionais na história da educação brasileira, estabelecendo uma conexão com fracasso escolar. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, com base em referências que proporcionaram um outro e/ou um novo olhar para o mesmo cenário. Identificou-se existência de um quinteto histórico nocivo, influenciando de forma direta a elaboração de políticas públicas educacionais. O quinteto histórico nocivo que compõem o pano de fundo das políticas públicas educacionais brasileiras foi categorizado como: atropelo de medidas legais, o processo de ziguezague, apetite partidário, a pressa e a descontinuidade. Constatou-se que o recorte bibliográfico pesquisado apresenta políticas públicas educacionais e fracasso escolar em discussões independentes, não estabelecendo conectividade entre ambas, ou ainda sem a devida correlação. Não estabelecendo conectividade ou correlação das políticas públicas educacionais, e seu processo de elaboração, implantação e implementação com o fracasso escolar, automaticamente estas, ficam isentas de qualquer responsabilidade. Porém, ao reagrupar e remontar as peças desse quebra cabeça observou-se a necessidade de discutir a temática fracasso escolar devidamente conectada a temática políticas públicas educacionais. Desta forma, a discussão sobre fracasso escolar e seus tentáculos deve contemplar a política pública que envolve o recorte temporal discutido. Não seguindo essa linha de discussão, corre-se o risco de se propor uma discussão parcial. PALAVRAS-CHAVE: Políticas públicas educacionais; Fracasso escolar; Quinteto histórico. 1- INTRODUÇÃO De que forma as políticas públicas se ordenam? Existe um dinamismo nas políticas públicas? Quais são as influências e heranças históricas que as políticas públicas educacionais atuais sofrem? Qual a relação entre fracasso escolar e políticas públicas educacionais? No intuito, não de responder “friamente” tais questionamentos, mas de identificar possíveis caminhos para reflexões e discussões que envolvem as entrelinhas dos questionamentos propostos, a presente pesquisa tateou a polissemia de conceitos que envolvem a temática políticas públicas, ampliando as discussões, com foco no cotidiano escolar e suas repercussões, assim estabelecendo uma conexão entre políticas públicas educacionais e fracasso escolar.
- 218. 217Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer 2- CICLO TÉCNICO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS Ao iniciar a pesquisa em relação a conceitos e definições de políticas públicas, logo se deparou com a “polissemia do conceito” (BARROSO, 2005, p.727). Inúmeros termos e “afluentes” foram identificados bibliografia consultada, trazendo muito mais um emaranhado de definições do que um aclarar de conceitos. Mesmo com todo esse “emaranhado”, que por vezes mostrou-se “obscuro”, houve a necessidade de realizar um recorte conceitual em relação a conceitos e definições que envolvem a temática políticas públicas. Nesse emaranhado, identificou-se entre os conceitos e definições duas possíveis variantes de discussões: o ciclo técnico das políticas públicas e a dinâmica das políticas públicas. Em relação ao ciclo técnico das políticas públicas, estes terão como alicerce a relação intrínseca do binômio direito e demanda (GIOVANNI, 2009, p.16). A partir deste alicerce, o ciclo técnico pode ser ordenado sequencialmente em: definição de agenda (seleção das prioridades); formulação de políticas (apresentação de soluções ou alternativas); adoção (implantação); implementação (ou execução das ações) e avaliação (SOUZA, 2006; CALDAS e LOPES, 2008; BALL e MAINARDES, 2011). Vale destacar que, esse ciclo técnico, não pode ser encarado como “manufaturação de políticas públicas”, mas sim como um movimento de engenharia social, ou ainda “um tipo de ‘engenharia política’” (FAY apud BALL e MAINARDES, 2011, p.83). Nesta ordenação, a formulação de políticas com apresentação de soluções e alternativas deve ter como fator estruturante a participação de todos os atores envolvidos em uma política pública. O Boletim REPENTE (2006) ressalta que essa participação não está restrita a discussões iniciais, e se ampliando ao processo de formulação, implementação e avaliação. Porém, observamos muito mais uma “cultura paroquial” com seus respectivos súditos, havendo passividade dos atores diretamente envolvidos na política pública, do que uma cultura de participação (FREY, 2000, p.237). Outro aspecto relevante ao ciclo técnico das políticas públicas é a implantação. Mainardes contribui caracterizando esse processo basicamente em “política de fato” e a “política em uso” (2006, p.95). O referido autor elucida os termos utilizados apontando que a “política de fato” são os textos legais (discurso legal ou discurso oficial), estabelecendo uma importante diferenciação entre “política como texto” e a “política como discurso”. O autor ainda aponta que os textos legais, podem ter uma pluralidade de leituras, favorecendo múltiplas interpretações, já tais textos não são integralmente coerentes e/ou claros, e podem ser contraditórios. (2006, p.97) Sendo assim, em virtude da disparidade entre a “política como texto” e a “política como discurso”, a então “política em uso” acaba por ter características próprias se adequando a singularidade local de sua respectiva aplicabilidade. Notam-se níveis de concretização de políticas públicas.
- 219. 218Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer Ball e Mainardes contribuem para tal apontamento evidenciando que as políticas públicas não são fixas e imutáveis e podem ser sujeitas a interpretações e traduções (2011, p.14). Corroborando com tal abordagem, Mainardes ainda contribui com as discussões ressaltando a necessidade de pesquisa em políticas públicas em campo macro e micro contextual, evidenciado ampla diferença entre ambas as abordagens (2006, p.100). O que determinará a distância entre a política de fato e a política em uso será a dinâmica das políticas públicas, adentrando assim, a segunda variante de discussões propostas acima. Essa dinâmica se personificará através das duas últimas fases do ciclo técnico das políticas públicas: implementação, e, por conseguinte, a avaliação. A implementação, como conjunto de ações continuas que darão vida a política pública, tem, acima de tudo, característica peculiar de ser ‘retro alimentadora’ da própria política, ou seja, será a partir do processo de implementação, e seu curso natural (ou não!) que determinará as orientações necessárias para a própria política pública. Vale destacar que a implantação pode ocorrer gradativamente através de adoção ou publicações de textos legais, não podendo assim, esse movimento, ser considerado como implementação e sim, como o processo de implantação em fases ou estágios. O ciclo técnico das políticas públicas ainda irá destacar a avaliação. Maria Helena Guimarães de Castro traz à tona sábios apontamentos sobre esse processo de avaliação. Inicialmente, a autora evidencia que: A avaliação é o instrumento de análise mais adequado para sabermos se uma política está sendo implementada, no sentido de observar criticamente a distância entre as consequências pretendidas e aquelas efetivadas, detectando as disparidades entre metas e resultados. (1989, p.3) Outro aspecto elementar mencionado por Castro (1989) é analisar a avaliação em política pública, pois a partir desta, analistas conseguem visualizar seu desenho, sua estrutura organizacional, mecanismos de operacionalização iniciais e durante o processo de implementação realizar um refinamento da compressão quanto às causas do seu sucesso ou fracasso. Logo, nota-se que a avaliação da política pública não deve ocorrer apenas no fim de um processo ou entre políticas públicas. O investimento de avaliações durante o processo de implementação solidifica o próprio refinamento da política pública em questão. A avaliação, objetivando a vivacidade das políticas públicas, alimentará o processo de implementação.
- 220. 219Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer 3- METAFORIZANDO O CICLO TÉCNICO Após abordarmos o ciclo técnico de políticas públicas, convém por oportuno, metaforizar este ciclo. Duas abordagens serão discutidas: “os andaimes” de Lúcia Emília Nuevo Barreto Bruno e o “ciclo de vida” das políticas públicas do Boletim REPENTE. Para a autora acima mencionada, o ciclo técnico das políticas públicas tem como aporte fundamental os andaimes (In: FERREIRA e OLIVEIRA, 2013, p.92). Esses andaimes irão sendo devidamente montados conforme as políticas públicas vão sendo implementadas. Esses andaimes só estarão devidamente amarrados quando, desde as primeiras peças montadas, os encaixes estiverem justos e estáveis. As “primeiras peças” no ciclo de políticas públicas são a participação dos atores diretamente envolvidos nas primeiras etapas da construção da política pública. A “cultura paroquial” destacada por Frey (2000) apenas proporcionaram “andaimes frouxos” que, por sua vez, não transmitem segurança. Vale destacar que a participação dos atores diretamente envolvidas com a política pública em elaboração, deverá permanecer durante todo o processo de “edificação” destas, pois quanto mais alto a construção, maior a necessidade de andaimes sólidos e estáveis. Nota-se que a metáfora proposta por Bruno, estabelecendo uma relação entre políticas públicas e andaimes, evidencia que, em paralelo ao ciclo técnico das políticas públicas, existe um suporte que dá segurança e garante a vivacidade das políticas públicas, evitando assim, “desmoronamentos”. A segunda linha metafórica proposta tem como base o Boletim REPENTE que aponta um “ciclo de vida” para as políticas públicas mencionando que elas “(...) nascem, crescem, maturam-se e transformam-se” (2006, p.2). Estabelecendo uma conexão entre a metáfora mencionada e o ciclo técnico das políticas públicas, nota- se que elas “nascem” a partir da definição e seleção de prioridades, tendo como base o binômio direito/demanda. Elas irão “crescer” e tomar forma a partir da apresentação de soluções e alternativas combinado a implantação e o texto legal. O processo de “maturação” virá através da implementação como execução de ações contínuas. E a “transformação” ocorrerá a partir de um movimento de avaliação das políticas públicas que por sua vez alimentará a maturação/implementação. 4- QUINTETO HISTÓRICO NOCIVO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS Historicamente, ao analisar políticas públicas em educação, alguns fatores negativos devem ser levados em conta. Esses fatores interferiram, e porque não dizer “moldaram”, não somente as políticas públicas educacionais brasileiras como as repercussões destas no cotidiano escolar, em especial o fracasso escolar. Observou-se cinco frentes organizacionais, edificadas ao longo da história da educação no Brasil, que além de se completarem, com o passar das décadas foram se aglutinando e agindo em conjunto.
- 221. 220Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer A primeira frente organizacional está devidamente descrita no “Manifesto dos Pioneiros da Educação”. Destaca-se a contemporaneidade de tal documento, onde observa-se Mas, subordinada a educação pública a interesses transitórios, caprichos pessoais ou apetites de partidos, será impossível ao Estado realizar a imensa tarefa que se propõe da formação integral das novas gerações. (2006, p.194) [grifo nosso] O Manifesto ainda destaca que Não há sistema escolar cuja unidade e eficácia não estejam constantemente ameaçadas, senão reduzidas e anuladas, quando o Estado não soube ou não quis se acautelar contra o assalto de poderes estranhos, capazes de impor a educação fins inteiramente contrários aos fins gerais que assinala a natureza em suas funções biológicas. Toda a impotência manifesta do sistema escolar atual e a insuficiência das soluções dadas às questões de caráter educativo não provam senão o desastre irreparável que resulta, para a educação pública, de influências e intervenções estranhas que conseguiram sujeitá-la a seus ideais secundários e interesses subalternos. (2006, p.194) [grifo nosso] Nota-se que o Manifesto dos Pioneiros da Educação de 1932, combinado aos grifos assinalados, evidenciam que a educação brasileira e suas respectivas políticas públicas estão – com o uso do verbo no presente devido à contemporaneidade do documento – a mercê de apetite partidários com influencias e intervenções estranhas aos reais interesses e necessidades da educação. A segunda frente organizacional é “(...) o atropelamento que a educação brasileira vem sofrendo pela avalanche de propostas e de medidas legais e paralegais” (AZANHA, 2001, p.241). A terceira frente, devidamente combinada a segunda frente acima mencionada é apontada por Cunha que ressalta o processo ziguezague das políticas públicas (In: FERREIRA e OLIVEIRA, 2013, p.121). Estes dois notórios e prejudiciais movimentos combinam com a preocupação levantada por Arelaro, quando esta aponta uma das razões pelas quais vivemos atropelos e ziguezagues, A “pressa” nas decisões de políticas públicas compromete esse processo democrático – sempre mais lento – de consulta aos envolvidos. Não se trata de defender um “basismo” inercial, em que a consulta à população signifique um atrofiamento permanente de qualquer decisão rápida da gestão pública, mas de se admitir que a euforia pelos planejamentos de políticas públicas “baixados por decretos” é inócua, pois ineficaz, uma vez que em pouco tempo esses planos caem no esquecimento. (2007, p.903) Assim, a pressa, quarta frente organizacional, evidencia uma grande e camuflada incoerência: atropela-se política pública por política pública em espaço curto de tempo,
- 222. 221Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer Rompendo o ciclo técnico das políticas públicas, pois “sua vigência” está reduzida ao intervalo entre a gestão de um governante e outro. Demerval Saviani, além de reforçar a ideia de ziguezague, traz mais uma característica das políticas públicas no país, fruto desse atropelo, pressa e apetite partidário, mencionando: A outra característica estrutural da política educacional brasileira, que opera como um óbice ao adequado encaminhamento das questões da área, é a descontinuidade. Esta se manifesta de várias maneiras, mas se tipifica mais visivelmente na pletora de reformas de que está povoada a história da educação brasileira. Essas reformas, vistas em retrospectiva de conjunto, descrevem um movimento que pode ser reconhecido pelas metáforas do ziguezague ou do pêndulo. A metáfora do ziguezague indica o sentido tortuoso, sinuoso das variações e alterações sucessivas observadas nas reformas; o movimento pendular mostra o vai-e-vem de dois temas que se alternam sequencialmente nas medidas reformadoras da estrutura educacional. (2008, p.11) Saviani destaca e evidencia a quinta frente: descontinuidade. O Manifesto de 1932 também da pistas de tal descontinuidade ao evidenciar que A situação atual, criada pela sucessão periódica de reformas parciais e frequentemente arbitrárias, (...), nos deixa antes a impressão desoladora de construções isoladas, algumas já em ruína, outras abandonadas em seus alicerces, (...) (2006, p.188) Naturalmente, diante de apetites partidários, atropelos e zigue zague que resultaram na pressa, assim a descontinuidade brota como processo intrínseco ao processo. Desta forma, evidencia-se o quinteto histórico nocivo composto e categorizado por: atropelo de medidas legais, o processo de ziguezague, apetite partidário, a pressa e a descontinuidade. 5- POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS E FRACASSO ESCOLAR Maria Helena Souza Patto, em sua obra “A produção do fracasso escolar: histórias de submissão e rebeldia”, com publicação datada de 1990 (2013), cirurgicamente, ao discutir o fracasso escolar, aponta além do discurso fraturado no interior da escola, evidencia que historicamente, temos fases de atribuição do fracasso escolar: ora o fracasso do professor, ora o fracasso dos alunos e suas diversas variáveis, ora o fracasso da escola, mas nunca o fracasso escolar oriundo da política pública. Tendo como base o “não contemplado” por Patto, atribui-se então parte do fracasso escolar as políticas públicas, pois “andaimes frágeis”, além de não
- 223. 222Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer oferecerem e transparecerem segurança, não conseguem acompanhar a edificação de políticas públicas sólidas. Além disso, o “quinteto histórico nocivo” das políticas públicas educacionais não permite o amadurecimento e, tampouco, a transformação destas, rompendo o ciclo técnico das políticas públicas. A “cultura paroquial” aqui destacada tem como repercussão ofuscar essa transferência de responsabilidade da política pública a atores que delas dependem, ficando para estes últimos, a culpabilização do fracasso escolar, seja integral, seja em fases, como bem destaca Patto. Vale destacar que essa abordagem não está condicionada a fazer uso de uma metodologia estadocêntrica de culpabilização exclusiva do Estado, e sim, integrá-lo, transformando-o de algo externo, exclusivo a ações legais e de formulação, para membro de um processo, sendo co-responsável. Excluir a política pública do fracasso escolar é como edificá-la sem a argamassa adequada. 5- CONSIDERAÇÕES FINAIS Na trajetória desta pesquisa, observando a polissemia de conceitos que envolvem a temática políticas públicas, optou-se, como um recurso, estabelecer um recorte teórico-metodológico, abordando o ciclo técnico das políticas públicas, metaforizando-o com a proposta de andaimes e ciclo de vida. Constatou-se que a participação dos atores diretamente envolvidos com a política pública deve ocorrer durante todo o processo, desde o nascimento até a transformação das políticas públicas, trazendo estabilidade aos andaimes que crescem conforme a política pública se edifica. Porém perceberam-se níveis de concretização das políticas públicas tendo como base a disparidade entre política de fato e a política em uso. O fator que determinará a distância entre a política de fato e a política em uso é o processo de implementação que só terá vivacidade com a combinação da fase avaliação do ciclo técnico das políticas públicas. Destacou-se o quinteto histórico nocivo às políticas públicas educacionais que, por sua vez, legitimará a análise do fracasso escolar diretamente conectado a temporalidade da política pública educacional vigente, destacando seu processo de formulação, implantação e implementação. Desta forma, a discussão sobre fracasso escolar e seus tentáculos deve contemplar a política pública que envolve o recorte temporal discutido. Não seguindo essa linha de discussão, corre-se o risco de se propor uma discussão parcial.
- 224. 223Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer REFERÊNCIAS ARELARO, Lisete R. G. Formulação e implementação das políticas públicas em educação e as parcerias público-privadas: impasse democrático ou mistificação política?. Educação e Sociedade, Campinas, vol. 28, n.100, Especial, out. 2007. AZANHA, José Mario Pires. Planos de educação: possibilidades e limitações. Cadernos de História e Filosofia da Educação, São Paulo, vol.4, n.6, 2001. BALL, Stephen J. e MAINARDES, Jefferson (org). Políticas educacionais: questões e dilemas. São Paulo: Cortez Editora, 2011. BARROSO, João. O estado, a educação e a regulação das políticas públicas. Educação e Sociedade, Campinas, vol. 26, n. 92, Especial, out. 2005. BRUNO. Lúcia Emília Nuevo Barreto. Poder político e sociedade: qual sujeito, qual objeto?. In: FERREIRA, Eliza Bartolozzi e OLIVEIRA, Dalila Andrade. Crise da escola e políticas educativas. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2013. CALDAS, Jefferson Wahrendorff e LOPES, Brenner (org.). Políticas Públicas: conceitos e práticas. Belo Horizonte : SEBRAE/MG, 2008. CASTRO, Maria Helena Guimarães de. Avaliação de políticas e programas sociais. Caderno de Pesquisa, Núcleo de estudos de políticas públicas/NEPP, Campinas, n.12, 1989. CUNHA, Luiz Antonio. As políticas educacionais entre o presidencialismo imperial e o presidencialismo de coalizão. In: FERREIRA, Eliza Bartolozzi e OLIVEIRA, Dalila Andrade. Crise da escola e políticas educativas. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2013. FREY, Klaus. Políticas públicas: um debate conceitual e reflexões referentes à prática da análise de políticas públicas no Brasil. Planejamento e Políticas Públicas/IPEA, [s.l.], n.21, jun. 2000. GIOVANNI, Geroldo di. As estruturas elementares das políticas públicas. Caderno de Pesquisa, Núcleo de estudos de políticas públicas/NEPP, Campinas, n.82, 2009. MAINARDES, Jefferson. A abordagem do ciclo de políticas e suas contribuições para a análise da trajetória de políticas educacionais. Atos de Pesquisa em Educação, Blumenau, v. 1, n. 2, mai./ago. 2006. MAINARDES, Jefferson, FERREIRA, Marcia dos Santos e TELLO, César. Análise de políticas: fundamentos e principais debates teórico-metodológicos. In: BALL, Stephen
- 225. 224Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer J. e MAINARDES, Jefferson (org). Políticas educacionais: questões e dilemas. São Paulo: Cortez Editora, 2011. Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova (1932). Revista HISTEDBR, número especial, Campinas, ago. 2006. OLIVEIRA, Dalila Andrade. As políticas públicas em educação e a pesquisa acadêmica. In: OLIVEIRA, Dalila Andrade e DUARTE, Adriana (org). Políticas Públicas e Educação: regulação e conhecimento. Belo Horizonte: Fino Traço Editora, 2011. PATTO, Maria Helena de Souza. A produção do fracasso escolar: histórias de submissão e rebeldia. 3.ed. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2013. REPENTE, Polis: Instituto de Estudos, formação e assessoria em políticas públicas. Política pública como garantia de direitos (boletim). São Paulo, n.26, dez. 2006. SAVIANI, Demerval. Política educacional brasileira: limites e perspectivas. Revista de Educação/ PUC, Campinas, n. 24, jun. 2008. SOUZA, Celina. Políticas Públicas: uma revisão da literatura. Sociologias, Porto Alegre, v.8, n. 16, jul./dez. 2006. ABSTRACT: The present research aimed to rescue and evidence a historical quintet present among the lines of public educational policies in the history of Brazilian education, binding a connection with school failure. It is a bibliographical research, based in references that provided another and / or a new one to look for the same scenery. It was identified the existence of a noxious historical quintet, directly influencing the elaboration of educational public politics. The noxious historical quintet that compose the backdrop of the politics education public Brazilians was classified as: I run over of legal measures, the zigzag process, supporting appetite, the hurry and the discontinuity. It was verified that the researched bibliographical cutting presents education public politics and school failure in independent discussions, not establishing connectivity among both, or still without the due correlation. Not establishing connectivity or correlation of the education public politics, and his/her elaboration process, implantation and implementation with the school failure, automatically these, are exempt of any responsibility. However, when rearranging and to raise that break head's pieces the need it was observed of discussing the theme school failure properly connected the public political theme education. This way, the discussion on school failure and their tentacles should contemplate the public politics that it involves the discussed temporary cutting. Not following that discussion line, he/she takes the risk of proposing a partial discussion. KEYWORDS: Education public politics; Fail school; Historical quintet.
- 226. 225Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer CAPÍTULO XVIII UMA HERANÇA CONSERVADORA DA AUTOCRACIA BURGUESA PARA A EDUCAÇÃO BRASILEIRA EM UM CONTEXTO DE CONTRARREFORMA DO ESTADO ________________________ Angely Dias da Cunha Ingridy Lammonikelly da Silva Lima Bernadete de Lourdes Figueiredo de Almeida Jéfitha Kaliny dos Santos
- 227. 226Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer UMA HERANÇA CONSERVADORA DA AUTOCRACIA BURGUESA PARA A EDUCAÇÃO BRASILEIRA EM UM CONTEXTO DE CONTRARREFORMA DO ESTADO Angely Dias da Cunha Universidade Federal da Paraíba, Programa de Pós-Graduação em Serviço Social pela Universidade Federal da Paraíba – Paraíba. Ingridy Lammonikelly da Silva Lima Universidade Federal da Paraíba, Programa de Pós-Graduação em Serviço Social pela Universidade Federal da Paraíba – Paraíba. Bernadete de Lourdes Figueiredo de Almeida Universidade Federal da Paraíba, Programa de Pós-Graduação em Serviço Social pela Universidade Federal da Paraíba – Paraíba. Jéfitha Kaliny dos Santos Universidade Estadual da Paraíba, Programa de Pós-Graduação em Serviço Social pela Universidade Estadual da Paraíba – Paraíba RESUMO: O presente artigo é resultado de uma pesquisa documental e bibliográfica, de cunho qualitativo, acerca da herança conservadora advinda do período autocrático na educação em um contexto de contrarreforma do Estado. A crise estrutural do capital em curso desde os anos de 1970 chega ao Brasil de modo contundente nos anos de 1990, em meio a recente Constituição de 1988 e ao processo de reabertura democrática. Desta forma, o objetivo central é discutir o papel da educação para a democratização societária, tendo como finalidade a análise sobre os ônus do processo de “autocracia burguesa” vivenciado pelo Brasil durante os anos de 1964-1985 e sua herança conservadora na contemporaneidade. No primeiro momento será discutida a crise do capital no contexto ditatorial da Reforma Educacional, no intuito de compreendermos o processo contemporâneo educacional; em seguida, o debate envolve uma análise sobre as inflexões deste lapso temporal para a democratização da educação e o contexto atual que recupera o ranço ditatorial através dos programas de incentivo ao ensino superior, como o REUNI e PROUNI. Nossas conclusões apontam que em um contexto marcado pela redefinição do Estado, na qual a responsabilidade pela educação superior é transferida para o mercado, o tripé ensino-pesquisa-extensão é resumido apenas ao ensino, a educação pública fica a mercê dos ditames dos organismos multilaterais, cuja proposta é expandir a educação via mercado financeiro/ ensino privado e sucatear as universidades públicas. Assim, para esta análise, evidenciamos como arcabouço teórico o método do materialismo histórico-dialético, para compreensão da realidade e o desvelamento do objeto. PALAVRAS CHAVE: EDUCAÇÃO; CONTRARREFORMA DO ESTADO; REFORMA UNIVERSITÁRIA; DITADURA MILITAR;
- 228. 227Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer 1- INTRODUÇÃO O trabalho ora apresentado tem por objetivo analisar e discutir o papel da educação na contemporaneidade, tendo como finalidade a análise sobre os ônus do processo de “autocracia burguesa” vivenciado pelo Brasil durante os anos de 1964- 1985 e seus desdobramentos e retorno na atualidade. Desta forma, observamos que o Estado diante de uma de uma crise estrutural busca meios para reestruturar o crescimento econômico, isso acontece através da redução dos gastos na área social, buscando atender a agenda dos princípios neoliberais em consonância com as recomendações dos organismos multilaterais, FMI e Banco Mundial. O papel do Estado para o Banco Mundial (BM), conforme aponta Simionatto (1999 apud Banco Mundial, 1997), é fundamental para o processo de desenvolvimento econômico e social, porém, não enquanto agente direto do crescimento e sim como sócio, elemento catalisador e impulsionador desse processo. Assim, com o reordenamento do Estado tendo como eixo norteador a política do BM para os países periféricos, consolidou-se um intenso processo de privatização dos serviços públicos, incluindo a educação e, especialmente, a educação superior (LIMA, 2011). Esse é um quadro de desmonte de um padrão de proteção social, operando como tendências o sucateamento e rebaixamento dos serviços públicos, e por consequência a transferência e abertura para o mercado de serviços que até então não estavam no circuito da venda e troca adequadas à lógica da mercadoria, dentre eles, destacamos a educação. O que passa a ocorrer então, por parte dos governos, é a defesa de que a educação enquanto mercadoria deve ser “universalizada” via mercado, o que colide diretamente com a concepção de educação pública e de qualidade (SILVA, 2010). Nesse contexto, percebemos os contornos das políticas sociais públicas ligadas aos interesses do grande capital, como também se verificam a diversificação das fontes de financiamento da educação e uma formação que cada vez mais atenda ao tecnicismo formal do trabalho. Concordamos com Silva (2010), ao referendar que a educação no atual estágio do capitalismo: “transforma-se em uma poderosa estratégia do capital para reforçar sua dominação e contribuir com a construção de uma aceitação coletiva sobre o culto ao mercado, bem como aprofundar uma integração periférica e dependente da lógica do capital monopolista”. (p.414) Dentro dessa análise, trataremos em um primeiro momento da Reforma Educacional vivenciada no período ditatorial brasileiro, para em seguida analisarmos os ônus desse processo na contemporaneidade, utilizando o REUNI e o PROUNI como exemplificação para o atual contexto educacional brasileiro. O presente estudo está orientado por um enfoque reflexivo e analítico, na medida em que, segundo Triviños (1987), procura conhecer com profundidade os traços característicos de uma determinada realidade, neste caso, o processo de
- 229. 228Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer sucateamento da Educação no Brasil – com ênfase na Educação Superior – o qual teve início ainda no marco dos Governos Militares, e que perdura até hoje. Assim, destacamos nesse processo de conhecimento o seguinte procedimento metodológico: a realização de um levantamento bibliográfico e documental de cunho qualitativo. A pesquisa foi realizada no período de março de 2016 a agosto de 2016. A análise de conteúdo foi adotada para nos conduzir a uma melhor apreensão da realidade pesquisada e, consequentemente, a um maior conhecimento da temática estudada. 2- TRANSFORMAÇÕES SOCIETÁRIAS PROVOCADAS PELA CRISE DO CAPITAL E A EDUCAÇÃO A crise do capital tem como alicerce a lei geral da acumulação capitalista e a contradição capital x trabalho; suas bases estão no processo de apropriação da riqueza produzida coletivamente. Através dessa discussão é possível entender como a educação tem saído da esfera do “direito” para se tornar mercadoria, e como tem sido funcional para a realização do processo produtivo do capital. Assim, a afirmação de Marx (2004) de que tudo, até os próprios homens se tornam mercadoria no capitalismo, continua sendo vivenciada, principalmente, em momentos de crise do capital. Dessa forma, as transformações societárias em curso, ocasionadas pela crise estrutural do capital (MÉSZÁROS, 2011) a partir da década de 1970, com o exaurimento do padrão de acumulação baseado no fordismo-taylorismo e no “pacto de classes”, e o fim dos “anos dourados” nos países centrais, consistem na reestruturação produtiva, na financeirização da economia e na ideologia neoliberal, cujas particularidades se pautam na sociedade tardo-burguesa de enfrentamento da crise e nas tentativas de crescimento das taxas de lucro a substituição do regime de acumulação “rígido” para o “flexível”. As características da flexibilização que transformaram a ordem da produção econômica mundial, foram incorporadas pelo setor público através da refuncionalização do papel do Estado, esse que passou a direcionar suas ações orientadas para o mercado, mediante a restrição das políticas sociais desregulamentando o sistema de proteção social conquistado pelas lutas do movimento operário da classe trabalhadora. No Brasil, segundo Behring (2003), houve o desmonte e a destruição das políticas sociais, numa espécie de reformatação do Estado brasileiro para adaptação passiva à lógica do capital. A hipertrofiação das atividades de natureza financeira com a construção de uma oligarquia financeira global, o caráter concentrador na atividade econômica, a desterritorialização dos polos produtivos, a crescente informatização do processo de automação, as novas formas de contratação, as formas bárbaras de extração da mais-valia relativa, as mutações no mundo do trabalho, e a desqualificação dos Estados-nações para que o privatismo neoliberal se consolide.
- 230. 229Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer De acordo com Antunes (2007) as transformações no mundo do trabalho, através do processo de restruturação produtiva, que tem suas bases ideológicas no liberalismo e se solidifica na contrarreforma do Estado para com a classe trabalhadora, tem seus rebatimentos na educação na medida em que há uma expansão do mercado educacional e cortes nos investimentos destinados a universidade pública. Isso tem implicações para direção crítica das profissões, pois o ensino privado vem direcionando seu ensino para a exigência do mercado, buscando formar profissionais técnicos, pragmáticos, que atuem de forma imediatista. Todas essas implicações têm como base concreta a contrarreforma do Estado como um processo ligado à recuperação dos lucros do capital. A contrarreforma do Estado é uma estratégia política, econômica, cultural e política do Capital em se reestruturar. Em outras palavras, a contrarreforma do Estado é um conjunto de estratégias e respostas do capital para enfrentamento da crise, configura-se na dominância do capital portador de juros, na intensificação da supercapitalização, na reestruturação produtiva que conjuga inovação tecnológica e organizacionais com velhas práticas predatórias de acumulação primitiva, no ajuste estrutural do Estado de acordo com a nova racionalidade hegemônica e com todo o ideário neoliberal a ela vinculado que tem seus rebatimentos na organização do trabalho (SOARES, 2010). Assim, a proposta de contrarreforma do Estado expressa no Plano Diretor de Reforma do Estado, está voltada para a desconstrução das políticas sociais no sentido do processo de transformação de direitos em “mercadorias”. É o que acontece com a política de educação, que no ensino superior através de um processo de contrarreforma assume a lógica do capital, na qual, os alunos se tornam consumidores da mercadoria ofertada, nesse caso, a educação. A entrada do capital privado na educação superior pública promove transformações estruturais, conforme nos chama a atenção Chauí (2003), implicando na perda de autonomia das universidades públicas, conquistada pelo movimento docente e discente, e ainda no reconhecimento apenas do saber que se presta para a valorização do capital ou na chamada geração de lucro social de universidade dos resultados. Diante disso, o que se observa por parte dos governos é a defesa de que a educação enquanto mercadoria deve ser “universalizada” via mercado. Tais ideias e recomendações aparecem travestidas no discurso da “democratização” do ensino e na concepção ideológica de produtivismo acadêmico como realização pessoal e intelectual. Para Silva (2010, p.144) a educação no atual estágio do capitalismo “transforma-se em uma poderosa estratégia do capital para reforçar sua dominação e contribuir com a construção de uma aceitação coletiva sobre o culto ao mercado, bem como aprofundar uma integração periférica e dependente da lógica do capital monopolista”. Isso se aprofunda, uma vez que as medidas adotadas pelo Estado impulsionam a universidade ao rebaixamento do seu nível intelectual e cultural de maneira muito eficiente aos interesses de expansão do mercado, mas não consegue
- 231. 230Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer contribuir de forma significativa com a emancipação humana por meio da educação e da produção de conhecimento. Todos estes elementos, como o desmonte dos equipamentos sociais que integram a precarização da educação pública e o aumento da presença e da vivência do sofrimento psíquico e físico, são causados pelo agravamento das atividades laborais que os docentes e discentes passam a experimentar cotidianamente no nível superior (GUARANY, 2014). Principalmente, através de uma lógica produtivista que muito se parece com um modelo fordista presente na produção da mercadoria. Acontece, de fato, uma lógica que levam os estudantes e docentes a competirem entre si e produzirem em grande escala para preencher os requisitos propostos pelos órgãos de fomento a pesquisa no país. As bases desses requisitos fazem parte de um projeto macrossocial econômico, cuja ideologia neoliberal de cunho conservador tem imposto e financiado através dos organismos internacionais uma lógica educacional mercadológica. A educação superior, que deveria ser um campo de ultrapassagem do senso comum para o campo da ciência, na qual a criticidade deve ser o pilar do ensino, encontra-se na atualidade marcada por um processo retrógrado com traços dos projetos educacionais presentes na autocracia burguesa. Na construção do consenso e da coesão, a educação presente na esfera da superestrutura, passa diante do capitalismo monopolista a se tornar mecanismo de construção e propaganda da ideologia dominante no sentido de manter sua hegemonia. A lógica cultural do capitalismo tardio, definida por Harvey, se adentra na esfera educacional não só para impulsionar a expansão do capitalismo financeiro, já que ele não se realiza exclusivamente na produção, mas também, para ser funcional à sua ideologia, com o propósito de manter o controle entre a classe trabalhadora. Dito isso, a direção ideológica, política e econômica imposta pelos organismos multilaterais internacionais para os países periféricos tem como objetivo uma reprodução ampliada do capital na esfera financeira. Assim, a educação no plano econômico financeiro, nessa conjuntura, torna-se mercadoria, enquanto tal é mantida pela mais-valia da produção transferida via fundo público e/ou pagamento das mensalidades. No plano político ideológico tem-se um direcionamento baseado no desmonte da perspectiva crítica e na propagação de projetos conservadores, portanto, esse florescimento ideológico e político conservador na educação devem- se as próprias origens da formação social e histórica do Brasil, mas também a uma herança presente no período ditatorial. 3- A DITADURA MILITAR BRASILEIRA E AS INFLEXÕES PARA A EDUCAÇÃO Para a análise aqui pretendida, partimo-nos da seguinte premissa: o período de “autocracia burguesa” funcional ao modelo burguês trouxe elementos que nos permitem compreender o cenário contemporâneo da Educação no Brasil. O movimento contraditório e dinâmico societário – sobre a égide do capital –
- 232. 231Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer proporcionou uma nova configuração em torno das conquistas por direitos, que em primeiro momento pôde, apenas, representar ganhos ou nos mostrar uma face progressista e democratizada nesse campo. A educação, nesse sentido, avançou democraticamente como expresso nos registros da Carta Magna de 1988, passando a ser institucionalizada como um direito “universal” – pelo menos na educação de base – mas que ainda apresenta problemáticas fundantes e elimináveis neste sistema. Nessas problemáticas estão presentes os ranços da ditadura militar, executada não só no Brasil, como em toda América Latinha, tinha objetivo claro: a legitimação do sistema capitalista, através da modernização dos seus mecanismos de controle e acumulação. Como nos aponta Ferreira Jr e Bittar (2008, p. 335) Os governos militares adotaram um movimento político de duplo sentido: ao mesmo tempo em que suprimiam as liberdades democráticas e instituíam instrumentos jurídicos de caráter autoritário e repressivo, levavam à prática os mecanismos de modernização do Estado nacional, no sentido de acelerar o processo de modernização do capitalismo brasileiro. Em síntese: propugnavam a criação de uma sociedade urbano- industrial na periferia do sistema capitalista mundial, pautada pela racionalidade técnica. No Brasil, o período ditatorial teve início em 1964, em contexto adverso, quando o país vivia sob uma ordem progressista, com um direcionamento que indicava – ou ao menos permitia – o pensar pelo caminho da esquerda. O desenvolvimento das forças revolucionárias na América Latina, acompanhado por sinais de esgotamento do modelo acumulativo do capital, apontou a radicalidade do processo ditatorial aplicado nos países em desenvolvimento. Era necessária uma política que pudesse adequar à sociedade civil, ideologicamente e culturalmente, para as transformações que seriam fecundadas para a retomada capitalista. O modo de pensar e agir precisavam ser redimensionados para a instalação da dominação burguesa, e um dos mecanismos para esse feito foram as reformas no campo da educação, que além de assegurarem um futuro promissor para o desenvolvimento capitalista, ainda garantiram a estabilidade do sistema ditatorial, contribuindo para a efetivação da ponta de toque do regime antidemocrático, que se estruturou no veto da liberdade de pensar e expressar politicamente e ideologicamente contra a ordem burguesa. O ensino superior foi o principal alvo do governo ditatorial, uma vez que era no seio desse período educacional que estavam os elementos que o regime necessitava, na formação de mão-de-obra para desenvolver o país com expressiva ênfase no tecnicismo e na formação de seres pensantes alinhados aos objetivos de lucratividade do capitalismo. Deste modo, mesmo acontecendo o desmonte do período ditatorial com a instalação da democracia, o ensino superior ainda se estrutura sob os traços da reforma educacional instaurada no período autocrático burguês, a exemplo temos a divisão departamental dos cursos de ensino superior que descentralizou o corpo
- 233. 232Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer pensante dos cursos naquela época e ocasionou os mesmos reflexos na forma organizativa dentro das nossas universidades públicas. Ao passarmos os olhos de modo rápido, sem a pretensão de desvelar a essência dos fatos, poderíamos afirmar que a Lei de número 5.540, de 28 de Novembro de 1968, que indicou de modo formal as principais mudanças no campo da educação superior, tratava-se de uma lei de cunho democrático, pois permitia, inclusive, a formação da representação estudantil, o que é bastante contraditório tendo em vista os relatos reais das perseguições aos estudantes dentro das universidades em todo o país neste período. No entanto, trata-se apenas de uma impressão inicial e infundada. Não podemos negar que o consenso era necessário, o governo ditatorial não poderia radicalizar suas ações, colocando até seus “devotos” em oposição, pelo contrário, a ditadura militar trabalhava de modo camuflado, concretizando trabalhos no campo social, fazendo a velha política do “pão e circo”, no campo da aparência. Entretanto, em uma análise mais profunda nos extratos da Lei que passaram a regulamentar a educação superior, podemos perceber que se trata de uma articulação de dominação de todos os setores geracionais que colocavam a educação em funcionamento. Os (a) administradores (as) na figura dos (as) reitores (as) eram escolhidos pelo próprio governo militar, com uma finalidade evidente de representar de modo harmonioso os interesses do capital, que estava representado pelo governo autocrático. A formação profissional com o sentido de formar seres pensantes, capazes de contribuir com o processo emancipatório da sociedade, foi totalmente descartada. A proposta era visível, ampliar o ensino superior para formar profissionais aptos para executar as ordens do capital. Não é à toa que se institui no primeiro capítulo da referida Lei o incentivo à ciência e à pesquisa. No capítulo III, que trata sobre o corpo discente, a representação estudantil é mantida, mesmo de caráter conservador, sendo sua ação delimitada entre a organização e os demais setores que compõem o ensino superior. No entanto, anterior ao secionamento desta Lei, revogou-se a legislação que permitia a organização política das representatividades estudantis. A Lei n.º4464 de 9 de novembro de 1964, conhecida como Lei Suplicy de Lacerda, colocou na ilegalidade as entidades estudantis, com União Nacional dos Estudantes (UNE), e instituiu como forma legal o funcionamento do Diretório Acadêmico (DA), restrito a cada curso, e o Diretório Central dos Estudantes (DCE), no âmbito da universidade, procurando eliminar a representação estudantil em nível nacional na sociedade, bem como qualquer tentativa de ação política independente dos estudantes. (LIRA, 2010, p. 63) Todas as ações desenvolvidas pelo ensino superior brasileiro neste lapso foram determinadas pelo governo ditatorial, sem a participação popular, atendendo as diretrizes dos órgãos internacionais, colocando o plano desenvolvimentista em ação.
- 234. 233Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer [...] o governo veio a adotar a maior parte da estratégia desejada pela USAID e assumir a responsabilidade pelas propostas. A Confederação Nacional de Educação (CNE), organizada em 1966, teve por objetivos apontar sugestões para uma formulação do Plano Nacional de Educação em vigor, afirmando a relação entre educação e desenvolvimento econômico. Estas orientações eram elaboradas a partir das determinações do “Plano Decenal de Educação da Aliança para o Progresso”. (LIRA, 2010, 69) As transformações educacionais, principalmente no ensino superior, se deram durante todo o período ditatorial e têm influxos na nossa contemporaneidade, demostrando a fragilidade do rompimento com o governo militar e do processo de reabertura democrática do país. 4- ROMPIMENTO E/OU CONTINUIDADE? UMA ANÁLISE SOBRE A EDUCAÇÃO BRASILEIRA PÓS-ESTADO DITATORIAL O período ditatorial que assolou a América Latina constituiu-se como divisor de águas na compreensão histórica, política e social da sociedade latino-americana. No Brasil não foi diferente, não há como explicarmos as nuanças advindas da contradição capitalista, sem contextualizarmos um dos períodos mais sangrentos vivenciados pelo povo brasileiro. Até hoje vivemos sobre os escombros, colhendo a herança deixada pelo regime militar. Evidentemente, o sistema ditatorial, fruto da dinâmica capitalista, não se colocou no decurso da história como um movimento com início, meio e fim, ao contrário, sempre que necessário o capitalismo recupera os seus traços mais sórdidos, reatualiza e efetua de modo quase imperceptível. Prova disso é o projeto de Lei n.º 867/2015, intitulado “escola sem partido”, criado pelo Deputado Izalci (PSDB/DF), que vem ganhando visibilidade em todo país. A proposta é bem simples e clara: instituir a neutralidade política e ideológica dentro dos campos de ensino. Trata-se de um projeto extremamente conservador, com fortes traços do período “autocrático burguês” e de legitimação do projeto burguês. Delimita a ação política dos profissionais da educação, fortalece a ação abertamente do campo da direita, que “afirma” prezar por uma neutralidade que, na verdade, já apresenta para que veio e a quem serve. Pois bem, esse é apenas um dos exemplos que poderíamos citar para demostrar os traços do período ditatorial na educação brasileira que perduram até os dias de hoje, e que vem ganhando espaço em detrimento das discussões sobre a educação a partir dos direitos humanos, na direção emancipatória de superação da ordem vigente. Assim, após a derrocada da ditadura militar no Brasil e a ascensão do processo de reabertura democrática, o país vivenciou um contexto bastante adverso e contraditório, revelando a face crua da contradição capitalista. A crise estrutural do capital em curso desde os anos de 1970, chega no Brasil de modo contundente nos anos de 1990, em meio a recente Constituição de 1988 e ao processo de reabertura democrática.
- 235. 234Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer Os ônus deste processo de crise, que se estende até a contemporaneidade, mediado pela reestruturação do modelo lucrativo do capital, materializado pelo projeto neoliberal e pelo pensamento pós-moderno, pode ser sentido em todas as esferas da nossa sociedade e na educação vem tendo seus rebatimentos. Assim, nos termos de Berhing (2003), o que temos no Brasil a partir desse período “é um processo de contrarreforma do Estado que significou uma reestruturação do significado das funções públicas estatais”. Nesses termos, o Estado passa a adotar uma perspectiva de racionalização do gasto público, deixando de ser o responsável direto pelo desenvolvimento econômico e social para se tornar seu promotor e regulador, transferindo para a esfera privada as atividades que antes eram suas. Evidencia-se a desregulamentação e redução dos direitos sociais e trabalhistas, o desmonte da Seguridade Social, a precarização do trabalho marcado pelo aumento da informalidade por consequência do desemprego estrutural, o sucateamento da saúde e da educação. Neste contexto, a educação é utilizada para atender as demandas do mercado, e a mesma deixa de ser direito e passa a se tornar “serviço”. Para isso, a base ideológica que sustenta e justifica tal processo é a “ideologia da globalização”, que é disseminada pelos organismos internacionais e é pautada na necessidade de os países periféricos integrarem-se à “aldeia global” (PERREIRA, 2008). Isso resulta em uma reconfiguração do papel do Estado na tentativa de adequar a mão-de-obra às exigências do capital em criar melhores condições para gerar maior rentabilidade e viabilizar condições para superar a crise capitalista (PINTO, 2007). Nessa conjuntura, a educação fica a mercê das orientações dos organismos internacionais que defende a ideia de privilegiar um maior acesso ao ensino superior através de programas como o Reuni, Prouni e Fies e da expansão do Ead, que fragmenta, desqualifica e aligeira a formação. O que passa a ocorrer então, por parte dos governos, é a defesa de que a educação enquanto mercadoria deve ser “universalizada” via mercado, mas esse pensamento colide diretamente com a concepção de educação pública de qualidade (SILVA, 2010). Nesse sentido, percebe-se os contornos das políticas sociais públicas ligadas aos interesses do grande capital, como também se verifica a diversificação das fontes de financiamento da educação e uma formação que cada vez mais atenda ao tecnicismo formal do trabalho. No entanto, tais ideias e recomendações aparecem travestidas no discurso da “democratização” do ensino, e na concepção ideológica do conceito de inclusão que se realiza desconectado das relações de classe e serve apenas ao reforço da reprodução das relações sociais típicas do capitalismo. Concordamos com Silva (2010, p.144) ao referendar que: “a educação no atual estágio do capitalismo: transforma-se em uma poderosa estratégia do capital para reforçar sua dominação e contribuir com a construção de uma aceitação coletiva sobre o culto ao mercado, bem como aprofundar uma integração periférica e dependente da lógica do capital monopolista”. O resultado desse processo é o aprofundamento do pensamento pós-moderno na universidade que, segundo FRIGOTTO, 1999 apud SILVA 2010, p.416 se configura em uma crise da razão que
- 236. 235Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer compreende a realidade de forma fragmentada e esvaziada de sua dimensão classista. Tendo como consequências “uma universidade rebaixada intelectualmente e culturalmente que atende de maneira muito eficiente aos interesses de expansão do mercado, mas não consegue contribuir de forma significativa com a emancipação humana por meio da educação e da produção de conhecimento”(SILVA, 2010, p.416). Cabe-nos ainda destacar que o processo de privatização do ensino superior, como mencionado ainda na década de 90, é aprofundado pelo governo de Lula da Silva, sobretudo no desmonte do modelo de universidade pública pautado no tripé ensino-pesquisa-extensão visto de forma indissociável. Ademais, há um aprofundamento das parcerias público-privadas por meio de recursos fiscais injetados na esfera privada, representando conforme Silva (2010) a privatização do ensino público, colocando no mesmo patamar as universidades públicas e as instituições privadas, fortalecendo a ideia de uma esfera pública não estatal e contribuindo para o aprofundamento do ideário neoliberal no Brasil. É relevante destacar no contexto das “reformas” universitárias, com relação às universidades públicas, um projeto apresentado pelo governo, intitulado: REUNI. De acordo com (ANDES-SN, 2007, p. 21 apud, SILVA, 2010, p. 417): [...] o programa tem o objetivo de criar condições para a ampliação e permanência na educação superior, no nível de graduação, utilizando-se do ‘melhor’ aproveitamento da estrutura física e dos recursos humanos atualmente existentes nestas instituições. O Programa de Apoio à Reestruturação e Expansão das Universidades Federais – REUNI, foi instituído pelo Decreto Presidencial nº 6069/07, cujo artigo primeiro expõe seu objetivo principal, que é “criar condições para a ampliação do acesso e permanência na educação superior, no nível de graduação, pelo melhor aproveitamento da estrutura física e dos recursos humanos existentes nas universidades federais”. Embora nos termos legais se apresente como uma proposta “inovadora”, na realidade o que vem ocorrendo é a inviolabilidade do tripé ensino-pesquisa-extensão. Pois, essa proposta de expansão do ensino público vem ocorrendo em condições precárias de infraestrutura, condições de trabalho inadequadas, quadros de docentes e técnico-administrativos insuficientes, ausência de políticas de assistência estudantil e planos de qualificação docente, como sinaliza Silva (2010), ocasionando um aligeiramento da formação, como também se acentua a precarização do trabalho docente. O decreto que criou o Grupo de Trabalho Interministerial (GTI), no primeiro ano de mandato do governo de Lula da Silva, em 2003, permitiu as primeiras ações sobre a educação superior. Esses grupos pautavam desde debates até o apontamento de diretrizes que norteariam a reforma universitária, fornecendo bases para a formulação de documentos que explicitavam a situação da educação superior acerca da crise nas universidades federais, desde o arrocho orçamentário até a defasagem
- 237. 236Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer na reposição do quadro docente; logo, o documento apontava para o enfrentamento da crise emergencial dessas universidades. Ao analisar os resultados obtidos, os membros do GTI concluíram que a crise verificada na política de acesso à educação superior foi, na verdade, o desdobramento de uma crise mais profunda associada à desarticulação do setor público, na qual as consequências da crise fiscal do Estado resultaram em substanciais danos às universidades governamentais, sobretudo, em relação aos recursos humanos, de manutenção e de investimentos (BRASIL, 2003). O REUNI tem como um de seus objetivos dobrar o número de estudantes de graduação nas universidades federais, o “Ministério da Educação, [...] estabelece o provimento da oferta de educação superior para, pelo menos, 30% dos jovens na faixa etária de 18 a 24 anos, até o final da década”, elevando gradualmente a taxa de conclusão média dos cursos de graduação para 90% (BRASIL, 2003, p.4) Outros itens que devem ser ressaltados tratam-se da flexibilização dos currículos, a reorganização dos cursos de graduação e a atualização de metodologias de ensino-aprendizagem. Essas metas visam formar profissionais aptos a enfrentar os desafios do mundo do trabalho através de uma formação sólida e crítica, de forma a contribuir para o desvendamento da realidade social que é permeada por inúmeras contradições. O REUNI não preconiza a adoção de um modelo único para a graduação das universidades federais, tendo em vista a necessidade de se respeitar a autonomia universitária, como também as diversidades que cercam as instituições. No entanto, conforme afirma Santos (2009), apesar de o REUNI não ter a característica totalmente centralizada no processo de efetivação, já que abre precedentes aos implementadores de participar na forma como ele será implementado em sua instituição, pode-se notar grande peso do poder governamental na globalidade dos processos decisórios. A fim de que as metas do REUNI sejam efetivadas, é necessário que as instituições que irão aderir ao programa elaborem um Plano de Reestruturação, de modo a considerar as especificidades de cada universidade federal. Porém, mesmo que as universidades, através de seus órgãos deliberativos, formulem um Plano de Reestruturação condizente às determinações do REUNI, “elas ainda terão que esperar o aval da Secretaria de Educação Superior (SESU), para que se inicie o repasse de verbas que possibilitará início das atividades programadas” (SANTOS, 2009, p38). De acordo com (SUBIRATS 2006 apud SANTOS, 2009, p.38), não basta apenas elaborar um bom desenho no plano de ações, ou mesmo dispor dos recursos necessários para levar a cabo a condução de uma determinada política pública ou projeto. É fundamental garantir a predisposição dos implementadores, para que se chegue o mais próximo possível das metas projetadas. É importante destacar que têm ocorrido reivindicações por parte da população acadêmica, principalmente por parte do corpo discente, no que se refere a “democracia” deste programa, pois alegam que a burocracia interna dos fóruns
- 238. 237Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer deliberativos das universidades cria um alto grau de corporativismo, impossibilitando uma efetiva participação da comunidade. Além disso, é preciso questionar até que ponto essa educação superior estar possibilitando o combate as desigualdades, já que uma ampliação de vagas de maneira pontual, com a ausência das devidas mediações que perpassam as relações sociais, podem acarretar um mero acesso ao ensino superior, resultando em níveis duvidosos de qualidade. Portanto, o reconhecimento do acesso à educação superior enquanto direito social deve ser debatido acerca de sua importância, não podendo ser analisado de modo isolado, deslocado do contexto da sociedade. 5- CONCLUSÕES Nossas considerações perpassam as discussões sobre a educação superior no marco do período ditatorial e seus ranços contemporâneos na educação. Desta forma, pode-se concluir que em um contexto marcado pela redefinição do Estado, onde a responsabilidade pela educação superior é transferida para o mercado, o tripé ensino-pesquisa-extensão é resumido apenas ao ensino. A educação pública fica a mercê dos ditames dos organismos internacionais, cuja proposta é expandir a educação via mercado financeiro/ ensino privado e sucatear as universidades públicas. Pode-se apontar que os programas de incentivo ao ensino, como o REUNI E PROUNI, têm sido defendidos desde os governos petistas até a atualidade, transvestido de um discurso de melhorias das universidades, porém, congela-se a verba por 5 anos; não garante o recebimento desta verba; estimula a superlotação de salas e sobrecarga de professores através do cumprimento de suas metas; privilegia a quantidade de formandos ao invés de qualidade de ensino e tem uma proposta em consonâncias com a bases conservadoras que sustentaram a política de educação no período ditatorial. Diante dessa conjunta, observa-se que a arrecadação que será perdida por conta da isenção acordada com o governo e as IES privadas, poderia ser investida no ensino público, que nos últimos anos vem enfrentando uma “crise de sustentabilidade” pelo pouco financiamento, o que resulta na insuficiência de recursos para investir na manutenção das instituições, nos profissionais como um todo e na própria assistência ao estudante carente, visto que não basta inseri-lo no ensino superior, é necessário proporcionar condições objetivas para a sua permanência e conclusão dos estudos. Diante disso, concluímos que essas propostas de expansão de ensino tratam- se de uma ação do governo que recupera o conservadorismo, encabeçado pelo Estado durante a autocracia burguesa, tendo como alicerce uma educação funcionalista que não permite o avanço da criticidade. Como diria o Gramsci, uma “decadência ideológica” que adentra nos espaços de construção da consciência aprofundando o processo de alienação, cujo objetivo é manter o “consenso” sobre
- 239. 238Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer as medidas propostas pelo sistema capitalista- representado pelo FMI, OMC e UNESCO. REFERÊNCIAS ANTUNES, R. Os sentidos do trabalho. São Paulo: Boitempo, 2007. BEHRING, Elaine. Brasil em contra-reforma: desestruturação do Estado e perda de direitos. São Paulo, Cortez, 2003. CISLAGHI, J. F. A formação profissional dos assistentes sociais em tempos de contrarreformas do ensino superior: o impacto das mais recentes propostas do governo Lula. Revista Serviço Social e Sociedade, São Paulo: Cortez, 2011, n. 106, abr./jun., p. 241-266. CHAUÍ, M. Convite à Filosofia. São Paulo: Ática, 2003. FERREIRA JR, A; BITTAR, M. Educação e ideologia tecnocrática na Ditadura Militar. In: Cad. Cedes. Campinas, Vol. 28, n. 76, p.333-355, set. /dez. 2008. GUARANY, A. Trabalho docente, carreira doente: elementos que impactam a saúde mental dos docentes da Universidade Federal do Rio de Janeiro – Estudo de caso, Rio de Janeiro: UFRJ, ESS, 2014. LIMA, K, R, S. O Banco Mundial e a educação superior brasileira na primeira década do novo século. In: Katálise, Florianópolis, v. 14, n. 1, p. 86-94, jan. /jun. 2011. Lira, A. A legislação da educação no Brasil durante a ditadura militar (1964-1985): um espaço de disputas. Tese (Doutorado) – Universidade Federal Fluminense, Instituto de Ciências Humanas e Filosofia, Departamento de História, 2010. MARQUES, Eugenia P. de Siqueira. Programa Universidade para Todos – PROUNI: Democratização da educação superior. Disponível em: http://www.histedbr.fae.unicamp.br/acer_histedbr/jornada/jornada7/_GT2%20PD F/PROGRAMA%20UNIVERSIDADE%20PARA%20TODOS%20%96PROUNI%20DEMOC RATIZA%C7%C3O%20DA.pdf. Acesso em:07/07/2016 as 14:30h. MARX, Karl. Capítulo VI – Inédito de O Capital. São Paulo: Centauro, 2004. MÉSZÁROS, I. Para Além do Capital. 1ª ed. Revista. São Paulo: Boitempo, 2011.
- 240. 239Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer PEREIRA, L. Dahmer. Educação Superior e Serviço Social: o aprofundamento mercantil da formação profissional a partir de 2003. Revista Serviço Social e Sociedade, São Paulo: Cortez,2008, n.96. PINTO, M. B. A contra-reforma do ensino superior e a desprofissionalização da graduação em Serviço Social. Revista Agora: Políticas Públicas e Serviço Social, ano 3, n. 6, p. 1-19, abril, 2007. Disponível em: <www.assistentesocial.com.br>. Acesso em: 18 jun. 2016. Portal Brasil – Prouni. Disponível em: <http://siteprouni.mec.gov.br/index.php> Acesso em: 07/07/2016 as 14:17 hrs.Portal do MEC- Disponível em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&id=16478&Itemid=1107 SILVA, R, S. A formação profissional crítica em Serviço Social inserida na ordem do capital monopolista. In: Serv. Soc. Soc., São Paulo, n. 103, p. 405-432, jul./set. 2010. SIMIONATTO, I. Crise, reforma do Estado e políticas públicas, 1999. Disponível em http://www.acessa.com/gramsci/?page=visualizar&id=106 . Acesso em: 24/07/2017 TRIVIÑOS, A. N. S. Introdução à Pesquisa em Ciências Sociais: a pesquisa qualitativa em educação. São Paulo: Atlas, 1987, p. 116-166. ABSTRACT: The present article is the result of a qualitative documentary and bibliographical research about the conservative inheritance of the autocratic period in the education in a context of counterreformation of the State. The structural capital crisis that has been going on since the 1970s comes to Brazil in the 1990s, amid the recent 1988 Constitution and the process of democratic reopening. In this way, the central objective is to discuss the role of education for corporate democratization, with the purpose of analyzing the burden of the process of "bourgeois autocracy" experienced by Brazil during the years 1964-1985 and its conservative heritage in contemporary times. In the first moment, the crisis of capital will be discussed in the dictatorial context of Educational Reform, in order to understand the contemporary educational process; The debate then involves an analysis of the inflections of this time lag for the democratization of education and the current context that recovers the dictatorial rancidity through higher education incentive programs such as REUNI and PROUNI. Our conclusions point out that in a context marked by the redefinition of the State, in which responsibility for higher education is transferred to the market, the teaching-research-extension tripod is summarized only in education, public education is at the mercy of the dictates of multilateral organizations , whose proposal is to expand education via financial / private education and to scrap public universities. Thus, for this analysis, we present as a theoretical framework the method of historical-dialectical materialism, to understand reality and unveil the object.
- 241. 240Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer KEYWORDS: education; state counterreformation; university reform; military dictatorship;
- 242. 241Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer Sobre os autores: Alexandre da Silva de Paula Psicólogo do Instituto Federal de São Paulo (IFSP) - Câmpus Votuporanga e Professor do Centro Universitário de Votuporanga (UNIFEV). Bacharel/Licenciatura em Psicologia pela Universidade Estadual de Londrina (UEL), Mestre e Doutor em Psicologia pela Universidade de São Paulo (FFCLRP). Pesquisador do Observatório de Violência e Práticas Exemplares/OVIPE/USP/CNPq. E-mail: aledpaula@outlook.com Andressa Garcias Pinheiro Graduada em Pedagogia, pela Universidade Federal do Maranhão – UFMA. Participante do Grupo de Estudos, Pesquisas, Educação, Infância & Docência – GEPEID. Bolsista do Projeto de Pesquisa Conexões Atlânticas: memórias e processos identitários na literatura infanto-juvenil de Cuba e do Brasil (preâmbulo e começo do Novo Milênio) pelo PIBIC/ FAPEMA. E-mail para contato: dessaduartepinheiro@hotmail.com Angely Dias da Cunha Mestranda do Programa da Pós-Graduação em Serviço Social pela Universidade Federal da Paraíba – Graduada em Serviço Social pela Universidade Estadual da Paraíba – Membro do Grupo de pesquisa em Questão Social, Política Social e Serviço Social na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e do Grupo de Estudos e Pesquisa sobre o Conservadorismo (GEPECON) na Universidade Federal da Paraíba (UFPB) – Bolsista Produtividade em Pesquisa pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) – E-mail: gelly.cunha@hotmail.com Bernadete de Lourdes Figueiredo de Almeida Professora da Universidade Federal da Paraíba Membro do corpo docente do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social pela Universidade Federal da Paraíba – Graduação em Serviço Social pela Universidade Federal da Paraíba; Mestrado em Serviço pela Universidade Federal da Paraíba; Doutorado em Serviço Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP); Pós Doutorado em Serviço Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP); Coordenadora do Setor de Estudos e Pesquisas em Análises de Conjuntura, Políticas Sociais e Serviço Social (SEPACOPS) da UFPB Professora Bolsista de Produtividade em Pesquisa pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Carlos André Sousa Dublante Graduação em Pedagogia pela Universidade Federal do Maranhão. Mestrado em Educação pela Universidade Federal do Maranhão. Doutorado em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Integra o Grupo de Pesquisa em Políticas, Gestão Educacional e Formação Humana do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Maranhão. E- mail para contato: cdublante@terra.com.br Celyane Souza dos Santos Graduação em Serviço Social pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB); e-mail: celyanesouza1@hotmail.com
- 243. 242Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer Cybelle Leão Ferreira Técnico Administrativo em Educação da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Graduação em Gestão de Recursos Humanos pela Universidade Estácio de Sá (UNESA). Graduação em andamento em Ciências Contábeis pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Especialização latu sensu em andamento em Gestão Contábil e Financeira pela Escola Superior Aberta (ESAB). Dayvison Bandeira de Moura Professor nas universidades Americana, Columbia e IBERO Americana, Asunción – PY. Membro do corpo docente do Programa de Pós- Graduação em Ciências da Educação Estrito-Sensu Universidade Columbia – Asunción - PY; Graduação em Letras Vernáculo pela Universidade Federal de Pernambuco - FAFIRE; Mestrado em Ciências da Educação pela Universidade Americana de Asunción, PY; Doutorado em Ciências da Educação pela Universidade Americana de Asunción, PY; Grupo de pesquisa: Linha de Currículo no que diz respeito à Língua Portuguesa, Análise do Discurso, Linguística Sistêmico Funcional, Leitura e Afrocentricidade. E-mail para contato: analistadodiscurso.bandeira.pe@gmail.com Débora de Oliveira Lopes do Rego Luna Mestre em Políticas Públicas, Gestão e Avaliação da Educação Superior (MPPGAV) pela UFPB. Integrante do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Gestão e Financiamento da Educação (GREFIN), da UFPB. Possui graduação em Direito pelo Centro Universitário de João Pessoa (UNIPÊ). Atualmente é servidora pública federal, atuando como Assistente em Administração na UFPB, lotada na Pró-Reitoria de Administração Denise Rangel Miranda Professora e Coordenadora da Rede Municipal de Juiz de Fora; Membro do corpo docente colaborador do Programa de Pós-Graduação em Gestão e Avaliação da Educação (PPGP/CAED/FACEDUFRJF); Graduação em Pedagogia pela Universidade Federal de Juiz de Fora; Mestrado em Educação pela Universidade Católica de Petrópolis; Doutorado em Educação pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro; Grupo de pesquisa: GESE (Grupo de Estudos sobre sistemas educacionais); Eder Aparecido de Carvalho Professor EBTT na Área de Sociologia do Instituto Federal Catarinense (IFC) – Câmpus Brusque. Bacharel em Serviço Social pelo Centro Universitário de Votuporanga (UNIFEV), Licenciatura em Sociologia pelo Instituto Dottori (FACDOTT), Mestre em Ciências Sociais pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e Doutorando em Ciências Sociais pela Universidade Estadual Paulista (FCL - Câmpus de Araraquara). Pesquisador do Grupo de Pesquisa Ciências e Desenvolvimento Social/CDS/IFC/CNPq. E-mail: carvalhoeder@hotmail.com Edilza Laray de Jesus Professor Adjunto da Universidade do Estado do Amazonas; Membro do corpo docente do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências Humanas (UEA)/ Colaboradora do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciências Ambientais e Sustentabilidade na Amazônia – PPGCASA. Graduação em Geografia – Universidade Federal do Amazonas – UFAM; Mestrado
- 244. 243Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer em Educação Ambiental (FURG, RS). Doutorado em Educação (UFRGS, RS). Grupo de pesquisa: Núcleo de Estudos Interdisciplinares em Cultura Amazônica - NEICAM". Bolsista Produtividade em Pesquisa pela Universidade do Estado do Amazonas; E- mail para contato: ejesus@uea.edu.br Elita Betânia de Andrade Martins Professor da Universidade Federal de Juiz de Fora; Graduação em Pedagogia pela Universidade Federal de Juiz de Fora; Mestrado em Educação - Políticas Públicas e Gestão pela Universidade Federal de Juiz de Fora; Doutorado em Educação - Políticas Públicas e Gestão pela Universidade Federal de Juiz de Fora; Grupo de pesquisa: Coordenadora do grupo de pesquisa GESE (Grupo de Estudos sobre sistemas educacionais); Bolsista Produtividade em Pesquisa pela Fundação: Pesquisa em andamento financiada pela FAPEMIG; Erivânia da Silva Marinho Discente colaboradora do Projeto de Extensão: “O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (PBF) E SUAS CONDICIONALIDADES NA EDUCAÇÃO: o acompanhamento e monitoramento dos (as) alunos (as) em descumprimento na Escola Municipal Nazinha Barbosa da Franca”, do curso de graduação em Serviço Social da Universidade Federal da Paraíba (UFPB); e-mail: erivaniamarinho@hotmail.com. Fernanda Borges de Andrade Graduação em pela Faculdade Dom Bosco de Filosofia, Ciências e Letras de São João Del Rey, MG, Brasil. Mestrado em Educação pela Universidade de Uberaba na linha de Pesquisa de Formação e Prática Docentes. Doutoranda pela Universidade Federal de Uberlândia, Programa de Pós-graduação em Educação / Faculdade de Educação - FACED, na linha de pesquisa Saberes e Práticas Educativas. Grupo de Estudos e Pesquisas do Programa Institucional de bolsas de iniciação à docência do Pibid/UFTM - Projeto de extensão em interface com a pesquisa. E-mail para contato: feborgesaz@yahoo.com.br Francinalda Maria da Silva Graduanda em Licenciatura Plena em Geografia na Universidade Estadual da Paraíba – Centro de Humanidades. Guarabira, Paraíba. Bolsista pelo Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC/CNPq), ofertado pela Universidade Estadual da Paraíba. Membro do Grupo de Ensino, Pesquisa e Extensão EGEFProf – Estudos Geográficos: Ensino e Formação de Professores; E-mail para contato: francinaldageografia@gmail.com Gilson Nazareno da Conceição Dias Professor efetivo da Secretaria de estado de Educação do Amazonas; Graduação em Geografia – Universidade Estadual Vale do Acaraú, UVA-CE; Especialização em METODOLOGIA NO ENSINO DE GEOGRAFIA. E- mail para contato: gilsondias87@gmail.com Gyselle Leão Ferreira Assistente Administrativo em Educação do Governo do Estado de Pernambuco. Graduação em andamento em Licenciatura em Matemática pelo Instituto Federal de Educação e Tecnologia de Pernambuco (IFPE).
- 245. 244Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer Herivelton Nunes Paiva Graduado em Estatística pela Universidade Salgado de Oliveira (1990), graduação em Matemática pela Universidade Salgado de Oliveira (2001) e mestrado em Ensino de Ciências da Saúde e do Ambiente pelo Centro Universitário Plínio Leite (2006). Atualmente é professor do Colégio Estadual Pandiá Calógeras, professor titular da Universidade Salgado de Oliveira, Professor do Programa de Pós-graduação Lato sensu da UNIVERSO/SG, pesquisador- bolsista da Fundação para o Desenvolvimento Cient. Tec. em Saúde/ Fundação Oswaldo Cruz e professor orientador da Universidade Federal Fluminense. Tem experiência na área de Matemática, com ênfase em Matemática, atuando principalmente nos seguintes temas: educação, matemática, educação matemática, marketing e estatística. Consultor em Estatística e Educação. Ingridy Lammonikelly da Silva Lima Mestranda Programa da Pós-Graduação em Serviço Social pela Universidade Federal da Paraíba– Graduada em Serviço Social pela Universidade Federal da Paraíba – Membro do Grupo de pesquisa no Setor de Estudos e Pesquisas em Análises de Conjuntura, Políticas Sociais e Serviço Social (SEPACOPS) da UFPB – Bolsista Produtividade em Pesquisa pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Ítalo Martins de Oliveira Mestre em Políticas Públicas, Gestão e Avaliação da Educação Superior (MPPGAV) pela UFPB, Especialização em Direito Administrativo e Gestão Pública (UFPB-2006) e em Controladoria para Gestão Pública e Terceiro Setor (UFRN-2011), bacharelado em Ciências Contábeis (UFPB-2004). Integrante do Grupo de Pesquisa em Avaliação da Educação Superior (GAES), da UFPB. Atualmente é servidor público federal, atuando como Contador na UFPB, lotado na Pró-Reitoria de Administração. Ivair Fernandes Amorim Professor EBTT na Área de Educação/Pedagogia do Instituto Federal de São Paulo (IFSP) - Câmpus Votuporanga. Licenciatura em Pedagogia pelo Centro Universitário de Votuporanga (UNIFEV), Mestre e Doutor em Educação Escolar pela Universidade Estadual Paulista (FCL - Câmpus de Araraquara). E-mail: ivairfernandesamorim@gmail.com Jéfitha Kaliny dos Santos Mestranda do Programa da Pós-Graduação em Serviço Social pela Universidade Estadual da Paraíba – Graduada em Serviço Social pela Universidade Estadual da Paraíba Joel Severino da Silva Graduação em Pedagogia pela Universidade Federal de Pernambuco – UFPE; Grupo de Pesquisa: É Membro do Grupo de Estudo em Religiosidades, Educação, Memórias e Sexualidades (UFPE) cadastrado no CNPq. Bolsista do PIBIC/UFPE/CNPq em: 2014-2015, 2016-2017 na área de religião e diversidade religiosa, com ênfase nas discussões envolvendo as religiões de matriz africana; 2017-2018 na área de gênero e sexualidade. E-mail para contato: joelsilva.educar@gmail.com
- 246. 245Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer Jonas da Conceição Ricardo Professor da Universidade Estácio de Sá e da Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro; Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Ciências Tecnologia e Educação do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca- CEFET/RJ; Mestre em Educação Matemática e Licenciado em Matemática. Possui curso de extensão em Gestão de Sala de Aula pelo Instituto de Educação da Universidade de Lisboa. Possuí experiência na modalidade em Ensino à Distância e também na elaboração de material didático, tanto pela Secretaria Estadual de Educação/RJ quanto pelas instituições: Universidade Estácio de Sá e da Universidade Universo. Atualmente também atua com pesquisa na Universidade Estácio de Sá, sendo bolsista do Programa Pesquisa Produtividade da Universidade Estácio de Sá Joselaine Cordeiro Pereira Professora e Coordenadora da Rede Municipal de Juiz de Fora; Graduação em Pedagogia pela Universidade Federal de Juiz de Fora; Mestrado em Economia doméstica pela Universidade Federal de Viçosa; Doutoranda em Educação pela Universidade Federal de Juiz de Fora; Grupo de pesquisa: GESE (Grupo de Estudos sobre sistemas educacionais); joselainecp@hotmail.com Josemar Farias da Silva Licenciado em Ciências pela Universidade de Pernambuco. Mestre em Psicologia pela Universidade Federal de Rondônia – UNIR. Doutorando em Educação pela Universidade Federal do Amazonas. Atualmente Professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas – IFAM. Laís Venâncio de Melo Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Educação - Mestrado Acadêmico (PPGEd) da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), PB. Licenciada em Pedagogia pela Universidade Federal de Campina Grande (UFCG). Professora do Ensino Fundamental no município de Campina Grande, PB. E-mail: laisvenanciomelo@gmail.com Laudicea Farias da Silva Licenciada em Ciências pela Universidade de Pernambuco – UPE. Pós-Graduação em Psicopedagogia pela mesma Universidade. Atualmente atua na Gestão no âmbito da Secretaria de Estado de Educação de Pernambuco. Luiz Arthur Pereira Saraiva Licenciado em Geografia pela Universidade Estadual da Paraíba (CEDUC/UEPB). Mestre em Geografia pela Universidade Federal de Pernambuco (PPGEO/UFPE). Doutor em Geografia pela Universidade Federal de Pernambuco (PPGEO/UFPE). Vice-Líder do Grupo de Ensino, Pesquisa e Extensão EGEFProf – Estudos Geográficos: Ensino e Formação de Professores. Professor do Curso de Licenciatura Plena em Geografia da Universidade Estadual da Paraíba (DG/CH/UEPB). Professor Orientador de Bolsista pelo Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC/CNPq), ofertado pela Universidade Estadual da Paraíba. E-mail para contato: saraivaluizarthur@yahoo.com.br Maria Aparecida Monteiro da Silva Doutorado em Educação - Universidad de Santiago de Compostela em 1998 e Doutorado em Educação pela Universidad Politécnica y Artistíca do Paraguay em 2005. Atualmente é professor titular do Centro
- 247. 246Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer de Ensino Superior - CESUMAR - Maringá - PR. Membro da Fundação Araucária de Apoio ao Desenv. Científico e Tecnológico do Paraná. Na Universidade Paranaense - UNIPAR atuou como Diretoria de Centro, Chefe de Departamento, Coordenadora de Colegiado de Curso, Membro do Conselho Superior de Administração - CONSAD, e Membro do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CONEPE, Membro do Grupo Especial de Trabalho Setor de Atuação para Elaboração do Projeto de Reconhecimento das Faculdades Integradas da APEC como Universidade, Membro do Conselho Técnico Científico, Coordenadora Geral dos Vestibulares, Membro da Comissão de Acompanhamento do Crédito Educativo, Membro da Comissão Organizadora do XIX Ciclo de Estudos Jurídicos do Curso de Direito e Programa de Mestrado em Direito Processual e Cidadania da Unipar ? Perspectivas contemporâneas nas relações humanas e sociais, Membro da Comissão Organizadora da II Semana Científica do Curso de Direito da Unipar, Membro da Banca na Apresentação dos Trabalhos da II Semana Científica do Curso de Direito da Unipar, Consultor ad hoc deI Mostra de Extensão Universitária, Coordenadora e Consultora ad hoc de Mostra Científica do Curso de Direito, Membro da Banca Examinadora dos Trabalhos de Conclusão de Curso: Curso de Direito. Participou no Grupo de Estudo: Investigação e reflexão sobre as questões da Educação no Brasil pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPQ. Maria de Fátima Leite Gomes Prof.ª. Dra. do Departamento de Serviço Social da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), vice-líder do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Popular, Serviço Social e Movimentos Sociais – GEPEDUPSS e coordenadora do Projeto de Extensão, intitulado: “O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (PBF) E SUAS CONDICIONALIDADES NA EDUCAÇÃO: o acompanhamento e monitoramento dos (as) alunos (as) em descumprimento na Escola Municipal Nazinha Barbosa da Franca”. E-mail: fatima.l.gomes2016@gmail.com Maria Nazaré dos Santos Galdino Discente colaboradora do Projeto de Extensão: “O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (PBF) E SUAS CONDICIONALIDADES NA EDUCAÇÃO: o acompanhamento e monitoramento dos (as) alunos (as) em descumprimento na Escola Municipal Nazinha Barbosa da Franca”, do curso de graduação em Serviço Social da Universidade Federal da Paraíba (UFPB); e-mail: zaremorena12@gmail.com. Marta Rosa Farias de Almeida Miranda Silva Graduação em Ciências Contábeis pela Fundação Visconde de Cairu (FVC). Mestrado em Gestão e Tecnologias Aplicadas à Educação (GESTEC) pela Universidade do Estado da Bahia (Uneb). Doutoranda Educação e Contemporaneidade, Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade (PPGEduC), Universidade do Estado da Bahia (Uneb). Grupo de pesquisa: Educação, Universidade e Região (EduReg) - Uneb e Interculturalidades, Gestão da Educação e Trabalho (InterGesto) – Uneb. E-mail para contato: martarmiranda@gmail.com; mmiranda@uneb.br
- 248. 247Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer Neide Borges Pedrosa Graduação em Pedagogia pela Faculdade Educação Antonio A. Reis Neves, Barretos SP. Mestrado em Ciências e Práticas Educativas pela Universidade de Franca, UNIFRAN, Brasil. Doutorado em Educação (Currículo) pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC/SP, Brasil. Grupo de Pesquisa EDUCA. Linha de Pesquisa: Educação e Novas Tecnologias. E-mail para contato: neibpedrosa@gmail.com Raquel Costa da Silva Nascimento Licenciada em Matemática pela UERJ em 2002. Especialista em Ensino de Matemática pela Uff em 2004 e Mestre em Ensino de Ciências e Matemática pelo CEFET em 2011. Durante os anos de 2011 a 2013, atuei como Assistente Técnico responsável pela área de Matemática da Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro, onde exerci diversas funções, dentre elas: gerenciar projetos relacionados a matemática, produzir materiais de apoio pedagógico, acompanhar ações relacionadas a área tais como Saerjinho, Reforço Escolar e projetos de parceria privada e realizar formações de professores. Ressalto que todos os materiais produzidos durante estes 3 anos ainda se encontram disponíveis no site da SEEDUC - http://conexaoprofessor.rj.gov.br/, Professora da Prefeitura de Macaé, da SEEDUC/RJ e Professora da Universidade Universo. Reginaldo Vandré Menezes da Mota Licenciado em Matemática (UFF), Pós graduação UNIRAM , Mestrando (ProfMat-UNIRIO), professor com dedicação exclusiva do Instituto Nacional de Educação de Surdos – INES, foi autor do currículo mínimo de matemática do Estado do Rio de Janeiro e das Atividades Autorreguladas. Rogéria Moreira Rezende Isobe Graduação em Pedagogia pela Universidade Federal de Uberlândia. Mestrado em Educação (História, Política, Sociedade) pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC/SP, Brasil. Doutorado em Educação (História, Política, Sociedade) pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC/SP, Brasil. Grupo de Estudos e Pesquisas em Política, Formação Docente e Práticas Educativas - GEPPOPE. E-mail para contato: rogeriaisobe@gmail.com Selma Suely Baçal de Oliveira Mestre e Doutora em Educação pela Universidade de São Paulo – USP. Professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Amazonas – UFAM. Orientadora do Programa de Mestrado e Doutorado em Educação e atualmente Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação na mesma Universidade. Silvia Roberta da Mota Rocha Professora da Unidade Acadêmica de Educação (UAEd) da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), PB. Professora do Programa de Pós-Graduação em Educação - Mestrado Acadêmico (PPGEd) da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), PB. Doutora em Educação Brasileira pela Universidade Federal do Ceará (UFC). E-mail: silviarobertadamotarocha@gmail.com Suênia Aparecida da Silva Santos Discente colaboradora do Projeto de Extensão: “O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (PBF) E SUAS CONDICIONALIDADES NA EDUCAÇÃO: o acompanhamento e monitoramento dos (as) alunos (as) em descumprimento na Escola Municipal Nazinha Barbosa da Franca”, do curso de graduação em Serviço
- 249. 248Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer Social da Universidade Federal da Paraíba (UFPB); e-mail: sueniaaparecida@hotmail.com. Suzianne Lima de Moraes Graduação em Geografia pela Universidade do Estado do Amazonas. E-mail para contato: suzianne.moraes@hotmail.com Tyciana Vasconcelos Batalha Graduada em Pedagogia, pela Universidade Federal do Maranhão – UFMA. Participante do Grupo de Estudos e Pesquisas, Educação, Infância & Docência – GEPEID e Grupo de Estudos e Pesquisa no Ensino da Leitura e da Escrita como Processos Dialógicos – GLEPDIAL. Bolsista do Projeto de Extensão pela Fundação Sousândrade de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Federal do Maranhão – FSADU. E-mail para contato: alftyci@gmail.com Vicente de Paulo Morais Junior Diretor de Escola da rede pública do estado de São Paulo; Professor da Faculdade Bilac (São José dos Campos/SP); Graduação em História pela Universidade do Vale do Paraíba (São José dos Campos/SP); Mestre em Educação pela Universidade Metodista de São Paulo (UMESP/SP); Doutorando em Educação na Universidade Metodista de São Paulo (UMESP); Contato: vicentemjunior@hotmail.com Vilma Cleucia de Macedo Jurema Freire Professora de Geografia da Rede Pública de Ensino do Estado de Pernambuco, Brasil; Graduação em Geografia pela Universidade Pernambuco - UPE; Mestrado em Ciências da Educação pela Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologia – ULHT, Portugal/Diploma Revalidado pela Universidade Federal de Alagoas - UFAL; Doutorado: Cursando Ciências da Educação na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas (FCSH)/Universidade Nova de Lisboa (UNL)/Lisboa – Portugal; Grupo de pesquisa: Desigualdades sociais e acção pública – Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais - CICS – NOVA - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas (FCSH)/Universidade Nova de Lisboa (UNL)/Lisboa – Portugal. E- mail para contato: vilmapanelas@gmail.com Vilma Terezinha de Araújo Lima Professor Adjunto da Universidade do Estado do Amazonas; Membro do corpo docente do Mestrado Profissional em Gestão de Áreas Protegidas da Amazônia (MPGAP) – Instituto de Pesquisas da Amazônia. Graduação em Geografia pela Universidade do Estado do Ceará; Mestrado em Mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente pela Universidade do Estado do Ceará; Doutorado em Geografia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, UNESP; Grupo de pesquisa: Núcleo de Estudos Interdisciplinares em Cultura Amazônica - NEICAM". Bolsista Produtividade em Pesquisa pela Universidade do Estado do Amazonas; E-mail para contato: araujovilma@hotmail.com Viviana Maria dos Santos Cursando Magistério pela Escola Estadual Marcelino Champagnat. Graduação em andamento em Letras pela Universidade Estácio de Sá (UNESA).











![10Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer
a conceitos e conteúdos fundamentais à sua formação integral, a uma compreensão
crítica do mundo” (PIRES, 2017, p. 238), na qual este processo traz consigo soluções
que podem ser, na verdade, “ciladas” para a construção de uma sociedade mais
subjugada, onde o emprego tornou-se um “fim em si mesmo” para a autonomia do
indivíduo – no pensamento do modelo capitalista, sua soberania financeira. Sem
dúvidas, a oportunidade de exercício do emprego é necessária, mas deve ser
justamente ofertada na condição de esclarecimento e valorização, de escolhas
essenciais dentro de um entendimento amplo do conhecimento e não apenas de um
saber específico.
Sobre o termo de educação, Mészáros aborda que “trata-se de uma questão
de internalização pelos indivíduos, [...] da legitimidade da posição que lhes foi
atribuída na hierarquia social, juntamente com suas expectativas adequadas e as
formas de conduta certa” (MÉSZAROS 2008, p. 44). Logo, nesta perspectiva, os
objetivos da classe trabalhadora são limitados, pré-determinados, para que se
comportem com “o objetivo obviamente [de] manter o proletariado no seu lugar”
(MÉSZAROS, 2008, p. 49). O que se concretiza nas mudanças da Consolidação das
Leis do Trabalho (CLT), Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017 (BRASIL, 2017), que
legitimam a adesão de propostas que ofertam um “progresso”, permitindo inovações
no sistema, mas que também deixa em descrédito o próprio trabalhador, a exemplo
do trabalho intermitente e exclusão de direitos essenciais, como
Art. 58. § 2° O tempo despendido pelo empregado desde a sua residência
até a efetiva ocupação do posto de trabalho e para o seu retorno,
caminhando ou por qualquer meio de transporte, inclusive o fornecido pelo
empregador, não será computado na jornada de trabalho, por não ser
tempo à disposição do empregador.
Art. 59. A duração diária do trabalho poderá ser acrescida de horas extras,
em número não excedente de duas, por acordo individual, convenção
coletiva ou acordo coletivo de trabalho.
Um direito a menos é uma grade a mais na luta pela emancipação social.
Estas reformas, apesar do caráter “progressivo” atribuído pelo governo vigente,
impõem certa conservação das práticas alienantes, questionando a negligência e
particularidades de determinadas políticas públicas no capitalismo neoliberal, em
que “respondem simultaneamente às necessidades de valorização do capital e de
mediação política dos interesses antagônicos que perpassam a sociedade urbano-
industrial” (NEVES, 2005, p. 14). O Estado passa, diante do contexto, da garantia do
bem comum à população, para uma efetiva doutrina do postulado neoliberal, na qual
se torna um instrumento político suscitado por concepções da classe dominante,
sustentando o conjunto de suas relações, “mediante dispositivos jurídico-
administrativos, bem como por meio de processos propriamente ideológicos”
(SEVERINO, 1994, p. 167).
Desse modo, há reformas ou deformas na sociedade contemporânea? O
importante neste contexto não é definir o que é “certo” ou o que é “errado”, mas
explicitar os porquês destas abordagens na sociedade e com a sociedade – este é o
foco, pois “o capitalismo convive com a noção de reforma constantemente e é](https://image.slidesharecdn.com/e-book-pp-pensar-e-fazer-191003190258/85/Politicas-Publicas-na-Educacao-Brasileira-Pensar-e-Fazer-11-320.jpg)
![11Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer
através dos processos reformadores que se vai adequando às novas exigências
históricas” (OLIVEIRA, 2003, p. 20). Dessa maneira, permitir a disseminação do
conhecimento útil, do pensamento autêntico e a concepção da realidade negada é
uma ação conjunta a uma efetiva práxis na superação da modelagem petrificada das
ações governamentais aliadas ao capital, que marginalizam a educação real e
intimida o homem, preconizada no círculo concêntrico de uma formação sem
significado que conserva a classe dominante em sua ampla superioridade. Porém, o
início da mudança diante deste contraste social terá validade “somente quando os
oprimidos descobrem, nitidamente, o opressor e se engajam na luta organizada por
sua libertação, começam a crer em si mesmos, superando, assim, sua convivência
com o regime opressor” (FREIRE, 2005, p. 58-59). Assim, se propõe a esperança
efetiva na possibilidade de igualdade, em que os interesses individualistas e
opressores devem ser deixados de lado e a coletividade ser o ponto forte na tomada
de decisões, promovendo um modo de vida comum e justo. Isto só se torna efetivo
a partir de práticas emancipadoras, mediante uma educação crítica-reflexiva e
ampla.
4. A EDUCAÇÃO E O CONTEXTO NEOLIBERAL VIGENTE – ENTRE O PÚBLICO E O
PRIVADO
Por um país justo e igual clamamos por mais educação. Mas que educação é
esta? Para o que? Para quem? Historicamente, a educação passa pelo processo de
adaptação ao sistema/contexto que a engloba, apesar de reformas dirigidas à
expansão da educação em prol do desenvolvimento da cidadania, as propostas em
prol ao atendimento das necessidades capitalistas são mais “interessantes” e, por
isso, mais consentidas, pois, a educação serviria à ordem vigente capitalista,
“formando a força de trabalho necessária aos diferentes estágios de
desenvolvimento do capitalismo. Contudo ela não tem uma aplicação direta e
exterior aos interesses dos trabalhadores” (OLIVEIRA, 2003, p. 19).
Logo, esta “educação” desabilita o próprio homem, tornando-o puro objeto,
uma concepção, segundo Freire, bancária, pois, “insiste em manter ocultas certas
razões que explicam a maneira como estão sendo os homens no mundo e, para isto,
mistifica a [sua] realidade” (FREIRE, 2005, p. 83). Evidentemente, a educação deve
ser entendida em sua amplitude pois, apesar de universal, não está dirigida a todos,
nem na mesma abordagem: é diferente para um burguês e para um proletariado, já
que ambos não habitam o mesmo espaço de ensino dirigente a um futuro pré-
construído, que para o primeiro pode ser opcional, mas para o segundo é condição
de “oportunidade”, mérito.
Nos últimos anos, a relação contraditória entre o público e o privado vem
crescendo com a adesão de propostas neoliberais, que incrementam mais o discurso
indecoroso que persiste na ideia de que a educação pública não supre as
necessidades viáveis a uma boa qualidade de ensino e inovação de propostas
disciplinares. Isto segundo Gentilli; Silva, se daria porque](https://image.slidesharecdn.com/e-book-pp-pensar-e-fazer-191003190258/85/Politicas-Publicas-na-Educacao-Brasileira-Pensar-e-Fazer-12-320.jpg)
![12Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer
as escolas públicas não estão no estado em que estão simplesmente
porque gerenciam mal seus recursos ou porque seus métodos ou
currículos são inadequados. Elas não têm os recursos que deveriam ter
porque a população a que servem está colocada numa posição
subordinada em relação às relações dominantes de poder (GENTILLI;
SILVA, 2010, p. 20).
O que fica evidente é que a educação real, que vivenciamos, é uma ação de
modelagem do homem ao sistema, na qual “a educação passa a ser analisada com
critérios próprios do mercado e a escola é comparada a uma empresa” (TOMASSY;
WARDE; HADDAD, 2007, p. 140). A ausência de voz dos educadores e da própria
pedagogia na elaboração de propostas para a melhoria da qualidade da educação
são negligências caras à liberdade do homem e a sua condição de vida. Assim, o
discurso neoliberal acaba por validar pensamentos ao processo destas ações,
promovendo concepções sociais que o âmbito privado conduz chances maiores na
opção de trabalho, pois “as soluções neoliberais devem muito ao pensamento
econômico e muito pouco à economia política” (GENTILLI; SILVA, 2010, p. 24). Mas
a educação se volta ao trabalho ou ao homem como agente social? Esta condição é
hierárquica, pois é preciso validar primeiro o ser, enquanto sujeito para proporcionar
consequentemente o conhecimento que lhe dará o esclarecimento e a necessária
condição ao trabalho. O primeiro predomina o segundo, mas, de acordo com o inciso
I, do parágrafo 6 do artigo 36 da Reforma do Ensino Médio, tal concepção é adjunta:
§ 6° A critério dos sistemas de ensino, a oferta de formação com ênfase
técnica e profissional considerará:
I - a inclusão de vivências práticas de trabalho no setor produtivo ou em
ambientes de simulação, estabelecendo parcerias e fazendo uso, quando
aplicável, de instrumentos estabelecidos pela legislação sobre
aprendizagem profissional.
A argumentação das experiências de trabalho dentro do ensino pode culminar
a uma aceitação rápida e passiva de gerenciamento dos setores que lhe são
ofertados. Não que isto seja inconveniente, mas é condicionante a uma concepção
que tolera a adesão dos educandos do setor público a um trabalho voltado ao
técnico, que não lhe exige grandes esforços e habilidades cognitivas, intelectuais,
pois tal domínio do saber científico não lhe é solicitado, pois este poder é “a mais
importante força produtiva do modo de produção capitalista na atualidade, [na qual]
constitui instrumento fundamental de emancipação do trabalho da dominação do
capital” (NEVES, 2005, p. 22). Logo, determinadas lógicas comprometem as
finalidades objetivas do ensino, dependendo dos agentes sociais envolvidos.
Desse modo, a filtragem social estimula e propaga a continuação da classe
dominante, por participar de diversos graus de ensino no âmbito privado,
menosprezando o saber das suas vítimas, que estão presentes no ensino público,
em prol da sua própria segurança na hierarquia sociopolítico e econômica. E assim
se faz precisa uma ação dialógica dos homens com o mundo: permitir que se tornem](https://image.slidesharecdn.com/e-book-pp-pensar-e-fazer-191003190258/85/Politicas-Publicas-na-Educacao-Brasileira-Pensar-e-Fazer-13-320.jpg)



![16Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer
Inserir práticas críticas em uma abordagem que valoriza o educando, que
compreenda a cultura vigente para propor caminhos é preponderante a uma nova
abordagem de ensino, pois faz acreditar que os prepara para a vida, através da
práxis, não apenas impondo conceitos, mas demostrando determinadas dominações
impostas pelo sistema, que maquia o saber, o indagar, a verdade. Nas teorias que
embasam as reformas, segundo quem as propõe, as leis apresentam concepções
fascinantes, mas, na prática, dentro de um mundo de luta de classes, tal concepção
não é válida, existindo, ainda, um abismo profundo entre as propostas viáveis a
equidade social e educacional. Dessa forma, se faz necessário colocar os
educadores, os discentes, os oprimidos, como protagonistas e abarcar engrenagens
mais amplas para expandir os processos de ensino e do trabalho social. Os desafios
são muitos, as reformas estão a serem concretizadas, mas não impossíveis de ser
superadas: é preciso agir, conscientizar. Professores devem aguçar esse diálogo com
os alunos, com a sociedade para que juntos possam permitir com que tal
consolidação seja efetiva a todos, mediante uma “emancipação pela demolição da
estrutura vigente [...] e por intermédio de uma oferta formativa bastante diferenciada
e múltipla em todos os níveis, [...] possibilitando, desse modo, o desenvolvimento da
emancipação em cada indivíduo” (ADORNO, 1995, p. 170).
Assim a escola exerce um papel fundamental no preparo para a cidadania,
que visa também inserir o homem no mercado de trabalho, mas sua abordagem é
relevante no entendimento para compreender as mazelas e vielas das ideologias
impostas e preponderante para a execução do bem-estar educacional crítico,
mediante a resistência e manutenção de uma sociedade cada vez mais construtiva
e perseverante diante de imposições destrutivas e desiguais.
REFERÊNCIAS
ADORNO, Theodor Ludwig Wiesengrund. Educação e emancipação. 3. ed. Rio de
Janeiro: Paz e Terra, 1995.
BRASIL. Lei nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017. Altera as Leis nos 9.394, de 20
de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.
Diário Oficial [da] União, Brasília, 17 de fev. 2017. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
_ato2015-2018/2017/lei/L13415.htm>. Acesso em 07 out. 2017.
______. Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017. Altera a Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT). Diário Oficial [da] união, Brasília, 13 de jul. 2017. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13467.htm
Acesso em 07 out. 2017.
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa.
São Paulo: Paz e Terra, 1996.](https://image.slidesharecdn.com/e-book-pp-pensar-e-fazer-191003190258/85/Politicas-Publicas-na-Educacao-Brasileira-Pensar-e-Fazer-17-320.jpg)






![23Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer
risco social as quais as famílias possam estar submetidas e como enfrentá-las.
Conforme Ximenes et al. (2011, p. 12):
Pretende-se com as condicionalidades reforçar o acesso das famílias
beneficiárias às políticas de educação, saúde e assistência social,
promovendo melhoria das condições de vida, bem como levar o poder
público a assegurar a oferta desses serviços. O adequado
acompanhamento das condicionalidades possibilita a identificação de
situações de vulnerabilidade no contexto familiar que interfiram no acesso
aos serviços básicos a que as famílias têm direito, demandando ações do
poder público no atendimento a essas situações.
Segundo o MDS (2017), espera-se por meio das condicionalidades, além da
melhoria das condições de vida das famílias beneficiárias do PBF, a ruptura do ciclo
intergerencial da pobreza, uma vez que, ao terem acesso, por exemplo, a educação,
crianças e adolescentes poderão ter condições de se qualificarem e ingressarem no
mercado de trabalho, podendo assim, romper com o referido ciclo. Conforme o MDS
(2008), Portaria n° 321, que regulamenta a gestão das condicionalidades do
Programa Bolsa Família, assegura-se que:
[...] no contexto do Programa Bolsa Família, busca-se com as
condicionalidades reforçar o direito de acesso das famílias às políticas de
saúde educação e assistência social, promovendo a melhoria das
condições de vida da população beneficiária, assim como levar o Poder
Público a assegurar a oferta desses serviços. [...]que o adequado
monitoramento das condicionalidades permite a identificação de
vulnerabilidades sociais que afetam ou impedem o acesso das famílias
beneficiárias aos serviços a que têm direito, demandando ações do Poder
Público voltadas ao acompanhamento das famílias em situação de
descumprimento. (Portaria n° 321, 2008, p. 1).
De acordo com a referida Portaria, o MDS (2017), por meio destas exigências,
procura incentivar as famílias ao exercício e acesso a programas básicos e, por
consequência, garantir as mesmas, melhores condições de vida. Concomitante, cabe
também ao Poder Público local, além de garantir os serviços de educação, saúde e
assistência social, propiciar condições necessárias para que os usuários do PBF
tenham acesso aos serviços ofertados e sejam acompanhados, caso estejam em
situação descumprimento.
A gestão das condicionalidades do PBF ocorre através do monitoramento e
fiscalização das famílias, pelos entes federativos, de forma a averiguar se as famílias
usuárias estão cumprindo com seus compromissos. Assim, foram criadas em 2004,
a Portarias Interministerial n° 3.789, de 17 de novembro e a Portaria Interministerial
n° 2.509, de 18 de novembro, as quais dispõe, respectivamente, sobre as
atribuições e normas para o cumprimento das condicionalidades pertinentes à
educação e sobre as atribuições e normas para a oferta e monitoramento das demais
condicionalidades.](https://image.slidesharecdn.com/e-book-pp-pensar-e-fazer-191003190258/85/Politicas-Publicas-na-Educacao-Brasileira-Pensar-e-Fazer-24-320.jpg)





![29Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer
CRAVEIRO, Clélia Brandão Alvarenga; XIMENES, Daniel de Aquino. Dez anos do
Programa Bolsa Família: desafios e perspectivas para a universalização da educação
básica no Brasil. In: Programa Bolsa Família: uma década de inclusão e cidadania/
org: Tereza Campello, Marcelo Côrtes Neri. Brasília: Ipea, 2013, p. 109-123.
COTTA, Tereza Cristina; PAIVA, Luis Henrique. O Programa Bolsa Família e a Proteção
Social no Brasil. In: 2003-2010: Bolsa Família 2003-2010: avanços e desafios. V.1,
IPEA.
COUTINHO, Carlos Nelson. A Hegemonia da Pequena Política. In: OLIVEIRA, Francisco
de; BRAGA; Ruy; RIZEK; Cibeli (orgs). Hegemonia às Avessas. São Paulo: Boitemsepo,
2010.
DIAS, Edmundo Fernandes. Política brasileira: embate de projetos hegemônicos. São
Paulo: Instituto José Luís e Rosa Sundermann, 2006.
FONSECA, Ana M. M. Família e Política de Renda Mínima. São Paulo: Cortez, 2001.
v. 1.
GABRIEL, Edilma Moreira; MACHADO, Clarisse Drummond Martins; OLIVEIRA, Raquel
Loureiro. Focalização de Políticas Públicas: O Programa Bolsa Família como política
pública focalizada para superação da desigualdade e exclusão. [201-?]. Disponível
em: < >. Acesso em: 12 out. 2014.
GOMES, Simone da Silva Ribeiro. Notas preliminares de uma crítica feminista aos
programas de transferência direta de renda: o caso do Bolsa Família no Brasil. Textos
& Contextos (Porto Alegre), v. 10, n. 1, p. 69 - 81, jan./jul. 2011.
GOMES, Maria de Fátima Leite. O Programa Bolsa família (PBF) e suas
condicionalidades na educação: o acompanhamento e monitoramento dos(as)
alunos(as) em descumprimento na Escola Municipal Nazinha Barbosa da Franca –
João Pessoa, 2017.
GRAMSCI, Antônio. Cadernos do Cárcere. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006.
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponível em:
<http://www.ibge.gov.br/home/>. Acesso em: 08 setembro. 2017.
MDS. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Condicionalidade de
Educação. Disponível em:
<http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/condicionalidades/gestao-de
condicionalidades/condicionalidades-de-educacao%20>. Acesso em: 16 setembro.
2014](https://image.slidesharecdn.com/e-book-pp-pensar-e-fazer-191003190258/85/Politicas-Publicas-na-Educacao-Brasileira-Pensar-e-Fazer-30-320.jpg)













![43Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer
necessariamente pela introdução de insumos que em conjunto assegurariam
melhoria nos processos de aprendizagem.
Nesse contexto torna-se urgente e necessário promovermos discussões e
reflexões sobre as políticas públicas, e mais especificamente acerca do uso massivo
das tecnologias na educação para assim, refletir sobre suas potencialidades, numa
perspectiva crítica, que se constitui como aquela que
[...] partindo da visão de que a sociedade atual se estrutura sobre relações
de dominação de uma classe social sobre outra e de determinados grupos
sociais sobre outros, preconizam a necessidade de superação dessa
sociedade. [...] Todas as teorias críticas têm em comum a busca de
desfetichização das formas pelas quais a educação reproduz as relações
de dominação, pois entendem isso como fundamental para a própria luta
contra essas relações. (DUARTE, 2006, p. 94).
Assim é o que nos propomos no presente artigo, buscar referenciais teóricos
que nos permitam estabelecer um diálogo para assim se propor formas mais
conscientes e críticas de se atuar no contexto escolar com vistas a promover a
aprendizagem e a elevação cultural do indivíduo a partir da apropriação dos
conhecimentos científicos historicamente produzidos.
Estruturamos nosso texto em três partes. Na primeira, em linhas gerais
destacamos duas das políticas deflagradas pelo Governo Federal, que supostamente
visam à melhoria da qualidade da escola pública a partir dos processos que a
tecnologia pode desencadear. Na segunda parte discutimos sobre as contribuições
da psicologia histórico cultural a despeito da mediação nos processos de
aprendizagem.
2. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE INSERÇÃO DAS
TECNOLOGIAS2 NA EDUCAÇÃO
Numa tentativa de mover-se para além da aparência, discutiremos de forma
breve o contexto e emergência da Política Nacional de Informática na educação,
numa tentativa de situar nosso objeto, de estudo, observando sua constituição e
emergência no plano histórico. Seguiremos em seguida com a descrição das políticas
vigentes de intensificação e uso massivo da informática na educação, seus
fundamentos, objetivos e a forma de funcionamento e constituição dessa política,
justificadas pela necessidade de inclusão digital, conforme aparece em documentos
oficiais analisados.
As tecnologias têm ocupado hoje um papel central em toda a sociedade
contemporânea, permeando quase todos os espaços,
2 Embora as tecnologias se refiram a um amplo aparato de instrumentos, destinando-se a realização
das mais variadas tarefas, compreendendo múltiplos aspectos funcionais, nos referimos, para efeito
desse trabalho, especialmente – o uso do computador conectado a internet.](https://image.slidesharecdn.com/e-book-pp-pensar-e-fazer-191003190258/85/Politicas-Publicas-na-Educacao-Brasileira-Pensar-e-Fazer-44-320.jpg)
![44Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer
“[...] de modo que ela não mais pode ser definida como uma somatória de
novas técnicas operacionais, mas sim como um modus vivendi, como um
processo social que determina as configurações identitárias dos indivíduos
e as do processo educacional/formativo” (ZUIN, 2010, p.961).
Em termos educacionais, seu uso tem sido associado a uma melhoria da
qualidade da escola pública a partir de ações que visam sua universalização
(KRAMER, MOREIRA, 2007).
Dessa forma o impacto causado em nossa sociedade é visível, alterando
significativamente o mundo do trabalho e as relações entre indivíduos, a partir de
novas formas de interação desencadeadas pelo surgimento cada vez mais crescente
de novos aparatos tecnológicos.
O uso do termo informática na educação refere-se ao uso sistemático do
computador em sala de aula, nos diversos processos de ensino-aprendizagem dos
conteúdos curriculares saindo da velha forma tradicional e transmissiva
possibilitando diversificar e tornar mais desafiador e interessante o aprender
(VALENTE, 1999). Pontua o autor que “o uso do computador pode ser feito tanto
para continuar transmitindo a informação para o aluno e, portanto, para reforçar o
processo instrucionista, quanto para criar condições de o aluno construir seu
conhecimento” (p. 01). E frente ao novo papel que tem esse conhecimento em nossa
sociedade
[...] as estruturas de ensino poderiam evoluir, por exemplo, para um papel
muito mais organizador de espaços culturais e científicos do que
propriamente de “lecionador” no sentido tradicional. [...] o fato do
conhecimento ter-se tornado fluido, instantaneamente transportável, faz
com que ele seja hoje menos uma matéria-prima que primeiro se aprende,
e depois se transmite, para se construir numa rede de participantes que
deles partilham. À medida que a cultura da conectividade se generaliza,
vão se formando assim redes culturais interativas que o professor pode
ajudar a organizar, a dinamizar. (DOWBOR, 2008 p. 29)
Ante a abrangência e o potencial de mudar significativamente as formas de
aprender e de se ensinar que acontecem hoje na escola, com um ensino
fragmentado, compartimentado, pouco ou nada emancipador e com relações nada
lineares, sendo instituído desde há muito tempo os “donos e detentores” dos
saberes – o professor, e aqueles que “nada sabem” – os alunos, é que a inserção
de uma tecnologia como o computador distribuído a cada aluno, como se propõe o
projeto UCA, adquire grande importância no cenário atual da educação brasileira,
pois problematiza e leva o debate para as escolas, meio acadêmico e sociedade,
sobre a discussão do uso das tecnologias de forma intensiva nas escolas, pois
sempre haverá adeptos e “tecnofóbicos”. (SILVA, MARTINES, 2014).
Sob o ponto de vista histórico, de acordo com Moraes (1993, 1997) é datado
da década de 70 as discussões acerca do uso da informática educativa na escola.
As discussões iniciais aconteceram em ambientes acadêmicos, com ações
desenvolvidas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1966) a Universidade de](https://image.slidesharecdn.com/e-book-pp-pensar-e-fazer-191003190258/85/Politicas-Publicas-na-Educacao-Brasileira-Pensar-e-Fazer-45-320.jpg)
![45Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer
Campinas (1973) e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1975), na maioria
dos casos as discussões se deram em centros ou departamentos de computação,
matemática ou estatística.
A política nacional brasileira voltada para a informática na educação até a
década de 1980 era considerada estratégica e de segurança nacional, possuindo
um relativo apoio nacional para desenvolvimento de pesquisas e projetos.
Caracterizando-se como tecnocrática, elitista, e excludente se constituindo como
uma história paralela da política educacional brasileira (MORAES, 1996).
O modelo econômico e social adotado no Brasil em plena ditadura militar é o
marco de todo um processo de associação entre educação e informática que tem
início na década de 70, quando se mobiliza a partir daí todo o setor educacional para
atender a demanda de uma sociedade, especificamente de uma economia que
necessitava de recursos humanos para proporcionar o necessário desenvolvimento
de uma base tecnológica no Brasil (PRETTO; BONILLA, 2000).
O Brasil buscava nessa época criar condições próprias de desenvolvimento
tecnológico, visando desde então o desenvolvimento social, econômico e político.
Assim como a França, os Estados Unidos, o Japão, a Inglaterra e a Suécia,
o Brasil tinha interesse em construir uma base própria que lhe garantisse
autonomia tecnológica em informática, preocupado inclusive com as
questões de soberania nacional e de que forma a informática poderia vir a
afetar as relações de poder. (MORAES, 1993, p. 17)
Investir no setor de informática era visto como fundamental para o
desenvolvimento da economia nacional, como nos afirma Moraes (1995) o
desenvolvimento tecnológico, seja no setor civil, seja no militar objetivavam
[...] dominar a tecnologia para que não aumentasse ainda mais o fosso
tecnológico que separa o país dos centros econômicos capitalistas
mundiais, já que este setor está se constituindo num dos pilares onde está
se assentando o novo ciclo de acumulação do capital a nível mundial, além
de ser componente obrigatório de várias tecnologias, incluindo as bélicas.
(apud PRETTO; BONILLA, 2000, não paginado).
Desde então, uma série de ações, projetos e programas foram
implementados: EDUCOM, FORMAR, PRONINFE, PLANINFE, PROINFO,
compreendendo ações entre criação de espaços de discussões e pesquisas,
construção de infraestrutura, formação e distribuições de equipamentos.
Não objetivamos neste trabalho fazer um resgate histórico da trajetória do
uso das tecnologias na escola. Apontamos apenas algumas questões dada à
necessidade de contextualizar para avançarmos em nossa discussão. Optamos por
expor em linhas gerais dois dos programas vigentes, relacionados com a inserção do
computador na escola dada a sua amplitude, relevância e impactos sob a escola
pública.
O Programa Nacional de Formação Continuada em Tecnologia Educacional
denominado ProInfo Integrado, foi instituído a partir do Decreto 6.300 de 12 de](https://image.slidesharecdn.com/e-book-pp-pensar-e-fazer-191003190258/85/Politicas-Publicas-na-Educacao-Brasileira-Pensar-e-Fazer-46-320.jpg)

![47Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer
I) A imersão tecnológica da escola propicia o desenvolvimento de uma
“cultura digital”, na qual os alunos têm suas possibilidades de
aprendizagem ampliadas pela interação com uma multiplicidade de
linguagens ao mesmo tempo em que se potencializa a inclusão digital de
toda a comunidade escolar.
II) O viés da eqüidade social e o da competitividade econômica convergem
ao serem estimuladas as novas habilidades e competências que a era
digital exige. Assim, espera-se que novas formas de comunicação sejam
disseminadas, que a educação abranja outros tipos de letramentos além
do alfabético e oriente-se para o desenvolvimento da capacidade de
aprender a aprender.
III) A mobilidade e a conectividade do equipamento permitem ampliar os
tempos e espaços de aprendizagem de professores e alunos,
fundamentais para desenvolver a autonomia que possibilita a educação
por toda a vida, como defende a UNESCO.
IV) Por último, a utilização dos laptops conectados à Internet permite a
constituição de múltiplas comunidades de aprendizagem, que, interligadas
em rede, favorecem a interculturalidade, o trabalho cooperativo e
colaborativo e a autoria e co-autoria entre estudantes e professores na
construção do conhecimento, resultantes da quebra de hierarquia e
linearidade nas relações. O objetivo é contrapor- se ao modelo tradicional
de educação, ampliando a relevância e a contextualização do processo
educacional. (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2008, p. 16-17).
As políticas educacionais nas últimas décadas têm apostado e depositado
nas novas tecnologias, “o poder de converter ‘excluídos’ em ‘incluídos’. Sem alterar
as relações econômicas que realimentam a expropriação e exploração, (constituindo-
se) [...] como uma das principais estratégias de alivio a pobreza”, (BARRETO, 2009,
p. 49). Ou como se a qualidade da educação passasse apenas pela ausência ou
presença de instrumentos tecnológicos modernos.
As tentativas: de ordenar os sistemas educacionais e de promover
qualidade na educação, não devem ser orientadas por valores definidos
“de cima”. Também não cabe celebrar a capacidade “mágica” de qualquer
componente do processo pedagógico (como as novas tecnologias, por
exemplo) e vê-lo, por si só, como catalisador de mudanças significativas.
(MOREIRA e KRAMER, 2007, p. 1046).
Postman (1994, p. 78) traz contribuições dentro dessa discussão ao afirmar
que “a informação tornou-se uma espécie de lixo, não somente incapaz de responder
as questões humanas mais fundamentais, mas também pouco útil para dar uma
solução coerente aos problemas mundanos”. Por essas razoes defendemos a tese
de que uma educação que se pretenda desenvolver a criticidade necessária que
possibilite ao indivíduo não somente se apropriar da cultura historicamente
produzida, mas capacita-lo a ser agente de mudanças, na busca da superação dessa
sociedade, não pode prescindir da compreensão acerca dos complexos processos
atrelados as tecnologias na dinâmica da atual conjuntura capitalista
Neste processo, a inserção e o uso massivo de computadores e laptops
educacionais na educação, refletem este caráter ideológico, justificando o porquê do](https://image.slidesharecdn.com/e-book-pp-pensar-e-fazer-191003190258/85/Politicas-Publicas-na-Educacao-Brasileira-Pensar-e-Fazer-48-320.jpg)
![48Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer
investimento e priorização neste meio e não em outro, fenômeno este que é
explicado por Postman (1994, p. 23)
[...] pois toda ferramenta está impregnada de um viés ideológico, de uma
predisposição a construir o mundo como uma coisa e não como outra, a
valorizar uma coisa mais que outra, a amplificar um sentido ou habilidade
ou atitude com mais intensidade do que os outros.
Dessa forma, a busca por competências e letramentos digitais têm se
constituído nos discursos oficiais, em modelos e práticas que advogam em função
da formação de um novo tipo de trabalhador para se atender as demandas que o
capital requer como tem se constituído a escola, onde entendemos se constituir,
naquilo que Kuenzer (2002) chama de inclusão excludente e exclusão includente.
Nesse sentido, pode-se afirmar que a finalidade do trabalho pedagógico, (tem
sido) articulado ao processo de trabalho capitalista, é o disciplinamento para a vida
social e produtiva, em conformidade com as especificidades que os processos de
produção, em decorrência do desenvolvimento que as forças produtivas vão
assumindo.
Cabendo a educação dar conta da formação desse trabalhador que a
sociedade tem requerido. Um trabalhador que se adapte com rapidez e eficiência as
mais diversas situações para os quais tem que dar respostas, enfim um trabalhador
com comportamentos flexíveis (KUENZER, 2002).
A partir dos documentos oficiais analisados, uma justificativa presente em
todos os documentos e que também embasam o desenvolvimento de tais políticas
educacionais, está a necessidade de inclusão digital. Porém, entendemos que,
focarmos o debate acerca da inclusão/exclusão digital, a partir da premissa de
possuir ou não possuir determinada ferramenta tecnológica ou o acesso a ela, não
nos leva a um dimensionamento da gravidade dessa problemática (BARRETO, 2009;
CAZELOTO, 2007), bem como, impede o debate sobre as questões de fundo
geradoras da referida exclusão. Recorrendo-se a produção científica, ou mesmo
realizando um simples passeio pela memória, não é difícil perceber e concluir que
grande parte das políticas públicas, principalmente as tidas como sociais, tem se
limitado a agir sobre as consequências da pobreza, em vez de direcionar as ações
para aquilo que historicamente e socialmente têm gerado e perpetuado não somente
a pobreza como a miséria em todo o mundo.
“Por isso, a problemática da exclusão não pode ser vista como um problema
em si” (CAZELOTO, 2007, p. 163), pois numa sociedade capitalista como a nossa, a
riqueza é distribuída seguindo os ditames, normas e lógica do mercado,
desenvolvendo ao longo da história, toda uma modalidade de privações e sofrimento,
onde o verdadeiro e triste drama humano fica oculto atrás dos números, estatísticas
– verdadeiros “eufemismos/reducionismos” da real condição humana, face à
pobreza historicamente gerada e mantida. Em consonância com essas questões,
Barreto (2009, p. 40-41) nos confirma que](https://image.slidesharecdn.com/e-book-pp-pensar-e-fazer-191003190258/85/Politicas-Publicas-na-Educacao-Brasileira-Pensar-e-Fazer-49-320.jpg)
![49Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer
[...] a referida dicotomia oculta um conjunto mais amplo de questões
históricas e estruturais da expropriação e da exploração, remetendo a
problemática das classes sociais. [...] a dicotomia em questão embora
apresentada nas políticas governamentais como categoria explicativa do
real, silencia a história de constituição e reprodução do capitalismo: a
inclusão dos trabalhadores no mercado nada tem de idílica, envolvendo
um processo violento de expropriação (perda violenta das terras e dos
demais meios de produção).
Para Barroco (2007), todos estão incluídos no capitalismo, devido este não
comportar exterioridade, dada a sua configuração – alguns detêm os meios de
produção e concentram a riqueza produzida por aqueles que vendem sua força de
trabalho, fato que, os que geram a riqueza não a usufruem em grau de paridade,
sendo esta a parte que lhes cabe.
A perspectiva do universalismo das políticas sociais é abandonada, quando
se adotam apenas medidas focais, não combatendo nem olhando de frente para a
questão da exploração e da expropriação, sendo esses os determinantes da exclusão
(BARRETO, 2009) – fato que o estado se nega a olhar de frente, para assim garantir
o enfrentamento necessário rumo à superação da expropriação que, para a autora,
é um termo mais fiel, pois “designa o lugar do trabalhador no capitalismo” (BARRETO,
2009, p. 45), em vez do uso do termo exclusão, que acaba por apagar e ocultar as
reais contradições existentes em nossa sociedade.
Dessa forma, ao educador é extremamente importante refletir “em que
condições econômicas, políticas e sociais desenvolvem a profissão e que
necessidades postas pelo capital exigem dos professores esta ou aquela postura”
(FACCI, 2004, p. 54), que os instrumentalize a refletir sobre as contradições
existentes na realidade social e no meio institucional ao qual está inserido.
Por essas razões, defendemos a tese de que uma educação que se pretenda
desenvolver a criticidade necessária que possibilite ao indivíduo não somente se
apropriar da cultura historicamente produzida, mas capacitá-lo a ser agente de
mudanças, na busca pela superação dessa sociedade, não pode prescindir da
compreensão acerca dos complexos processos atrelados a tecnologias na dinâmica
da atual conjuntura capitalista.
3. O COMPUTADOR ENQUANTO INSTRUMENTO MEDIACIONAL: CONTRIBUIÇÕES DA
PSICOLOGIA HISTÓRICO-CULTURAL
Herdamos no século XXI as mesmas formas de se ensinar e de se aprender
empreendidas no século passado baseado ainda numa mera memorização e
repasse de informações, muitas das vezes descontextualizadas e, portanto,
totalmente ausentes de significado para o aluno que não consegue por sua vez
articular com seu cotidiano e com sua vivência, dada a distância com que os
conceitos científicos, por exemplo, são abordados em sala de aula (SILVA,
MARTINES, 2014).](https://image.slidesharecdn.com/e-book-pp-pensar-e-fazer-191003190258/85/Politicas-Publicas-na-Educacao-Brasileira-Pensar-e-Fazer-50-320.jpg)
![50Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer
Modelos transmissivos e focados exclusivamente no professor como
elemento central e detentor do saber, colocam a escola como uma instituição que
luta e resiste bravamente a mudanças, insistido assim em não adotar modelos de
aprendizagem que levem em consideração o trabalho colaborativo e cooperativo
tenho o professor e as tecnologias como mediadores do no processo de ensino-
aprendizagem.
A psicologia histórico-cultural tem em Vigotski seu maior expoente, bem
como seus colaboradores, Leontiev e Luria, psicólogos russos que revolucionaram a
maneira de conceber o indivíduo superando concepções dualistas, relação corpo x
mente, indivíduo x sociedade, fatores orgânicos x fatores ambientais,
compreendendo o que há de humano no indivíduo como uma construção histórica e
fruto de um processo iminentemente cultural, internalizados a partir de relações
mediadas pelo outro (BARROCO, 2007).
Na teoria histórico-cultural, proposta por Vigotski (1991) o conceito de
mediação ocupa um lugar central e de fundamental importância, pois é a partir dela
que a criança torna-se um indivíduo cultural adulto, internalizando o mundo a partir
de mecanismos mediacionais ao qual o indivíduo vai significando ao longo da vida a
partir das relações estabelecidas e mediadas pelos instrumentos produzidos
culturalmente, pelos signos, e pelo outro, assim estabelecendo relações que não são
diretas, mas essencialmente mediadas.
O caminho do objeto até a criança e desta até o objeto passa através de
outra pessoa. Essa estrutura humana complexa é o produto de um
processo de desenvolvimento profundamente enraizado nas ligações
entre história individual e história social” (Vygotsky, 1991: p.33).
Para Rey (2012), partir das premissas de uma psicologia cultural-histórica é
levar em consideração a realidade humana com todo o seu aparato simbólico.
É precisamente esse caráter simbólico o que permite quebrar algumas das
metáforas naturalistas tão difundidas na psicologia e que por sua vez, tem
marcado o seu caráter individualista. Pensar que as formas superiores e
mais complexas da subjetividade e da criação humana podem ser
construídas a partir de mecanismos que compartilhem o homem, os
pombos e os ratos, como o behaviorismo tentou fazer, ou que podem ser
explicados pelos caminhos e desdobramentos de um desejo
“encapsulado”, que parte de pulsões universais, como proposto por certa
psicanálise dogmática de inspiração Freudiana [...], são todos princípios
sobre os quais se tentou universalizar uma compreensão da subjetividade
humana, suas práticas ou simplesmente seu comportamento (REY, 2012,
p. 179).
Entendemos que a teoria Histórico-Cultural que concebe o indivíduo levando
em conta seus condicionantes históricos e também culturais, se constitui numa
ferramenta preciosa na tentativa de se compreender, não somente como se dá a
constituição do sujeito, sua subjetividade e aprendizagem, mas principalmente como](https://image.slidesharecdn.com/e-book-pp-pensar-e-fazer-191003190258/85/Politicas-Publicas-na-Educacao-Brasileira-Pensar-e-Fazer-51-320.jpg)
![51Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer
se dá seu desenvolvimento, de forma a possibilitar ao sujeito mover-se para além da
realidade imediata, para além da aparência.
A partir do pensamento Vigotskiano Facci (2004) Barroco (2007) pontuam a
importância da mediação e do uso de instrumentos, produzidos pelo homem, no
desenvolvimento das funções psicológicas superiores, a saber: atenção voluntaria,
memorização ativa, o pensamento abstrato dentre outros, explicitados por (Vigotski;
Luria, 1996), que são funções que passam a existir nos indivíduos a partir de sua
relação com o mundo externo, ou seja, com a cultura ao qual está inserido.
Partindo da premissa em que concebemos o computador como uma
ferramenta construída pela atividade e trabalho do homem cultural para a realização
de tarefas, e enquanto instrumento de mediação, bem como na importância da
escola e do professor nesse processo, acreditamos conforme afirma (Barroco, 2007)
que
“o processo educacional [...] pode elevar os homens de uma condição
primitiva à cultural, quando eles se apropriam do uso de instrumentos e
ferramentas externas, ate o ponto de se valerem de instrumentos ou
mecanismos internos que os tomam de, certo modo, independentes da
realidade concreta imediata [...] Nas ferramentas ficam embutidos tanto
os processos para seu emprego quanto a potencialidade do processo
criativo [...] saber empregá-las implica na apropriação de conhecimentos
já conquistados, o que gera condições para novas formulações. (p. 47-
236)
É frequente hoje em dia, em todos os meios, repartições, instituições em
geral, ao qual a escola não fica de fora, a difusão da ideia que associa tecnologia a
inovação, e que consequentemente, isso levaria a uma melhoria na qualidade do
ensino, partindo da premissa que os meios tecnológicos por si só trariam benefícios
aos processos de aprendizagem (MIRANDA, 2007).
Belmont Filho (2005) afirma que um dos elementos fundamentais para que
ocorra a inclusão digital com sucesso na escola, e a consequente melhoria na
qualidade do ensino é esse processo ser mediado por uma pessoa capacitada para
orientar o aluno no manejo da tecnologia e na utilização dos conteúdos encontrados
na internet, de modo a transformá-lo em conhecimento, garantindo assim o
aprendizado e consequentemente o desenvolvimento do aluno, que se apropriando
do conhecimento mediatizado pelo professor e pela ferramenta (instrumento), se
torna reequipado como afirma (VYGOTSKY; LURIA, 1996). Dessa forma, Para Vigotski
A inclusão do instrumento provoca, em primeiro lugar, a atividade de toda
uma serie de funções novas, relacionadas com a utilização do mencionado
instrumento e de seu manejo. Em segundo lugar, suprime e torna
desnecessária toda uma serie de processos naturais, cujo trabalho passa
a ser efetuado pelo instrumento. (2004, p. 95)
Concordamos com Bonilla (2009) que considera a escola como um local
primordial no processo de apropriação da cultura digital por parte dos alunos, assim
a autora afirma: “como a escola deve ser espaço-tempo de crítica dos saberes,](https://image.slidesharecdn.com/e-book-pp-pensar-e-fazer-191003190258/85/Politicas-Publicas-na-Educacao-Brasileira-Pensar-e-Fazer-52-320.jpg)
![52Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer
valores e práticas da sociedade em que está inserida, é da sua competência, hoje,
oportunizar aos jovens a vivência plena e crítica das redes digitais” (p. 04).
Pautada na perspectiva da psicologia histórico-cultural, e da pedagogia
histórico critica proposta por Saviani, Facci (2004) afirma que cabe à educação e à
mediação do trabalho do professor, a sistematização e a transmissão dos
conhecimentos produzidos e acumulados pela humanidade às novas gerações que
precisam se apropriar dos conhecimentos e da cultura.
A respeito do caráter mediador da escola, Saviani (2003) afirma que
pela mediação da escola, acontece a passagem do saber espontâneo ao
saber sistematizado, da cultura popular à cultura erudita. [...] se trata de um
movimento dialético, isto é, a ação escolar permite que se acrescentem
novas determinações que enriquecem as anteriores e estas, portanto, de
forma alguma são excluídas. Assim, o acesso à cultura erudita possibilita a
apropriação de novas formas por meio das quais se podem expressar os
próprios conteúdos do saber popular (p. 21).
Assim na perspectiva da psicologia histórico-cultural, estendemos esse
caráter mediador à atividade docente do professor e aos instrumentos e meios
empregados por ele, como o computador por exemplo.
Facci (2004) baseada em Vigotski nos afirma que o processo de
aprendizagem realiza-se sempre em colaboração, a partir de interações entre
crianças mais experientes ou entre adultos, em um caso particular de interação,
ressaltando que não é qualquer tipo de interação que conduz a aprendizagem,
exigindo-se que seja organizada, com os objetivos definidos e que os alunos estejam
motivados para aprender, onde os professores e os meios utilizados por ele servirão
como mediadores entre os conhecimentos científicos e os alunos. Fica, portanto,
reforçada a importância da mediação do outro no processo de aprendizagem.
Segundo Pozo (2002) “a prática deve sempre adequar-se ao que se tem de
aprender” (p.65), posto isto, a inserção de computadores em sala de aula oportuniza
diversas formas de se trabalhar, oferecendo múltiplas possibilidades e caminhos que
podem ser trilhados rumo à construção do conhecimento, levando em consideração
que “quem aprende é o aluno; o que o professor pode fazer é facilitar mais ou menos
sua aprendizagem. Como? Criando determinadas condições favoráveis para que se
ponham em marcha os processos de aprendizagem adequados” (POZO, 2002, p.
69).
Já não é de hoje que novas formas de ensinar e de aprender têm sido
propostas e introduzidas nas escolas conforme pontuado por Martines (2010):
A década de 90 foi caracterizada pelo início das mudanças estruturais na
educação brasileira no âmbito da legislação, das políticas, da gestão, do
currículo, de metodologias, da formação e da inserção das Tecnologias
aplicadas à educação, bem como da conectividade, mobilidade e
facilidades de realizar atividades digitais. Neste sentido, vários programas
foram implementados pelo Ministério da Educação tais como: Salto para o
Futuro, TV Escola, PROINFO, Rádio Escola, PROFORMAÇÃO, TV Escola e os
Desafios de Hoje, Mídias na Educação, Pró-Licenciatura, UAB entre outros,](https://image.slidesharecdn.com/e-book-pp-pensar-e-fazer-191003190258/85/Politicas-Publicas-na-Educacao-Brasileira-Pensar-e-Fazer-53-320.jpg)
![53Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer
que se pautam numa nova forma de ensinar e aprender. (MARTINES,
2010, p. 7).
A Internet hoje em dia vem “impondo” novas formas de interação, de
relacionamentos, e aliada à educação configura-se uma importante ferramenta de
interação e aprendizado, podendo o indivíduo a qualquer momento e qualquer lugar
dispor de um número infinito de informações, o que impõe a escola rever seu papel
e a forma como sistematiza seus saberes.
Pozo (2002) critica algumas das atuais formas de ensino mantidas
“promotoras de atividades individuais, solitárias, assentadas em práticas
autoritárias e sem solidariedade na apropriação do saber proporcionadas pelas
escolas” (p. 257). O autor defende ainda “uma organização cooperativa das
atividades de aprendizagem” na qual os objetivos que os participantes perseguem
estão estreitamente vinculados entre si, de tal maneira que cada um deles pode
alcançar seus objetivos se, e apenas se os outros alcançam os seus (p. 257).
A cooperação deve reunir determinadas condições onde pode se resumir em
três pontos citados por Pozo (2002) que os mestres podem levar em conta ao
organizar socialmente suas atividades de aprendizagem:
a) A aprendizagem cooperativa será mais eficaz quando for proposta
como uma tarefa comum do que como várias tarefas subdivididas entre os
membros da equipe (você busca a informação, você lê, você escreve...
b) Essa tarefa comum não deve fazer com que os aprendizes evitem
ou dissolvam suas responsabilidades individuais na aprendizagem, pelo
contrário deve se avaliar não só o rendimento grupal como a contribuição
individual de cada aprendiz [...] é preciso evitar que os aprendizes se
camuflem na estrutura do grupo
c) As oportunidades para o êxito e para a obtenção de recompensas
devem ser iguais para todos os aprendizes, independente de seus
conhecimentos prévios ou pericia inicial. Trata-se de fugir da cultura
competitiva da aprendizagem, em que os aprendizes são comparados
entre si, e, incentivar contextos em que o rendimento de cada aprendiz
seja comparado com seu rendimento anterior e não com o de outros
aprendizes mais ou menos capazes ou especializados. (2002. p. 260)
Assim defendemos uma aprendizagem que leve em consideração os aspectos
relacionais, do aprender se apoiando na partilha e intercâmbio de saberes,
experiências e valores e sobretudo concebendo a aprendizagem como um processo
de crescimento e edificação ao longo de um percurso (CATELA, 2011), mediado pela
tecnologia e pelo o outro. Possibilitando assim formas menos competitivas de
trabalho em sala de aula em que muitas vezes se valoriza o individual e a
competitividade.
A apropriação dos conceitos científicos tem papel importantíssimo na teoria
histórico cultural, de acordo com Vigotski (2009, p. 387) “o que funciona determina
até certo ponto como funciona”. A partir dessa premissa a teoria histórico-cultural
afirma que a partir dos conceitos científicos trabalhados pela escola e, portanto,
internalizados pelos sujeitos, modificam tanto a forma como a estrutura do](https://image.slidesharecdn.com/e-book-pp-pensar-e-fazer-191003190258/85/Politicas-Publicas-na-Educacao-Brasileira-Pensar-e-Fazer-54-320.jpg)
![54Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer
pensamento proporcionando o desenvolvimento das funções psicológicas superiores
tipicamente humanas, o que não se dá nas experiências cotidianas nem somente
em buscas e sistematizações de informação disponível na Internet, mas a partir da
atuação do professor na zona de desenvolvimento proximal para, a partir do trabalho,
mediação e intervenção do professor, o aluno possa amanhã fazer sozinho, o que
hoje faz com a ajuda do professor mais experiente.
De forma crítica e ressaltando o caráter social e, portanto, político do
conhecimento Demo afirma que
[...] aos educadores compete cuidar que o conhecimento, além de não
servir apenas ao mercado, se curve aos objetivos da educação, tendo em
vista a necessidade de combater, mais do que a carência material, a
pobreza política ou a ignorância historicamente produzida e mantida.
Política social do conhecimento, se bem conduzida, pretende colocar o
pobre como artífice central de seu destino, com base na aprendizagem
reconstrutiva política. (2000, p. 5)
Infelizmente os programas escolares continuam funcionando, em grande
medida, como se a sociedade informatizada e a avalanche de informações que a
acompanha, não existisse, os alunos têm poucas oportunidades de organizar e dar
sentido a esses saberes informais, relacionando-os com o conhecimento escolar,
que ainda por cima costuma ser bastante menos atrativo
Pozo (2002) acerca da aprendizagem nos diz o seguinte:
[...] aprender é antes de mais nada mudar o que já se sabe. Todo aprendiz
tem uma bagagem de conhecimentos prévios, em boa parte implícitos [...]
com o qual é preciso estabelecer conexão para que o adquirido tenha
sentido. Sobretudo fomentar a transferência e conexão mútua entre os
contextos e conhecimentos cotidianos e os saberes formais que o
professor ensina. (p. 269).
Torna-se necessário e urgente questionarmos quais nossas concepções de
aprendizagem enquanto educadores, pois ela influenciará diretamente nas diversas
práticas adotadas e consequentemente nas relações que se estabelecerão na sala
de aula.
A inserção das novas TICs na educação e, mais especificamente, do
computador em sala de aula, enquanto instrumento de mediação pode se tornar
uma poderosa ferramenta dinamizadora e amplificadora de meios e técnicas
empreendidas nos ambientes formativas com vistas à internalização/apropriação do
conhecimento, abrindo novas possibilidades e novas formas de se ensinar e
aprender conjuntamente, reconhecendo para isso a indissociabilidade do processo
de ensino/aprendizagem mediados por um professor conscientes acerca do papel
da tecnologia em nossa sociedade e de seu modo de produção, onde, a partir de
uma apropriação crítica, possa influir significativamente na qualidade e no sucesso
da escola.
Pesquisas na internet, construção de blogs para sistematizar e socializar o
aprendido e construído coletivamente, produção e edição de vídeos, uso de](https://image.slidesharecdn.com/e-book-pp-pensar-e-fazer-191003190258/85/Politicas-Publicas-na-Educacao-Brasileira-Pensar-e-Fazer-55-320.jpg)








![63Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer
Entre os estudos iniciais estes merecem destaque: o Relatório Coleman, nos
Estados Unidos e o Relatório Plowden, na Inglaterra. O primeiro, procurou identificar
e compreender o porquê da ausência de equidade educacional para os cidadãos em
razão da raça, religião, cor, ou naturalidade em estabelecimentos de educação
pública, nos variados níveis através do conhecimento segundo os termos da sua Lei
de Direitos Civis de 1964. O Plowden, igualmente fora desenvolvido por demanda do
Poder Público, porém, destinou-se a descrever o estado da arte da investigação
acerca da qualidade da escola primária.
Os resultados surpreenderam: no Coleman, o nível social e econômico dos
estudantes fora o fator mais associado a seu desempenho escolar. (BROOKE &
SOARES, 2008). O do Plowden: que os fatores relacionados especialmente a escola
não aparecem como essenciais ao desempenho escolar, ao menos na pesquisa. Em
resumo, o desempenho escolar dos estudantes estava associado a nível
socioeconômico, mesmo que contestados posteriormente, pois “[...] as conclusões
derivadas do trabalho de Coleman não eram aceitáveis como ponto final para a
discussão sobre a contribuição da escola” (BROOKE & SOARES, 2008, p. 106). Uma
vez que havia a necessidade de compreender o sentido da eficácia escolar utilizando
outros parâmetros além dos testes padronizados, como exemplo, aspectos do
comportamento e socioafetivos, além de inserir um teste diagnóstico ao aluno entrar
na vida acadêmica para perceber a contribuição da escola em seu desempenho.
Sendo assim a equidade seria a capacidade da escola em diminuir as diferenças
socioeconômicas dos estudantes, através da distribuição de resultados escolares.
Outra maneira de considerar uma escola eficaz é que o estudante ao sair da escola
tenha em cada etapa de ensino o conhecimento considerado acima da média sem
levar em conta as questões socioeconômica (Brooke & Soares, 2008).
Em 2002 os resultados de testes padronizados foram utilizados para legitimar
as políticas de accountability com a ratificação da lei “No Child Left Behind (NCLB)”
em que: “[...] fundos atribuídos à educação compensatória nos anos 1960 fossem
redistribuídos segundo uma política de accountability e de padrões de ensino,
fixando objetivos precisos para os professores em matéria de sucesso escolar
(NORMAND, 2008, p. 53)”, apesar de críticas. Este plano fora planejado pela Nova
Direita e utiliza-se da mídia para convencer a opinião pública e “convidar” o sistema
educativo a aproximar-se das empresas e ser mais competitivo, pois, “(...) produção
das provas científicas que vieram reforçar essas teses” (Idem). Como resultado, a
escola eficaz ganha força e sua legitimidade passa pelos centros de estatísticas
elaboram quadros e gráficos, com uma metodologia própria para interpretação de
informações cifradas ou através da exposição de um modelo matemático e seus
postulados.
Outros estudos contrapõem o uso de testes ou avaliações ao afirmar que a
avaliação não induz a excelência, consoante (ORFIELD & KORNHABER, 2001), tendo
como consequência a naturalização das desigualdades. Logo, este tipo de avaliação
faz parte do paradigma educacional neoliberais a exemplo do voucher, ticket-
educação ou vale-educação (FRIEDMAN & ROSE, 1985; CHUBB & MOE, 1990).
Sendo assim, compreendem que quando professores e estudantes debatem e há a](https://image.slidesharecdn.com/e-book-pp-pensar-e-fazer-191003190258/85/Politicas-Publicas-na-Educacao-Brasileira-Pensar-e-Fazer-64-320.jpg)

![65Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer
No Brasil, são escassos os estudos que demostrem os efeitos das políticas de
avaliação por resultado, por isso precisamos inicialmente compreender como se deu
a implementação dos mecanismos de regulação do Estado e o surgimento.
3.2 A REESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA: REGULAÇÃO E POLÍTICAS DE
RESPONSABILIZAÇÃO NO BRASIL
A reestruturação da educação brasileira coincide com a implantação das
reformas neoliberais da década de 1990 em que altera áreas primordiais como
social, econômica e educacional, lideradas por organismos internacionais, a exemplo
da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE e/ou Banco
Mundial - BM configurando a intervenção do Estado nestas áreas.
As intervenções do Estado tem respaldos nas grandes conferências
internacionais como a Conferência Mundial de Educação para Todos, Jomtien, na
Tailândia de 5 a 9 de março de 1990, tendo como convidados a Organização das
Nações Unidas - ONU, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e
a Cultura - Unesco, Fundo das Nações Unidas para a Infância - Unicef, Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD e BM. Foram definidos os
parâmetros para construir os Planos Decenais de Educação. Já a conferência da
Índia, ocorreu em16 de dezembro de 1993, em que foi assinada a “Declaração de
Nova Delhi”, em que é reafirmado os compromissos assumidos na outra já citada,
no entanto, fora estabelecido as diretrizes e estratégias a serem acrescentadas no
Plano Decenal Brasileiro de Educação, a exemplo.
Além do respaldo nas conferências internacionais, a reestruturação da
educação do país ocorre simultaneamente com a nova política regulatória do Estado.
Iniciada com a Constituição Federal Brasileira de 1988 e com a aprovação da Lei de
Diretrizes e Bases - LDB (Lei 9.394/96). Neste processo a revitalização do Instituto
Nacional de Estudos Pedagógicos (INEP) e a criação do Fundo Nacional para a
Educação Fundamental (FUNDEF) tiveram papel muito importante, o primeiro por
criar os sistemas de avaliação e estatísticas e o segundo pela descentralização
financeira. Em 2007 o FUNDEF foi substituído pelo FUNDEB, com características
semelhantes, mas com maior abrangência, não apenas para o Ensino Fundamental,
mas para todas as etapas da Educação Básica.
Vale destacar que o INEP criou os sistemas de avaliação: “[...] o SAEB, sistema
de avaliação para a educação básica; o ENEM, exame nacional do Ensino Médio; e
os exames nacionais para os programas de graduação, conhecidos como Provão.”
(Lucena, 2017, p.7). Logo, as avaliações em larga escala tornaram-se uma realidade
no Brasil. Ganharam força por volta da década de 1990 quando foram criados os
sistemas de avaliação de países da América Latina, a exemplo o SAEB (Sistema
Nacional de Avaliação Educação Básica) em 1988. A centralidade destes testes se
deu em parte por influência de organismos internacionais como o Banco Mundial,
através de concepção, dos agentes, as técnicas de avaliações internacionais e as
pesquisa (BONAMINO, 2002). Somados aos sistemas nacionais, foram criados](https://image.slidesharecdn.com/e-book-pp-pensar-e-fazer-191003190258/85/Politicas-Publicas-na-Educacao-Brasileira-Pensar-e-Fazer-66-320.jpg)










![76Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer
nos casos de cometimento de falta grave (fazer uso da função para garantir
benefícios; romper sigilo dos casos; conduta incompatível com o cargo; recusa de
prestar atendimento; empregar medidas de proteção divergentes da decisão
colegiada do Conselho Tutelar; não cumprimento de horários determinados; exercer
outras atividades desconcordantes do exercício do cargo; recebimento de
gratificações
Dessa forma, os Conselhos demandam permanente engajamento e precisam
de conselheiros com conhecimentos sobre as funções que desempenham, tornando
primordial a consciência destes para a importância do trabalho que exercem na
comunidade, conforme os princípios da proteção integral e igualdade. Os
conselheiros são remunerados e o art. 134 do ECA prever que “disporá sobre local,
dia e horário de funcionamento do Conselho Tutelar, inclusive a eventual
remuneração de seus membros” (BRASIL, 1990) bem como previsão dos recursos
necessários.
É perceptível a importância dos Conselhos Tutelares para a sociedade civil,
por isso consideramos significativo o estudo deste órgão como instrumento de
democratização do direito à educação. Portanto, pretendemos traçar um breve
histórico da origem do Conselho Tutelar desde a implantação na década de 1990
até os dias atuais. Sabendo a influência dos Conselhos Tutelares nas escolas,
realizamos na disciplina de Gestão e Organização de Sistemas Educacionais II,
Entrevistas com o intuito de investigar o papel desempenhado nas instituições
educacionais. Escolhemos a abordagem metodológica da Entrevista Compreensiva
por apresentar subsídios para reflexão durante a pesquisa, fazendo parte da análise
o Conselho Tutelar do Centro do Município de São Luís e uma escola da rede pública,
os participantes da entrevista constituem por 3 (três) conselheiros e 1 (uma) gestora.
A metodologia escolhida nos permitiu analisar a atuação do Conselho Tutelar nas
escolas e sua influência na melhoria das condições educacionais, bem como as
ações protetivas às crianças e os adolescentes. Compreendemos necessário o
reconhecimento a partir da questão histórica do Conselho Tutelar, assim, retornamos
a questão principal que abordaremos neste artigo.
2 BREVE RESGATE HISTÓRICO DO CONSELHO TUTELAR
A passagem da ditadura para a democracia foi consolidada com a
Promulgação da Constituição Federal em 1988, que de acordo com Fausto (2008,
p. 525) refletiu “o avanço ocorrido no país especialmente na área da extensão de
direitos sociais e políticos aos cidadãos em geral e às chamadas minorias”,
reconhecendo as crianças e os adolescentes como sujeitos de direito no artigo 227:
“é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente
[...], o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação [...] além de coloca-los a
salvo de toda forma de negligencia, discriminação, exploração, violência e
crueldade” (BRASIL, 1988).
A partir da Carta Magna foram instituídas algumas normas para assegurar os](https://image.slidesharecdn.com/e-book-pp-pensar-e-fazer-191003190258/85/Politicas-Publicas-na-Educacao-Brasileira-Pensar-e-Fazer-77-320.jpg)


![79Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer
do Conselho Tutelar”CT1 Ao relatarem sobre as atribuições do Conselho Tutelar, é
reconhecido pelos conselheiros que a comunidade não compreende o verdadeiro
papel deste órgão, evidenciamos a seguinte fala “muitas vezes quando vamos
notificar em algum bairro já chegam dizendo: ninguém vai tomar meu filho ou o
contrário vou deixar esse menino aqui, não aguento mais”CT3. Destacando a
importancia do Conselho Tutelar na relação com a comunidade; e, também, a
questão do tomar e/ou deixar o filho, fica claro que a falta de conhecimento sobre o
papel do Conselho tutelar leva a esse tipo de interpretação.
Afirmamos que o Conselho Tutelar deve agir a partir das atribuições
designadas por lei, conforme o art. 136, no inciso I, “atender as crianças e
adolescentes nas hipóteses previstas nos arts. 98 e 105, aplicando as medidas
previstas no art. 101, I a VII” que aborda sobre as medidas de proteção à criança e
ao adolescente por ação ou omissão da sociedade, do estado, dos pais ou
responsáveis ou por sua conduta, podendo intervir na matricula obrigatória nas
escolas da rede oficial de ensino, requisição de tratamento médico, inclusão em
programa oficial ou comunitário orientação, acompanhamento temporário e
encaminhamento aos pais ou responsável.
No inciso II, “atender e aconselhar os pais ou responsável, aplicando as
medidas previstas no art. 129, I a VII” que trata da prestação de atendimentos aos
pais, como o encaminhamento a serviços e programas oficiais ou comunitários, a
tratamentos psicológicos, a programas de orientação e obrigação de matricular o
filho ou pupilo ou encaminhar a criança ou adolescente a tratamento especializado;
no inciso III, “promover a execução de suas decisões, podendo para tanto: a)
requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social [...]; b)
representar junto à autoridade judiciaria nos casos de descumprimento injustificado
de suas deliberações” que garante a execução e cumprimento das medidas
impostas pelo órgão. Porém, os conselheiros ficam sujeitos à disponibilidade do
serviço público, que no momento de inacessibilidade, será requerido tais
cumprimentos. Caso não seja justificado, o Conselho comunica o Juiz da Infância e
Juventude como forma de punir os contrários a ação.
No que se refere a relação do Conselho Tutelar com a Escola,
compreendemos necessário escolher uma escola da rede pública próxima a área de
atuação do Conselho da área Centro de São Luís, como uma forma de análise da
atuação deste órgão. Dessa forma, nas entrevistas tanto os conselheiros como a
Escola se consideram parceiros, quando o Conselho Tutelar precisa de vagas, a
escola tenta providenciar o mais prontamente possível e do mesmo modo quando a
escola precisa da presença ou da atuação do conselho em um caso especifico, este
se coloca à disposição para ajudar no que for preciso, principalmente nos casos de
violência na escola e de indisciplina severa.
Os conselheiros destacam que a atuação nas escolas ocorre por meio de
denúncias, assim, evidenciamos a seguinte fala “o Conselho Tutelar só age com a
denúncia, precisamos ser acionados”CT2. Portanto, para que possam atuar, a Escola
faz o relatório da criança, manda para o conselho, este vai a busca da família e dão
o retorno para a gestão da escola, demandando tempo. No caso de violência na](https://image.slidesharecdn.com/e-book-pp-pensar-e-fazer-191003190258/85/Politicas-Publicas-na-Educacao-Brasileira-Pensar-e-Fazer-80-320.jpg)







![87Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer
brasileira e da escola como expressão e produção desta, emergiu “um processo que
poderíamos chamar de ‘ascensão da diversidade’, como um tema em disputa por
correntes teóricas e na realidade social” (ABRAMOWICZ, RODRIGUES e CRUZ, 2011,
p. 86). Assim, analisamos os trabalhos de autores como Patto (1999a; 1999b),
Longman (2002), Mota Rocha (2002), Charlot (2000), Poulin (2010), Adorno (1986),
Kramer (1999), Arroyo (2008), Goffman (1988), Veras (2007) e Figueiredo (2002),
a partir dos quais integramos nossas considerações, expostas a seguir.
3. A DEFICIÊNCIA ENQUANTO PRIVAÇÃO CULTURAL
No fim da década de 1950 e início de 1960, o contexto problemático norte-
americano de evasão e repetência escolar, denunciado por minorias sociais,
especialmente negros e porto-riquenhos, configurou-se como um dos catalisadores
para a realização de pesquisas no âmbito da que ficou conhecida como Psicologia
das Diferenças Individuais ou Psicologia Diferencial. Frequentemente realizadas por
meio de testes de Coeficientes de Inteligência, tendo como parâmetro o repertório
cultural das camadas favorecidas dos Estados Unidos, essas pesquisas, não
raramente, resultaram na afirmação de que o fato desses alunos irem mal na escola
era porque portavam inúmeras deficiências nas áreas do desenvolvimento
biopsicossocial.
Assim sendo, as causas dos problemas foram localizadas em características
bio-psico-sociais dos aprendizes, entendidas como déficits ou patologias. A
tendência é o olhar pela falta, seja mediante a teoria da privação, na qual “a
deficiência é o que falta para as crianças terem sucesso na escola” (CHARLOT, 2000,
p. 26), ou pela teoria da deficiência cultural, que compreende a deficiência como
uma desvantagem dos alunos cuja cultura familiar (da pobreza) não estaria
adequada às exigências sociais e escolares (PATTO, 1999a, 1999b; CHARLOT, 2000;
LONGMAN, 2002).
Patto (1999a, 1999b) destaca que essa concepção determina a maneira
como pensamos o aluno das escolas, especialmente, de periferia. A pesquisa
educacional veiculou uma interpretação coerente com a visão oficial de sociedade
vigente nos Estados Unidos, de que essas crianças viviam em ambientes familiares
que não favoreciam um desenvolvimento psicológico adequado. As explicações
sobre os problemas no rendimento escolar da criança de baixa renda variaram entre
carências afetivas, deficiências perceptivas e motoras, déficit linguístico, enfim se
tratava de privação cultural. Não se avançou a respeito da análise sobre o porquê de
o ambiente familiar dessas crianças ser precário, ou se era efetivamente precário,
nem se considerou criticamente as dimensões econômica, política, social e a
dimensão da dominação cultural. Vemos a seguir as respostas que foram dadas,
pelos estudos acerca da causalidade das dificuldades de aprendizagem.
[...] a pesquisa educacional contribuiu para a veiculação de uma imagem
negativa da criança de "classe baixa": ela seria portadora de inúmeras
deficiências e problemas de desenvolvimentos. [...] afirmava-se que essas](https://image.slidesharecdn.com/e-book-pp-pensar-e-fazer-191003190258/85/Politicas-Publicas-na-Educacao-Brasileira-Pensar-e-Fazer-88-320.jpg)
![88Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer
crianças eram deficientes porque suas famílias eram deficientes, porque
seus ambientes familiares eram deficientes (PATTO, 1990a, p. 31).
Como o modelo ideal de aprendiz da classe dominante, social e
economicamente privilegiada se tornou um referencial, as explicações sobre os
problemas no rendimento escolar da criança de baixa renda variaram entre
carências afetivas, deficiência perceptivas e motoras, privação cultural, déficit
linguístico. Surgindo então, no pensamento educacional, uma “verdadeira” teoria da
carência, privação e deficiência cultural, o que justifica a expressão “psicologia da
pobreza”, que transformava diferenças individuais decorrentes de culturas
desvalorizadas pela escola em “doenças, defeitos, deficiências”, como causas do
insucesso escolar (PATTO, 1990b).
A teoria passou, então, a culpalizar o sujeito, portador de atraso no
desenvolvimento psicomotor, perceptivo, linguístico, cognitivo e emocional, e
dissimular as verdadeiras razões das desigualdades (LONGMAN, 2002).
Sobrepuseram as análises de reprodução das desigualdades, no desempenho
escolar dos estudantes (ABRAMOWICZ et al., 2011). Segundo Patto (1999b), isso
ocorreu pela coexistência entre os temas da democratização do ensino e da carência
cultural identificada como excepcionalidade, tal como verificamos a seguir.
Tudo se passa como se à defesa de uma educação escolar igualitária fosse
preciso contrapor um lembrete a respeito da existência de aptidões
desiguais, a serviço da justificativa da desigualdade de oportunidades e do
caráter seletivo da escola numa sociedade de classes (PATTO, 1990b, p.
99, grifos da autora).
Nessa direção, Mota Rocha (2002) enfatiza a centralidade da cultura e das
famílias pobres apontadas nesta concepção como causa do insucesso escolar, sem
articular tais aspectos à produção de desigualdades sociais. Ainda detalha as
significações que produz na desumanização dos indivíduos, concebidos como
objetos de favor na relação pedagógica elementar construída na e pela escola
pública, como podemos observar na citação a seguir:
[...] percepção do aluno pobre como sujeito sem jeito ou resíduo sem
solução; alguém que não é merecedor de iniciativas de qualidade na
educação; sujeito que está em vias de aglomerações suspeitas (atitudes
violentas ou envolvimento em crimes). Percebida enquanto inferioridade
na escola, a pobreza é um modo de ser que descredencia indivíduos para
o exercício dos seus direitos, o que expressa o papel desta instituição na
(re) produção do preconceito e da estratificação sociais (MOTA ROCHA,
2002, p. 190).
A afirmação da autora é compartilhada por Pfahl (2014) que compreende o
sistema educacional não apenas como lugar de reprodução, mas de produção de
desigualdade e deficiência. O efeito dessa produção foi (é) contribuir para
“sacramentar cientificamente as crenças, os preconceitos e estereótipos, (...)
afirmações de caráter ideológico e, portanto, mistificador, que justificam uma ordem](https://image.slidesharecdn.com/e-book-pp-pensar-e-fazer-191003190258/85/Politicas-Publicas-na-Educacao-Brasileira-Pensar-e-Fazer-89-320.jpg)
![89Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer
social vigente (...) como se fossem verdades universais (PATTO, 1990a, p. 23).
Produção essa fundamentada no etnocentrismo e na ideologia burguesa de muitos
pesquisadores (PATTO, 1990b) que legitimaram a reprodução social no campo
científico, justificando esse olhar sobre os alunos e seus desempenhos escolares,
em políticas educacionais compensatórias (LONGMAN, 1990) eximindo as causas
da sociedade na produção da deficiência, atraso e/ou marginalização escolar e
social.
As consequências da concepção da deficiência enquanto privação social se
ampliam e se ramificam, podendo, inclusive, algumas serem elencadas, como no
próximo tópico.
3.1. As consequências da concepção da deficiência enquanto privação cultural
3.1.1. Barreiras para a inclusão
Sabemos que a educação resulta da inter-relação entre as condições
objetivas e subjetivas nas quais a educação formal é construída. No que se refere às
condições subjetivas, as barreiras podem ser arquitetônicas, comunicacionais,
pedagógicas e atitudinais. Segundo Carvalho (2007), as barreiras atitudinais estão
entre os maiores obstáculos da inclusão. Elas envolvem estruturações perceptivas,
afetivo-emocionais que interferem nas predisposições de cada professor. As
concepções exercem forte influência em torno da deficiência e interferem
diretamente na dinâmica da sala de aula, na medida em que configuram, consciente
ou inconscientemente a relação pedagógica elementar da sala de aula (MOTA
ROCHA, 2002).
A deficiência pode ser concebida de várias maneiras e causa prejuízos aos
indivíduos, pois sempre prevaleceu o que lhes “falta” sobre o que “dispõem” como
potencialidades. É essencial pensar no grande número de crianças tomadas como
deficientes porque foram assim consideradas por seus professores e, assim,
passaram a considerar-se. Por essa razão, Carvalho (2007) destaca ser um dos
desafios para a sociedade e, em especial, aos educadores, modificar a ideia das
dificuldades como impedimentos.
[...] as limitações impostas pelas múltiplas manifestações de deficiência
não devem ser confundidas com impedimentos. Estes têm origem na
própria sociedade, em suas normas e nos estereótipos que cria,
prejudicando o desenvolvimento individual que depende das interações
com os outros, do viver com, sendo como cada um de nós “é” ou “está”
(CARVALHO, 2007, p. 9).
Em decorrência das relações interpessoais, podem se desenvolver
sentimentos positivos de auto-estima e de autoconfiança, eliminando a percepção
social do aluno deficiente, como doente e limitado. Essa mudança depende da
qualidade das oportunidades que forem apresentadas. Portanto, uma educação](https://image.slidesharecdn.com/e-book-pp-pensar-e-fazer-191003190258/85/Politicas-Publicas-na-Educacao-Brasileira-Pensar-e-Fazer-90-320.jpg)
![90Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer
inspirada no paradigma da inclusão, implica na remoção dessas barreiras atitudinais
frente à diferença, que frequentemente põem os indivíduos em situação de
desvantagem (CARVALHO, 2007). Como afirmam Moreira e Candau (2005), eliminar
essas barreiras exige persistência e, fundamentalmente o conhecimento sobre elas.
Portanto, a seguir, comentaremos sobre as consequências da concepção de
deficiência enquanto privação cultural, que podem ser configuradas como
exemplificações desses “impedimentos”.
3.1.2. Ideologia da normalidade
Essa ideologia surgiu nos séculos XVIII e XIX, ligada às noções de
nacionalidade, raça, gênero, nas quais a norma é o que permite chegar ao “homem
médio”, uma espécie de ideal. “Nesse contexto, a norma se estabelece via controle,
regulação da população: saudável, normal” (VERAS, 2007, p. 144). Essa noção de
normalidade presente nos discursos das políticas de inclusão e das pedagogias
especiais, entende as diferenças como deficiências, pois resulta da construção de
educandos considerados ideais, legitimados como parâmetros únicos de medida,
logo, maximiza as semelhanças e minimiza as diferenças (GOFFMAN, 1988; VERAS,
2007).
Nesse contexto, prevalecem “os processos de dominação inspirados na
ideologia da normalidade e produtividade inerente às pedagogias da classificação
de escolas brasileiras” (ALVES; MOTA ROCHA E CAMPOS, 2010, p. 209). Nesses, “o
normal não se explica: é inato, natural, verdade em si mesmo [...], não se coloca em
discussão, é inquestionável [...], tornou-se o padrão, a norma, o que possibilita a
manipulação do Outro [...] como instrumento de exploração” (LONGMAN, 2002, p. 5).
Mota Rocha, Alves e Neves (2007) denominam esse fenômeno de assujeitamento
social, que se produz pela identidade legitimadora e se racionaliza a dominação. Em
última instância, a alteridade classificatória é construída pela afirmação do normal,
necessariamente, em detrimento do assujeitamento do dito deficiente.
É nesse contexto, que os estigmas são produzidos, isto é, marcas postas nos
“outros” em nome da manipulação normativa, distinguindo os “outros” com adjetivos
pejorativos: anormais, diferentes, deficientes, inferiores, incivilizados, incapazes,
desviantes, problemáticos, doentes, fracassados e indesejáveis. Portanto, uma das
maiores problemáticas da ideologia da normalidade é que, na escola, a luta pela
efetivação de direitos esbarra na identificação das diferenças ainda como algo
extraordinário, e não como constitutivas dos indivíduos. Logo, o atípico incomoda,
gera desconforto e rejeição, prevalecem os aspectos “negativos” (o que falta),
produzindo estigmatização (CARVALHO, 2007; CANDAU, 2012; GOFFMAN, 1988;
LONGMAN, 2002).
Em última instância o sujeito é silenciado, invisibilizado e assujeitado porque
sobreposto pela deficiência produzida socialmente (MOTA ROCHA, 2002), no
processo de transformação da diferença em desigualdade (FIGUEIREDO, 2002), e
constituído na relação pedagógica elementar enquanto sujeito desacreditado e](https://image.slidesharecdn.com/e-book-pp-pensar-e-fazer-191003190258/85/Politicas-Publicas-na-Educacao-Brasileira-Pensar-e-Fazer-91-320.jpg)
![91Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer
desacreditável (GOFFMAN, 1988). Por isso mesmo, tal concepção produz a exclusão
social, no sentido da ruptura de laços sociais, da desafiliação, do não pertencimento
(POULIN, 2010).
3.1.3. Pedagogia da classificação
Para muitos autores, a escola é um dos exemplos mais emblemáticos da
pedagogia da classificação, pois ela não só cria, como reforça e ainda cientifica as
classificações, fundamentando-se pela perspectiva da privação cultural, pela teoria
da causalidade da falta, pelas quais a deficiência se sobrepõe ao sujeito (LONGMAN,
2002, MOTA ROCHA; ALVES; NEVES, 2007; CHARLOT, 2000). Essa pedagogia, como
expressão da ideologia da normalidade, descaracteriza as identidades dos sujeitos,
produzindo a violência simbólica, a reprodução social, a exclusão e a desqualificação
social do indivíduo em situação de deficiência, visto como população descartável do
sistema (MOTA ROCHA, 2002), como peso, gasto, déficit, “párias sociais, cujo lugar
na sociedade é definido como: lugar da exclusão” (VERAS, 2007, p. 141), como
verificamos na citação que segue.
A maior obviedade da pedagogia da classificação é a exclusão, porque ela,
em si mesma, vem carregada de valores positivo e negativo, uma vez que
classificar significa desqualificar pessoas, significa não torná-las
singulares ou substantivas. É como uma tatuagem: marca e define a
pessoa para sempre. Na marca que a classificação coloca, impede-se a
constituição na semelhança dos pares, dos aliados, da fratria [divisões de
clãs]. Ela é dada, antes mesmo da pessoa se constituir como sujeito, não
é construída pelo sujeito, é prisioneira dela mesma, não tem escolhas
(LONGMAN, 2002, p. 4).
Percebemos, que, respaldada nas ideologias de normalidade e produtividade,
a pedagogia da classificação se constitui como processo de produção de
estereótipos, em lógicas binárias, e em sociedades desiguais que desqualificam os
indivíduos que não correspondem aos padrões de normalidade e produtividade,
enquanto enaltecem aqueles que correspondem adequadamente ao controle social
pela alteridade classificatória. Numa cisão do mundo, intensificada por essa
pedagogia, que existe para que o normal não seja questionado, transformando,
assim, a diferença em desvio, camuflando a desigualdade produza em
representações inferiorizadas de diversos coletivos feitos desiguais (ARROYO, 2008;
FIGUEIREDO, 2002; LONGMAN, 2002).
3.1.4. Pedagogia da negação
A pedagogia da negação se concretiza quando o acompanhamento
pedagógico é respaldado por uma visão de aluno apoiada na ideia da insuficiência.
Gomes, Poulin e Figueiredo (2010) a define como uma atitude negativa que alguns](https://image.slidesharecdn.com/e-book-pp-pensar-e-fazer-191003190258/85/Politicas-Publicas-na-Educacao-Brasileira-Pensar-e-Fazer-92-320.jpg)

![93Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer
e insucesso dos alunos e, consequentemente, causando prejuízos para as suas
aprendizagens e autodeterminação (idem). Em muitos casos, a deficiência é
produzida socialmente por privação de mediação, fator que dificulta ou impede o
desenvolvimento cognitivo. As interações sociais, as características do sujeito, suas
experiências e significação quanto ao aprendizado, interferem nas condições de
aprendizagem, cabendo ao educador intervir nessas condições, mobilizando da
melhor forma possível a ação do sujeito, considerando que, se ele “acumula
experiência de sucesso em suas trocas com o meio social, pode ultrapassar seu
potencial” (FIGUEIREDO e POULIN, 2008, p. 248).
Figueiredo (2002) questiona sobre os princípios nos quais os professores se
fundamentam quando se referem às dificuldades de seus alunos em situação de
deficiência. Para a autora, eles podem agir segundo o preceito da realidade ou pelo
princípio do preconceito. Em muitas situações, os professores até reconhecem que
determinadas dificuldades não são peculiares às crianças em situação de
deficiência, todavia, agem pelo princípio do preconceito, pautando-se em
concepções e em ideias preconcebidas sobre as possibilidades de aprendizagem.
Nesse contexto, relações de poder estão envolvidas, e o sistema educacional
funcionando numa perspectiva de educação como técnica (para alunos treináveis),
atualiza as maneiras dominantes de pensar a educação escolar das classes
trabalhadoras, incluindo a concepção de que seus indivíduos não são aptos a pensar,
sempre “em torno da crença, cada vez mais implícita, na inferioridade intelectual do
povo, o que certamente contribuiu [contribui] para a ineficácia crônica da escola”
(PATTO, 1990b, p. 109).
4. CONSIDERAÇÕES
Consideramos que nossa discussão colabora para a compreensão das
consequências da concepção de deficiência enquanto privação cultural, porque põe
em xeque a problemática, ainda presente na escola brasileira, dos impedimentos e
limitações na construção do modelo includente de educação, com repercussões para
a reincidente produção da barbárie em sociedades desiguais. Conhecer essa
concepção de deficiência e seus efeitos na formação dos sujeitos é importante
condição para problematizar a naturalização das barreiras atitudinais, que
sobrepõem a deficiência à condição de sujeito, e de sujeito de direito à educação,
que produzem a desumanização e a estigmatização. É fundamental, portanto,
pesquisas que destaquem não apenas os processos escolares representativos desta
concepção, mas, sobretudo, a produção de significações e práticas docentes
contrapostas a essa concepção, que sejam basilares à inclusão e possibilitem a
eliminação de práticas discriminatórias pelo desenvolvimento de pedagogias críticas
para os indivíduos dos diversos coletivos sociais.](https://image.slidesharecdn.com/e-book-pp-pensar-e-fazer-191003190258/85/Politicas-Publicas-na-Educacao-Brasileira-Pensar-e-Fazer-94-320.jpg)
![94Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer
REFERÊNCIAS
ABRAMOWICZ, A.; RODRIGUES, T. C.; CRUZ, A. C. J. da. A diferença e a diversidade na
educação. Contemporânea. São Carlos, 2011, n. 2. p. 85-97. Disponível em:
<http://bit.ly/1MsfSGK>. Acesso em: 04 jan. 2016.
ADORNO, T. Educação após Auschwitz. In: COHN, G. [org.]. Theodor W. Adorno. São
Paulo, Ática, 1986, p. 33-45.
ALVES, J. G.; MOTA ROCHA, S. R.; CAMPOS, K. P. B. Deficiência mental e Estigma
social: um enfrentamento possível. In: FIGUEIREDO, R. V. de; BONETI, L. W.; POULIN,
J. R. [orgs.]. Novas Luzes sobre a inclusão. Fortaleza: Edições, UFC, 2010. p. 175-
212.
ARROYO, Miguel G. Os coletivos diversos repolitizam a formação. In: DINIZ-PEREIRA,
Júlio Emíllio; LEÃO, Geraldo [orgs.]. Quando a diversidade interroga a formação
docente. Belo Horizonte: Autêntica, 2008. p. 11-36.
CARVALHO, Rosita Edler. Removendo barreiras para aprendizagem: educação
inclusiva. 6ª edição Porto Alegre: Mediação, 2007. 174 p.
CARNEIRO, M. S. C. Vigotski, a abordagem histórico-cultural e os estudos da
defectologia: outras possibilidades de compreensão da constituição do sujeito. In:
CARNEIRO, M. S. C. Deficiência mental como produção social: uma discussão a partir
de histórias de vida de adultos com síndrome de Down. 2007. 193 p. (Tese de
Doutorado em Educação) – UFRGS, Rio Grande do Sul, 2007.
CHARLOT, Bernard. Da relação com o saber: elementos para uma nova teoria. Porto
Alegre: ATMED. Porto Alegre, 2000. 93 p.
CRUZ, Priscila; MONTEIRO, Luciano (Orgs.) Anuário Brasileiro da Educação Básica
2016. São Paulo: Editora Moderna, 2016. Disponível em:
<http://www.todospelaeducacao.org.br//arquivos/biblioteca/anuario_educacao_2
016.pdf>. Acesso em: 23 jun. 2016.
FIGUEIREDO, R. V. de; POULIN, J. R. Aspectos funcionais do desenvolvimento
cognitivo de crianças com deficiência mental e metodologia de pesquisa. In.: VIEIRA
CRUZ, S. H. [org.] A criança fala: A Escuta de Crianças em Pesquisas. São Paulo:
Cortez, 2008, p. 245-263.
GOFFMAN, Erving. Estigma: notas sobre a manipulação da identidade deteriorada.
Tradução de Márcia Bandeira de Mello Leite Nunes. 4. ed. Rio de Janeiro: LCT, 1988.
124 p.](https://image.slidesharecdn.com/e-book-pp-pensar-e-fazer-191003190258/85/Politicas-Publicas-na-Educacao-Brasileira-Pensar-e-Fazer-95-320.jpg)
![95Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer
KRAMER, S. Infância e educação: o necessário caminho de trabalhar contra a
barbárie. In: KRAMER, S. et al [org.]. Infância e educação Infantil. Campinas, Ed.
Papirus, 1999. p. 269-280.
LONGMAN, L. V. Classificação: uma pedagogia da exclusão. In: Revista Gestão em
Rede, outubro, nº 40, 2002, p. 11-15.
MELO, Silmara C. Barbosa; ROCHA, Sílvia R. da Mota. Modelos teórico-metodológicos
de alfabetização e letramento: implicações pedagógicas. XIX Encontro de
Pesquisadores do Norte e do Nordeste – EPENN. João Pessoa: UFPB, 2009.
MOREIRA, A. F. B.; CANDAU, V. M. Educação escolar e cultura(s): construindo
caminhos. In: FAVERO, O.; IRELAND, T. D. [orgs.]. Educação como exercício da
diversidade. Brasília: UNESCO, MEC, ANPEd, 2005. p. 37-58. Disponível em:
<http://bit.ly/1RsHCIk>. Acesso em: 04 jan. 2016.
MOTA ROCHA, S. R. da. Leitores da comunidade e crianças leêm histórias na escola:
Programa de integração da criança remanescente à comunicação letrada. (Tese de
Doutorado apresentada à Universidade Federal do Ceará), 2002. 386 p.
OLIVEIRA, C. M. de L.; MOTA ROCHA, S. R. da; CAMPOS, K. P. B. Deficiência Intelectual,
Prática Pedagógica Sócio-Histórica e Letramento digital. Trabalho apresentado no V
Seminário Nacional sobre educação e Inclusão Social de Pessoas com necessidades
educacionais especiais. Natal –RN, 2012. 12 p.
PATTO, M. H. S. A criança de escola pública: deficiente, diferente ou mal trabalhada?
In: São Paulo. Secretaria da Educação. Revendo a proposta de alfabetização. São
Paulo, 1990a. p. 30-41. Disponível em:
<http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoe
s_pde/2009_uel_pedagogo_md_katia_regina_de_oliveira.pdf>. Acesso em: 21 jun.
2016.
PATTO, M. H. S. A produção do fracasso escolar: histórias de submissão e rebeldia.
São Paulo: T. A. Queiroz, 1990b. p. 454.
PFAHL, Lisa. Desigualdade, educação e deficiência. In: Revista Deficiência Intelectual
(DI), Ano 4, Número 7, julho/dezembro, 2014. Disponível em:
<http://www.apaesp.org.br/instituto/Documents/Artigos/Revista%20DI/Edi%C3%A
7%C3%A3o%207/DI_n7_18-23.pdf>. Acesso em: 21 jun. 2016.
POULIN, J. R. Quando a escola permite a contribuição no contexto das diferenças. In:
FIGUEIREDO, R. V. de; BONETI, L. W.; POULIN, J. R. [orgs.]. Novas Luzes sobre a
inclusão. Fortaleza: Edições UFC, 2010. p. 17-49.](https://image.slidesharecdn.com/e-book-pp-pensar-e-fazer-191003190258/85/Politicas-Publicas-na-Educacao-Brasileira-Pensar-e-Fazer-96-320.jpg)






![102Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer
mensurar números de matrículas, de permanência ou evasão. Todavia, se levar em
consideração os elementos determinantes. É, no mínimo ingenuidade política que
isso não esteja atrelado às políticas públicas de Estado e de governo quantas vezes
“cosméticas”.
Pois, se houver uma contínua queda de oferta de matrículas para o Ensino
Médio regular ou Médio associado à formação técnico profissional, seguramente,
isso promoverá implicações imprevisíveis às sociedades futuras. Esta realidade
colocará em xeque a sua civilidade, já tão escassa. Onde a violência psicológica
perpetrada por agentes públicos e por seus porta-vozes disseminaram discursos
eficazes para naturalizar à inferioridade de muitos, sob a profusão da superioridade
de alguns. E, quando a violência chega a enraizar-se na consciência humana, isto
ocorre porque ela a tornou naturalizada. Sendo natural as suas expressões físicas,
mesmo quando o palco é a escola.
Além dos dados já evocados, a exposição de outros números amplia a
preocupação sobre os fatores que tenham relação com a incidência de uma queda
cada vez maior no número de adolescentes, observem:
[...] os números absolutos são enormes e dão uma ideia mais precisa do
desafio educacional que o País enfrentará. Pela contagem da população
realizada em 1996 (IBGE), em 1999 o Brasil terá 14.300.448 pessoas
com idade entre 15 e 18 anos. Esse número cairá para a casa dos 13
milhões a partir de 2001, e para a casa dos 12 milhões a partir de 2007.
No início da segunda década do próximo milênio (2012), depois do
fenômeno da onda de adolescentes, o País ainda terá 12.079.520 jovens
nessa faixa etária (BERCOVICH, 1997 apud Matrizes de Referência do
Ensino Médio, 2003, p. 52, grifos do autor).
Como se pode observar as cifras resultantes da pesquisa e das projeções
realizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, oferecem
subsídios para que haja um estado de alerta em relação a que fatores contribuem
ou determinam esta queda tão significativa da população de jovens e adolescentes
com idade de 15 a 18 anos de idade. O que requer das instituições comprometidas
com a pesquisa, como as universidades do Brasil, ONG’S e outras instituições de
classe possam olhar com atenção para a necessidade de estudos e pesquisas sejam
voltados para que um esforço coletivo ocorra, a fim de serem apontados fatores
esclarecedores, visando a identificação da gênese do problema, bem como medidas
alternativas para fazer frente à este ataque à humanidade jovem, assim como fora
comum ao passado vivido pelos agora, “maduros’ e idosos.](https://image.slidesharecdn.com/e-book-pp-pensar-e-fazer-191003190258/85/Politicas-Publicas-na-Educacao-Brasileira-Pensar-e-Fazer-103-320.jpg)
![103Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer
Na busca pela mudança de postura, o ingresso no consumo e comércio de
drogas legais e ilegais, o descaso familiar, o abandono, a pobreza11, o preconceito
social, econômico e étnico racial representam fatores que aviltam a humanidade do
humano e acabam, muitas vezes corrompendo-o, legando à condição de viver pela e
para a barbárie. Entretanto, refletir sobre o planejamento, desenvolvimento e
avaliação de resultados de estudos e pesquisas podem ajudar a encontrar
alternativas e saídas para minimizar, quiçá enfrentar essa redução que atinge os
nosso adolescentes e jovens. Hoje, já dividindo, as salas de aula da EJA com a
clássica clientela sobrevivente de outros processos de barbárie. A própria sociedade
brasileira sofrerá, como tem sofrido, as consequências dessa redução.
É também prudente observar dados de outra pesquisa:
[...] Conforme prossegue o estudo da Fundação SEADE12: Em 1992, cerca
de 64% dos adolescentes já estavam fora da escola; em 1995, apenas
três anos depois, este percentual já havia decrescido para algo em torno
de 42%. Como consequência da maior permanência no sistema escolar,
cresce de forma expressiva a proporção de adolescentes que avançam
além dos quatro primeiros anos. O mesmo se dá, de alguma maneira, em
relação à conclusão do primeiro grau e do segundo grau. (Matrizes de
Referência do Ensino Médio, 2003, p. 53, grifos do autor.).
É digno de nota: este dado sobre o crescimento da Fundação SEADE, apesar
de sua necessidade de dados atualizados, não consegue apresentar um quadro tão
11 (...) entre as formas de científicas e não científicas de verdade, o que leva à invisibilidade de formas
de conhecimento que não se encaixam nessa validade da forma legítima de conhecer: os
conhecimentos dos leigos, plebeus, camponeses, afro-brasileiros ou indígenas são situados no outro
lado da verdade, na inverdade. A partir da concepção abissal de conhecimento, considera-se que os
pobres não produzem conhecimentos válidos, mas apenas reproduzem crenças, opiniões, magias,
idolatrias, entendimentos intuitivos ou subjetivos que são incomensuráveis e incompreensíveis por
não pertencerem aos cânones científicos de verdade. O pensamento moderno de que o currículo são
síntese, acaba por bloquear conhecimentos (...). Logo, os currículos tendem a ignorar a pobreza, ao
desconsiderar os (as) pobres como objeto de conhecimento e preocupação (...) pensá-los como
sujeitos de conhecimento. (ARROYO, 2014b).
12 [...] o mencionado estudo, a onda de adolescentes acontece num momento de escassas
oportunidades de trabalho e crescente competitividade pelos postos existentes. Na verdade, os dois
fenômenos somados – escassez de emprego e aumento geracional de jovens – respondem pela
expressiva diminuição, na população de adolescentes, da porcentagem dos que já fazem parte da
população economicamente ativa. Este é um indicador a mais de que essa população vai tentar
permanecer mais tempo no sistema de ensino, na expectativa de receber o preparo necessário para
conseguir um emprego (opcit.).](https://image.slidesharecdn.com/e-book-pp-pensar-e-fazer-191003190258/85/Politicas-Publicas-na-Educacao-Brasileira-Pensar-e-Fazer-104-320.jpg)





![109Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer
para alterar positivamente, esse grave cerceamento à educação formal, na última
etapa da “educação básica”. Com efeito a reflexão sobre a análise dos dados
quantitativos possa despertar outros estudos, bem como novas pesquisas,
sobretudo, na área de educação e áreas correlatas a ampliar sua compreensão e,
também, as consequências que advém da manutenção dessa prática histórica: a
ausência de políticas públicas eficazes que promovam a inclusão de classes
subalternizadas em face de sua diferença ou pertencimento étnico cultural. Algo tão
comum à América Latina, do Sul onde a assimilação fora um traço para o
amordaçamento.
REFERÊNCIAS
ARROYO, M. G. Módulo Introdutório: pobreza, desigualdades e educação. Brasília:
Ministério da Educação, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização,
Diversidade e Inclusão, 2014a.
ARROYO, M. G. Módulo IV: pobreza e currículo: uma complexa articulação. Brasília:
Ministério da Educação, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização,
Diversidade e Inclusão, 2014b.
ARROYO, M. G. Ofício de Mestre: imagens e auto-imagens. Petrópolis, RJ: Vozes,
2000. p. 238-251.
ARROYO, M. G. Os coletivos empobrecidos repolitilizam os currículos. In: GIMENO
SACRISTÁN, José (Org.). Saberes e incertezas sobre o currículo. Porto Alegre: Penso,
2013.
BRASIL. Matrizes de Referências ENEM. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira – INEP/MEC/BR, (p. 01-04). Disponível em:
http://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/downloads/2012/matriz_ref
erencia_enem.pdf, acesso em 26; 27; 28/02/2017.
BERCOVICH, A. M.; MADEIRA, F. R.; TORRES, H. G. Mapeando a situação do
adolescente no Brasil. São Paulo: Fundação SEADE, 1997. (versão preliminar).
MAGALHÃES, Antônio M. A Escola para Todos e a Excelência Acadêmica.
PINZANI, A.; REGO, W. L. Módulo I: pobreza e cidadania. Brasília: Ministério da
Educação, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e
Inclusão, [2014].
MOURA, Dayvison Bandeira de. Currículo de Língua Portuguesa e Cultura
afrodescendente: perspectivas de leitura em cursos do PROEJA no Instituto Federal](https://image.slidesharecdn.com/e-book-pp-pensar-e-fazer-191003190258/85/Politicas-Publicas-na-Educacao-Brasileira-Pensar-e-Fazer-110-320.jpg)












































![154Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer
“[...] a escola, admitida como uma complexa instituição social moderna, é
determinada pela sociedade em que se inscreve e, por isso mesmo, retém
contradições, ambiguidades, problemas e perspectivas específicas; em
decorrência, para se enfrentar os problemas da educação escolar,
especialmente aqueles relacionados com a formação do aluno, do
professor e de todos que direta ou indiretamente da escola fazem parte
[...] (SASS, 2010, p. 62)
É diante disso que compreendemos que mesmo com avanços jurídicos e
legais, como as políticas de ações afirmativas, ainda são poucos os alunos negros,
indígenas ou com deficiência que alcançam o nível técnico nas instituições públicas
de excelência no Brasil. E, na sala de aula, quando prevalecem estigmas e
estereótipos, os professores podem partir do princípio que um olhar superficial para
o aluno “permite dizer se ele terá ou não dificuldades para aprender. A percepção
inicial que as professoras têm dos seus alunos parece se manter, e a explicação
dada é a experiência que possuem” (BRITO; LOMÔNACO, 1983, p. 77).
“É claro que não vamos encontrar alguém que defenda a exclusão, a
discriminação e a violação dos diretos humanos (a legislação brasileira,
inclusive, penaliza quem o faz). Todos são favoráveis à inclusão e à
democracia. Porém, o problema é mais complexo do que simplesmente
usar palavras de ordem, porque implica questões éticas e
epistemológicas” (DAZZANI, 2010, p. 367).
A autora citada afirma que “nem sempre a exclusão se resume ao fato de que
a criança está fora do espaço físico da escola, mas fora do espaço simbólico da
cultura e da economia” (DAZZANI, 2010, p. 365). De fato, há uma relação entre a
exclusão social e a exclusão escolar. E este fato vem sendo, cada vez mais, agravado
com uma gestão financeira dos recursos públicos que almeja restringir gastos,
principalmente quando se trata da Educação Básica. E de fato, “a proposta de
educação inclusiva é muito maior do que somente matricular o indivíduo na escola
comum, implica em dar outra lógica à escola” (DRAGO; RODRIGUES; DIAS, 2014, p.
18).
Diante dessa necessidade de mudança paradigmática, os docentes têm
sido alvo de exigências na formação de novas gerações, as quais devem ser
educadas segundo o princípio ético da tolerância e do respeito ao outro. E, na relação
professor e aluno, o que está em jogo é o desejo de ensinar e aprender. Ao entrar na
sala de aula, os professores se deparam com o imprevisível e, às vezes, o indizível
no desejo do aluno, enquanto sujeitos em desenvolvimento que trazem suas
angústias, dúvidas e incertezas.
Diante desta relação complexa, permeada por demandas que se atualizam
diariamente, muitas vezes, ocorrem conflitos onde o significante “professor” surge
como “bode expiatório” da instituição, sendo representado como incapaz de incluir
as diferenças e promover o protagonismo. Desse modo, compreender as
particularidades da interação entre os atores principais do palco escolar, suas
manifestações e contradições, torna-se imperativo para a escola atual definida como](https://image.slidesharecdn.com/e-book-pp-pensar-e-fazer-191003190258/85/Politicas-Publicas-na-Educacao-Brasileira-Pensar-e-Fazer-155-320.jpg)

![156Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer
a nossa tradição educacional que historicamente se demonstrou excludente o que
exige uma mudança de atitude e uma consequente sensibilização de todo
comunidade escolar para o acolhimento da diferença. Outra grande dificuldade
enfrentada ainda pela Rede Federal é a adequação de infraestrutura para que todo
aluno seja atendido com qualidade independente de suas limitações e/ou
habilidades. E por fim, mas não menos importante demonstrou uma lacuna
formativa dos docentes o que se torna um problema multifacetado, pois de um lado
os professores se sentem despreparados para lidar com a diversidade e por outro
são culpabilizados por uma situação que, em muitos aspectos, extrapola sua
competência.
Dessa forma, conclui-se que o primeiro passo para que as instituições da
Rede Federal se tornem inclusivas foi dado por meio da institucionalização de
políticas para este fim, mas que ainda carecem de implementação e efetividade.
Não hesitamos, portanto, em afirmar que ações afirmativas não só são
benéficas aos alunos da Rede Federal, como são antes de tudo necessárias a
democratização da educação de qualidade em nosso país.
REFERÊNCIAS
Brasil. Decreto nº 7.234, de 19 de julho de 2010. Dispõe sobre o Programa Nacional
de Assistência Estudantil – PNAES. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil,
Poder Executivo, Brasília, DF, 20 julho. 2010.
_______________. Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012. Dispõe sobre o ingresso
nas universidades federais e nas instituições federais de ensino técnico de nível
médio e dá outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil,
Poder Executivo, Brasília, DF, 30 agosto. 2012.
_______________. Decreto nº 7.824, de 11 de outubro de 2012.
Regulamenta a Lei no 12.711, de 29 de agosto de 2012, que dispõe sobre o ingresso
nas universidades federais e nas instituições federais de ensino técnico de nível
médio. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília,
DF, 15 outubro. 2012.
_______________. Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da
Educação Inclusiva. Brasília: Ministério da Educação, 2013.
BAPTISTA, C. R. Ação pedagógica e educação especial: para além do AEE. Em: JESUS,
D. M.; BAPTISTA, C. R. Baptista; CAIADO, K. R. M. (Orgs.), Prática pedagógica na
educação especial: multiplicidade do atendimento educacional especializado. 1ª ed.
Araraquara: Junqueira & Marin, 2013, v. 1 , p. 43-61.](https://image.slidesharecdn.com/e-book-pp-pensar-e-fazer-191003190258/85/Politicas-Publicas-na-Educacao-Brasileira-Pensar-e-Fazer-157-320.jpg)






![163Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer
No ano de 1999, o Ministério da Educação e Cultura (MEC), sendo
intermediado pela Secretaria da Educação Média e Tecnológica, elaborou os
Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (PCNEM). Esse trabalho
envolveu discussões com especialistas e educadores de todo o país, vislumbrando
auxiliar o professor na execução de seu trabalho. Nele é proposto um currículo
baseado no domínio de competências básicas, atribuindo significado ao
conhecimento escolar na perspectiva de trabalho contextualizado e interdisciplinar
(BRASIL, 1999).
A Matemática no Ensino Médio, segundo os PCN+ Brasil (2002), tem um valor
formativo propiciando a estruturação do pensamento e do raciocínio dedutivo,
desempenhando também papel instrumental, por ser uma ferramenta para a vida
cotidiana. No seu papel formativo, a Matemática contribui para o desenvolvimento
de processos de pensamento e aquisição de atitudes, cuja utilidade e alcance,
transcendem o âmbito da própria Matemática, podendo, com isso, preparar o aluno
para resolver problemas genuínos, gerando assim o hábito de investigação.
Diante disto, os PCN+ definem as prioridades de aprendizado para o ensino
da Matemática, a saber:
Compreender os conceitos, procedimentos e estratégias matemáticas que
permitem a ele desenvolver estudos posteriores, aplicar seus
conhecimentos matemáticos a situações diversas, utilizando-os na
interpretação na implementação da ciência, na atividade tecnológica e nas
atividades cotidianas; analisar e valorizar informações provenientes de
diferentes fontes, utilizando ferramentas matemáticas para formar uma
opinião própria que lhe permita expressar-se criticamente problemas da
matemática, das outras áreas do conhecimento e da atualidade;
desenvolver as capacidades de raciocínio e resolução de problemas, de
comunicação, bem como o espírito crítico e criativo; estabelecer conexões
entre diferentes temas e matemáticos e entre esses temas e o
conhecimento de outras áreas de conhecimento do currículo; reconhecer
representações equivalentes de um mesmo conceito, relacionando
procedimento associado às diferentes representações (BRASIL, 2002,
p.25-26).
Dentre as finalidades do Ensino Médio, os PCNEM afirmam que deve “[...]
estabelecer conexões entre diferentes temas e matemáticos e entre estes temas e o
conhecimento de outras áreas de conhecimento [...]” (BRASIL, 1999,p.4). Outro
documento oficial (BRASIL, 2002) deixa ainda mais explícita a orientação de se fazer
uma associação entre os conteúdos estudados, objetivando maior ênfase ao ensino
de funções que prioritariamente se configura em nosso objeto de estudo.
A intenção de completar a formação geral do estudante nessa fase implica,
entretanto, uma ação articulada, no interior de cada área e no conjunto de
áreas. Essa ação articulada não é compatível com um trabalho solitário,
definido independentemente no interior de cada disciplina, como
acontecia no antigo ensino de segundo grau (BRASIL, 2002. p. 09).](https://image.slidesharecdn.com/e-book-pp-pensar-e-fazer-191003190258/85/Politicas-Publicas-na-Educacao-Brasileira-Pensar-e-Fazer-164-320.jpg)












![176Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer
Os rumos que as práticas avaliativas vêm tomando no âmbito do sistema de
ensino brasileiro, ao contrário da posição formulada anteriormente, encaminham-se
para a subordinação do trabalho dos professores e, portanto, da avaliação que
fazem, aos critérios da avaliação do sistema.
Nesse caso, não são os objetivos de ensino que irão determinar as formas
de avaliação, mas é a avaliação que acabará por determinar os objetivos,
ou seja, dependendo das finalidades postas pelos governos em relação à
avaliação do sistema de ensino, ter-se-á uma escola funcional a serviço
dos interesses de agências externas à escola. (LIBÂNEO; OLIVEIRA;
TOSCHI, 2012, p. 199).
Ao visitar as escolas é comum os professores relatarem que, em função da
avaliação, os tempos de aula das disciplinas são reduzidos pois os alunos precisam
treinar para a prova. Nesse sentido Afonso concorda com Rosales ao observar que
“o professor, de algum modo, deixa de ser dono dos seus próprios actos, perde
autonomia profissional e converte-se num instrumento de objetivos e de normas
impostas de fora para dentro” (ROSALES, 1992, apud AFONSO, 2009, p. 82).
Dessa maneira os conteúdos geográficos devem ser reduzidos devido o
cronograma escolar destinado para atividades direcionadas para elevação dos
dados quantitativos do índice da educação. Para Freitas, os objetivos e a extensão
das disciplinas nas escolas estão relacionados à avaliação quantitativa. Sob tal
perspectiva o autor questiona:
Hoje é fato visível nas escolas que a avaliação externa orienta e determina
os objetivos e a extensão das disciplinas (em especial português e
matemática, mas não menos as demais disciplinas pois que interfere nos
tempos que a escola permite dedicar a estas) (FREITAS, 2014, p.1094).
A reforma educacional em curso no país coloca em evidência um processo
simultâneo de regulação e flexibilização do trabalho docente em contraposição à
perspectiva de valorização do professor que busca criar condições para autonomia
pedagógica onde o professor deve estimular a reflexão e interpretação da realidade
e valorização da capacidade de decisão. Os professores que não exercem a
autonomia, a capacidade crítica reflexiva, não pode ensiná-las aos seus alunos, pois
ninguém ensina o que não sabe. (CACETE, 2013, p. 56).
Quanto aos dados da avaliação, esses são divulgados pelos meios de
comunicação, geralmente números classificando a melhor e a pior escola. Esses
números são utilizados pelas políticas públicas e interferem diretamente no dia a dia
da escola, no entanto pouco se discute esses dados, apenas em algumas escolas
são colocados em um cartaz próximo à entrada.
[...] os resultados dessas avaliações têm sido apropriados pelas políticas
públicas e divulgados pela mídia de tal forma que se chega a acreditar que
seus efeitos são inquestionáveis e que, ao interferirem no cotidiano
escolar e na vida das pessoas, o fazem de forma sempre benéfica,](https://image.slidesharecdn.com/e-book-pp-pensar-e-fazer-191003190258/85/Politicas-Publicas-na-Educacao-Brasileira-Pensar-e-Fazer-177-320.jpg)


![179Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer
[...] cada família transmite aos seus filhos, mais por vias indiretas que
diretas, um certo capital cultural e um certo ethos, sistema de valores
implícitos e profundamente interiorizados, que contribui para definir, entre
outras coisas, as atitudes face ao capital e à instituição escolar. A herança
cultural, que difere, sob os dois aspectos, segundo as classes sociais, é a
responsável pela diferença inicial das crianças diante da experiência
escolar e, consequentemente, pelas taxas de êxito (BOURDIEU, 2014,
p.46).
Se atentarmos para o aspecto socioeconômico e o capital cultural, sinalizados
respectivamente por Freitas (2014) e Bourdieu (2014) pode-se inferir que as
avaliações da educação em Manaus, ao primar por dados quantitativos, subestima
a qualidade do processo. Vejamos os dados da realidade em estudo.
O Sistema educacional amazonense, em 2014, era composto por 5.524
escolas, com 1.191.882 matrículas, 41.990 docentes para 50.88 turmas.
Atualmente, são 50.444 professores que compõem a Educação Básica, sendo
24.370 na rede estadual, 20.503 na municipal e 5.571 na rede particular.
(AMAZONAS, 2015, p.14).
Os dados do Sadeam podem ser acessados na página da internet vinculada
a UFJF http://www.sadeam.caedufjf.net/, lá estão disponíveis tabelas, gráficos e
apostilas para os que estão diretamente ligados ao processo de avaliação externa.
Acerca desses dados Gouveia observa que, ao leitor, passa a ideia de que o Sistema
é capaz de “produzir informações precisas sobre o desempenho escolar, as
avaliações possibilitam, por parte dos atores educacionais, a execução de ações e
estratégias voltadas a redução das desigualdades e ampliação das oportunidades
educacionais” (GOUVEIA, 2014).
Na matriz de referência de Ciências Humanas são objeto de avaliação as
habilidades que se referem a conceitos de memória e identidades; representações
cartográficas e iconográficas que permitem identificar os significados histórico-
geográficos das relações de poder; e análise dos diferentes discursos que
influenciam ações das políticas públicas, traduzindo os interesses e enfrentamentos
dos diferentes grupos sociais. (GOUVEIA, 2014).
No Diário Oficial do Estado do Amazonas de 14/12/2015, o Banco
Interamericano de Desenvolvimento – BID, empresta ao Amazonas 115.285,041,41
(cento e quinze milhões, duzentos e oitenta e cinco mil quarenta e um reais e
quarenta e um centavos) para serviços de consultoria para o Programa de Aceleração
do Desenvolvimento da Educação do Amazonas - Padeam. Tal empréstimo tem como
fim o Projeto de Expansão e aperfeiçoamento do Sistema de Avaliação de
Desempenho Educacional do Amazonas em parceria com a Universidade Federal de
Juiz de Fora/CAEd em um contrato com duração de 5 anos. Para tal finalidade a
agência executora foi a Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino –
Seduc - Am.](https://image.slidesharecdn.com/e-book-pp-pensar-e-fazer-191003190258/85/Politicas-Publicas-na-Educacao-Brasileira-Pensar-e-Fazer-180-320.jpg)


![182Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer
necessário criar um espaço para troca de experiências, para ouvir os profissionais
das mais diversas realidades. Infelizmente poucos são os momentos de encontro
dos professores para conversar e trocar experiências. O CAEd era esse espaço,
entretanto a forma como o programa foi apresentando aos professores e como foi
conduzido não gerou resultados positivos. A resistência de alguns professores e
descaso no processo são resultado da não socialização dos processos formativos,
isso gerou no meio dos professores conflito e pouco aproveitamento. Como o relato:
Os assuntos não eram irrelevantes, mas a maior parte deles não fazia
parte do nosso cotidiano, pois as avaliações externas só entravam em
nossa rotina como professor durante a aplicação. Não havia programas
pedagógicos que visassem o melhor desempenho dos alunos nessas
provas. Aliás, na minha escola nem havia pedagogo, só para constar
(professora, Seduc, 2011).
Para a maioria dos professores do concurso de 2011 o CAEd, como forma de
avaliar o estágio probatório, foi imposto de forma inadequada pois não constava no
edital. Assim, protestos nas redes sociais, ações jurídicas do sindicato dos
professores tentaram impedir a sua validade.
[...] a maneira como ele foi aplicado aos professores mostrou-se altamente
coercitiva e impositiva, deixando de lado seu valor pedagógico e formador
para dar lugar a um critério de punição àqueles que não o fizessem, já que
nos era afirmado que seríamos automaticamente exonerados se nos
negássemos a fazê-lo. (Professora, Seduc, 2016).
No mesmo período a Seduc/Semed/UEA em convênio ofereceram um curso
de Especialização em Metodologia do Ensino direcionado para a área de cada
professor. O Curso em Metodologia do Ensino de Geografia ministrado por
professores da Uea/UFAM foi oferecido aos sábados no período matutino e
vespertino.
A quantidade de alunos escritos foi de 227, entretanto apenas 164 foram
selecionados e 159 matriculados, no final apenas 89 conseguiram
concluir o curso. As disciplinas ministradas eram: Teorias da Aprendizagem
no Ensino de Geografia; Pesquisa na Formação Docente; Elementos de
Geografia Física na Educação; Elementos de Geografia Física na Educação
Básica; Elementos de Geografia Humana na Educação Básica entre outras
que estava, todas direcionadas para o ensino de Geografia. (MORAES,
2017, p, 56).
Alguns professores não concluíram a especialização pois além da carga
horária como professor do ensino básico alguns encontravam-se em estágio
probatório e faziam o Curso ministrado pelo Caed. Da especialização artigos foram
selecionados para compor dois livros que ainda estão no prelo.
Em 2013 e 2017 a Seduc realizou convênio com o CAEd/UFJF em um Curso
de mestrado profissional em Gestão e Avaliação da Gestão Pública, dissertações
foram defendidas a partir de 2015.](https://image.slidesharecdn.com/e-book-pp-pensar-e-fazer-191003190258/85/Politicas-Publicas-na-Educacao-Brasileira-Pensar-e-Fazer-183-320.jpg)

![184Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer
REFERÊNCIAS
AFONSO, Almerindo Janela. Avaliação educacional: regulação e emancipação: para
uma sociologia das políticas avaliativas contemporâneas. 4 ed. São Paulo: Cortez,
2009.
ALMEIDA, Luana Costa; DALBEN, Adilson & FREITAS, Luiz Carlos de. O Ideb: limites e
ilusões de uma política educacional. Educ. Soc. [online]. 2013, vol.34, n.125,
pp.1153-1174. ISSN 0101-7330. http://dx.doi.org/10.1590/S0101-
73302013000400008.
ALVES, Maria Tereza Gonzaga; OLIVEIRA, Lina Kátia Mesquita. A Avaliação da
Educação Básica: a experiência brasileira, Belo Horizonte, MG, Fino Traço, 2015)
AMAZONAS, Plano Estadual de Educação do Amazonas. Secretaria de Estado de
Educação e Qualidade do Ensino (SEDUC/AM), Manaus, 2015.
BOURDIEU Pierre, Escritos de educação. Maria Alice e Afrânio Catani (organizadores).
15. ed. Petrópolis-RJ: Vozes, 2014. – (Ciências Sociais da Educação).
BOURDIEU Pierre, Escritos de educação. Maria Alice e Afrânio Catani (organizadores).
15. ed.Petrópolis-RJ: Vozes, 2014. – (Ciências Sociais da Educação).
CACETE, Núria Hanglei. Reforma educacional em questão: os parâmetros
curriculares Nacionais para o ensino de Geografia e a formação de professores para
a escola básica. In: ALBUQUERQUE, Maria Adailza Martins de; FERREIRA, Joseane
Abílio de Souza. Formação, pesquisa e práticas docentes: reformas curriculares em
questão. João Pessoa: Mídia, 2013. Cap. 2. p. 47-58.
CAVALCANTI, Lana de Souza. O Ensino de Geografia na Escola. Campinas: Papirus,
2012. 208 p. (Coleção Magistério: Formação e Trabalho Pedagógico).
FREITAS, Luiz Carlos de. Os reformadores empresariais da educação e a disputa pelo
controle do processo pedagógico na escola. Educ. Soc. [online]. 2014, vol.35, n.129,
pp. 1085-1114. ISSN 0101-7330.
FREITAS, Luiz Carlos de. Os reformadores empresariais da educação e a disputa pelo
controle do processo pedagógico na escola. Educ. Soc. [online]. 2014, vol.35, n.129,
pp. 1085-1114. ISSN 0101-7330.
GOLVEIA, C. A. D’ ASSUMPÇÃO et al. O Sistema de Avaliação do Desempenho
Educacional do Amazonas – Sadeam. In: Processo de formação de profissionais da
educação pública. Guia de estudos. Vol. 1. CAEd/AMAZONAS, 2014.](https://image.slidesharecdn.com/e-book-pp-pensar-e-fazer-191003190258/85/Politicas-Publicas-na-Educacao-Brasileira-Pensar-e-Fazer-185-320.jpg)




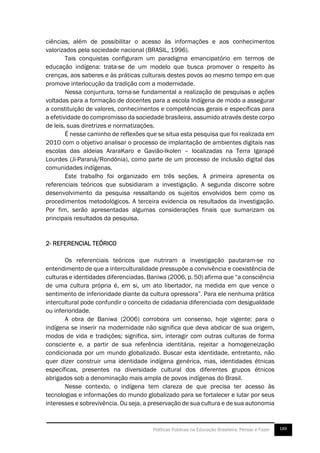
![190Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer
pressupõe o acesso ao conhecimento de forma também autônoma, contrapondo-se
a uma “conquista” manipulada, quando tal processo não se dá através de um diálogo
intercultural.
O reconhecimento de que a tecnologia tanto serve para a emancipação como
para a dominação engendrou a importância de eleger como discussão conceitual a
questão da humanização pela tecnologia, com desdobramentos em termos de
emancipação. Nesse sentido, o pensamento de Freire (1979, p.22) referenciou o
procedimento analítico quando o autor, estabelece relação entre humanização e
tecnologia:
[...] se o meu compromisso é com o homem concreto, com a causa de sua
humanização, de sua libertação, não posso por isso mesmo prescindir da
ciência, nem da tecnologia, com as quais me vou instrumentando para
melhor lutar por esta causa (FREIRE, 1979, p.22).
O autor explicita, assim, o falso dilema entre humanismo e tecnologia, isto é,
não há como negar que a humanização nos tempos atuais passa pela superação de
uma oposição equivocada à apropriação da tecnologia. E ao falar do uso das
tecnologias na educação assim se expressa:
[...] nunca fui ingênuo apreciador da tecnologia: não a divinizo, de um lado,
nem a diabolizo, de outro. Por isso mesmo sempre estive em paz para lidar
com ela. Não tenho dúvida nenhuma do enorme potencial de estímulos e
desafios à curiosidade que a tecnologia põe a serviço das crianças e
adolescentes das classes sociais chamadas desfavorecidas (FREIRE,
1979, p.87).
A propósito das TICs são pertinentes as observações de LÉVY (1999)
[...] acesso para todos sim! Mas não se deve entender por isso um acesso
ao equipamento, a simples conexão técnica que, em pouco tempo, estará
de toda forma muito barata (...) devemos antes entender um acesso de
todos os processos de inteligência coletiva, quer dizer, ao ciberespaço
como sistema aberto de autocartografia dinâmica do real, de expressão
das singularidades, de elaboração dos problemas, de confecção do laço
social pela aprendizagem recíproca, e de livre navegação nos saberes. A
perspectiva aqui traçada não incita de forma alguma a deixar o território
para perder-se no ´virtual`, nem a que um deles ´imite` o outro, mas
antes a utilizar o virtual para habitar ainda melhor o território, para tornar-
se seu cidadão por inteiro (p.196).
Nessa perspectiva, a inclusão digital é considerada como uma das formas de
combater estereótipos relacionados às comunidades indígenas e equalizar
oportunidades em uma sociedade marcada por diversas formas de exclusão das
diferentes etnias e classes sociais. Inclusão digital aqui é concebida na perspectiva
de Young (2006, p. 97) que pode ser considerada como “aprendizagem necessária
ao indivíduo para interagir no mundo das mídias digitais, podendo não apenas saber
onde encontrar a informação, mas também qualificá-la e torná-la útil para seu dia-a-](https://image.slidesharecdn.com/e-book-pp-pensar-e-fazer-191003190258/85/Politicas-Publicas-na-Educacao-Brasileira-Pensar-e-Fazer-191-320.jpg)



![194Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer
REFERÊNCIAS
BANIWA, G. S. L. O índio brasileiro: o que você precisa saber sobre os povos indígenas
no Brasil de hoje. Brasília: MEC/Secad; Museu Nacional/UFRJ, 2006.
BRASIL. Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei No. 9.394, de 20 de
dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Diário
Oficial [da] República Federativa do Brasil. Brasília, DF, 23 dez. 1996. Ano CXXXIV, n.
248.
BRASIL. Constituição Federal de 1988. Promulgada em 5 de outubro de 1988.
Disponível em:
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/legislacaoConstituicao/anexo/CF.pdf.
FREIRE, P. Educação e mudança. Tradução de Moacir Gadotti e Lillian Lopes Martin.
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979. (Coleção Educação e Comunicação, v.1).
LÉVY, P. Cibercultura. São Paulo: Editora 34, 1999.
MINAYO, M. C. de S. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 10ª
ed. São Paulo: Hucitec, 2007.
MORIN, A. Pesquisa-ação integral e sistêmica: uma antropedagogia renovada. Rio de
Janeiro: DP&A, 2004.
POPOLO, F. D.; LOPEZ, M.; ACUÑA, M. Juventude Indígena e ascendência africana na
América Latina: desigualdades sóciodemográficas e desafios. Madrid, Espanha:
Centro Latino Americano e Caribeño de demografia/División de Problación de La
Cepal, 2009. Disponível em:
www.cepal.org/celade/noticias/documentosdetrabajo/3/38523/ebook_juventud_i
ndigena_pt.pdf. Acesso em: 07 abril. 2017.
SORJ, B. Brasil@povo.com: a luta contra a desigualdade na sociedade da informação.
Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed.; UNESCO, 2003
THIOLLENT, M. Metodologia da pesquisa-ação. 6. ed. São Paulo: Cortez, 2005.
YOUNG, R. A inclusão digital e as metas do milênio. Inclusão social. v.1, n.2, p.96-99,
abr/set. 2006.
ABSTRACT: The work presents results of an investigation whose scope was to analyze
the process of implantation of digital environments in the schools of the villages
Arara-Karo and Gavião-Ikolen - located in Terra Igarapé Lourdes (Ji-Paraná /](https://image.slidesharecdn.com/e-book-pp-pensar-e-fazer-191003190258/85/Politicas-Publicas-na-Educacao-Brasileira-Pensar-e-Fazer-195-320.jpg)



















![214Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer
LACLAU, E; MOUFFE, C. 2011. Hegemonia y Estratégia Socialista. Hacia uma
radicalización de la democracia. 3ª ed. 1ª reimp. – Buenos Aires: Fondo de Cultura
Econónimca.
NÓVOA, António. 1991. A educação Nacional. In Rosas, Fernando (coord.). Portugal
e o estado novo (1930 – 1960) [ Nova História de Portugal, vol. XII]. Lisboa: Editorial
Presença, pp. 538 – 542.
OLIVEIRA. A. M. & SILVA. D. E. Alteridade X Intolerância: diretrizes curriculares que
podem embasar mais democrática e politicamente o Ensino Religioso. 2011.
Revista Teias v. 13 • n. 27 • 139-160 • jan/abr. 2011 – CURRÍCULOS:
Problematização em práticas e políticas. Disponível em:
http://periodicos.proped.pro.br/index.php/revistateias/article/viewFile/1018/830.
Acessado em 17/11/2014.
ORLANDI, Eni P. Análise de discurso: princípios e procedimentos/ 11ª edição,
Campinas, SP Pontes Editores, 2003.
SETEMY, Adriana Liga Brasileira contra o Analfabetismo. FONTES: Liga Brasileira
Contra o Analfabetismo; NOFUENTES, V. Desafio. Disponível em:
http://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/verbetes/primeira-
republica/LIGA%20BRASILEIRA%20CONTRA%20O%20ANALFABETISMO.pdf.
Acessado em: 04/08/2017.
SOUZA, João Francisco. E a Educação: Que? A educação na sociedade e/ou a
Sociedade na Educação. Edições Bagaço. Recife-PE, 2004.](https://image.slidesharecdn.com/e-book-pp-pensar-e-fazer-191003190258/85/Politicas-Publicas-na-Educacao-Brasileira-Pensar-e-Fazer-215-320.jpg)





![220Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer
A primeira frente organizacional está devidamente descrita no “Manifesto dos
Pioneiros da Educação”. Destaca-se a contemporaneidade de tal documento, onde
observa-se
Mas, subordinada a educação pública a interesses transitórios, caprichos
pessoais ou apetites de partidos, será impossível ao Estado realizar a
imensa tarefa que se propõe da formação integral das novas gerações.
(2006, p.194) [grifo nosso]
O Manifesto ainda destaca que
Não há sistema escolar cuja unidade e eficácia não estejam
constantemente ameaçadas, senão reduzidas e anuladas, quando o
Estado não soube ou não quis se acautelar contra o assalto de poderes
estranhos, capazes de impor a educação fins inteiramente contrários aos
fins gerais que assinala a natureza em suas funções biológicas. Toda a
impotência manifesta do sistema escolar atual e a insuficiência das
soluções dadas às questões de caráter educativo não provam senão o
desastre irreparável que resulta, para a educação pública, de influências
e intervenções estranhas que conseguiram sujeitá-la a seus ideais
secundários e interesses subalternos. (2006, p.194) [grifo nosso]
Nota-se que o Manifesto dos Pioneiros da Educação de 1932, combinado aos
grifos assinalados, evidenciam que a educação brasileira e suas respectivas políticas
públicas estão – com o uso do verbo no presente devido à contemporaneidade do
documento – a mercê de apetite partidários com influencias e intervenções
estranhas aos reais interesses e necessidades da educação.
A segunda frente organizacional é “(...) o atropelamento que a educação
brasileira vem sofrendo pela avalanche de propostas e de medidas legais e
paralegais” (AZANHA, 2001, p.241). A terceira frente, devidamente combinada a
segunda frente acima mencionada é apontada por Cunha que ressalta o processo
ziguezague das políticas públicas (In: FERREIRA e OLIVEIRA, 2013, p.121). Estes dois
notórios e prejudiciais movimentos combinam com a preocupação levantada por
Arelaro, quando esta aponta uma das razões pelas quais vivemos atropelos e
ziguezagues,
A “pressa” nas decisões de políticas públicas compromete esse processo
democrático – sempre mais lento – de consulta aos envolvidos. Não se
trata de defender um “basismo” inercial, em que a consulta à população
signifique um atrofiamento permanente de qualquer decisão rápida da
gestão pública, mas de se admitir que a euforia pelos planejamentos de
políticas públicas “baixados por decretos” é inócua, pois ineficaz, uma vez
que em pouco tempo esses planos caem no esquecimento. (2007, p.903)
Assim, a pressa, quarta frente organizacional, evidencia uma grande e
camuflada incoerência: atropela-se política pública por política pública em espaço
curto de tempo,](https://image.slidesharecdn.com/e-book-pp-pensar-e-fazer-191003190258/85/Politicas-Publicas-na-Educacao-Brasileira-Pensar-e-Fazer-221-320.jpg)


![223Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer
REFERÊNCIAS
ARELARO, Lisete R. G. Formulação e implementação das políticas públicas em
educação e as parcerias público-privadas: impasse democrático ou mistificação
política?. Educação e Sociedade, Campinas, vol. 28, n.100, Especial, out. 2007.
AZANHA, José Mario Pires. Planos de educação: possibilidades e limitações.
Cadernos de História e Filosofia da Educação, São Paulo, vol.4, n.6, 2001.
BALL, Stephen J. e MAINARDES, Jefferson (org). Políticas educacionais: questões e
dilemas. São Paulo: Cortez Editora, 2011.
BARROSO, João. O estado, a educação e a regulação das políticas públicas.
Educação e Sociedade, Campinas, vol. 26, n. 92, Especial, out. 2005.
BRUNO. Lúcia Emília Nuevo Barreto. Poder político e sociedade: qual sujeito, qual
objeto?. In: FERREIRA, Eliza Bartolozzi e OLIVEIRA, Dalila Andrade. Crise da escola e
políticas educativas. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2013.
CALDAS, Jefferson Wahrendorff e LOPES, Brenner (org.). Políticas Públicas: conceitos
e práticas. Belo Horizonte : SEBRAE/MG, 2008.
CASTRO, Maria Helena Guimarães de. Avaliação de políticas e programas sociais.
Caderno de Pesquisa, Núcleo de estudos de políticas públicas/NEPP, Campinas,
n.12, 1989.
CUNHA, Luiz Antonio. As políticas educacionais entre o presidencialismo imperial e o
presidencialismo de coalizão. In: FERREIRA, Eliza Bartolozzi e OLIVEIRA, Dalila
Andrade. Crise da escola e políticas educativas. Belo Horizonte: Autêntica Editora,
2013.
FREY, Klaus. Políticas públicas: um debate conceitual e reflexões referentes à prática
da análise de políticas públicas no Brasil. Planejamento e Políticas Públicas/IPEA,
[s.l.], n.21, jun. 2000.
GIOVANNI, Geroldo di. As estruturas elementares das políticas públicas. Caderno de
Pesquisa, Núcleo de estudos de políticas públicas/NEPP, Campinas, n.82, 2009.
MAINARDES, Jefferson. A abordagem do ciclo de políticas e suas contribuições para
a análise da trajetória de políticas educacionais. Atos de Pesquisa em Educação,
Blumenau, v. 1, n. 2, mai./ago. 2006.
MAINARDES, Jefferson, FERREIRA, Marcia dos Santos e TELLO, César. Análise de
políticas: fundamentos e principais debates teórico-metodológicos. In: BALL, Stephen](https://image.slidesharecdn.com/e-book-pp-pensar-e-fazer-191003190258/85/Politicas-Publicas-na-Educacao-Brasileira-Pensar-e-Fazer-224-320.jpg)









![233Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer
[...] o governo veio a adotar a maior parte da estratégia desejada pela
USAID e assumir a responsabilidade pelas propostas. A Confederação
Nacional de Educação (CNE), organizada em 1966, teve por objetivos
apontar sugestões para uma formulação do Plano Nacional de Educação
em vigor, afirmando a relação entre educação e desenvolvimento
econômico. Estas orientações eram elaboradas a partir das determinações
do “Plano Decenal de Educação da Aliança para o Progresso”. (LIRA, 2010,
69)
As transformações educacionais, principalmente no ensino superior, se
deram durante todo o período ditatorial e têm influxos na nossa contemporaneidade,
demostrando a fragilidade do rompimento com o governo militar e do processo de
reabertura democrática do país.
4- ROMPIMENTO E/OU CONTINUIDADE? UMA ANÁLISE SOBRE A EDUCAÇÃO
BRASILEIRA PÓS-ESTADO DITATORIAL
O período ditatorial que assolou a América Latina constituiu-se como divisor
de águas na compreensão histórica, política e social da sociedade latino-americana.
No Brasil não foi diferente, não há como explicarmos as nuanças advindas da
contradição capitalista, sem contextualizarmos um dos períodos mais sangrentos
vivenciados pelo povo brasileiro. Até hoje vivemos sobre os escombros, colhendo a
herança deixada pelo regime militar. Evidentemente, o sistema ditatorial, fruto da
dinâmica capitalista, não se colocou no decurso da história como um movimento
com início, meio e fim, ao contrário, sempre que necessário o capitalismo recupera
os seus traços mais sórdidos, reatualiza e efetua de modo quase imperceptível.
Prova disso é o projeto de Lei n.º 867/2015, intitulado “escola sem partido”,
criado pelo Deputado Izalci (PSDB/DF), que vem ganhando visibilidade em todo país.
A proposta é bem simples e clara: instituir a neutralidade política e ideológica dentro
dos campos de ensino.
Trata-se de um projeto extremamente conservador, com fortes traços do
período “autocrático burguês” e de legitimação do projeto burguês. Delimita a ação
política dos profissionais da educação, fortalece a ação abertamente do campo da
direita, que “afirma” prezar por uma neutralidade que, na verdade, já apresenta para
que veio e a quem serve. Pois bem, esse é apenas um dos exemplos que poderíamos
citar para demostrar os traços do período ditatorial na educação brasileira que
perduram até os dias de hoje, e que vem ganhando espaço em detrimento das
discussões sobre a educação a partir dos direitos humanos, na direção
emancipatória de superação da ordem vigente.
Assim, após a derrocada da ditadura militar no Brasil e a ascensão do
processo de reabertura democrática, o país vivenciou um contexto bastante adverso
e contraditório, revelando a face crua da contradição capitalista. A crise estrutural do
capital em curso desde os anos de 1970, chega no Brasil de modo contundente nos
anos de 1990, em meio a recente Constituição de 1988 e ao processo de reabertura
democrática.](https://image.slidesharecdn.com/e-book-pp-pensar-e-fazer-191003190258/85/Politicas-Publicas-na-Educacao-Brasileira-Pensar-e-Fazer-234-320.jpg)

![235Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer
compreende a realidade de forma fragmentada e esvaziada de sua dimensão
classista.
Tendo como consequências “uma universidade rebaixada intelectualmente e
culturalmente que atende de maneira muito eficiente aos interesses de expansão do
mercado, mas não consegue contribuir de forma significativa com a emancipação
humana por meio da educação e da produção de conhecimento”(SILVA, 2010,
p.416).
Cabe-nos ainda destacar que o processo de privatização do ensino superior,
como mencionado ainda na década de 90, é aprofundado pelo governo de Lula da
Silva, sobretudo no desmonte do modelo de universidade pública pautado no tripé
ensino-pesquisa-extensão visto de forma indissociável.
Ademais, há um aprofundamento das parcerias público-privadas por meio de
recursos fiscais injetados na esfera privada, representando conforme Silva (2010) a
privatização do ensino público, colocando no mesmo patamar as universidades
públicas e as instituições privadas, fortalecendo a ideia de uma esfera pública não
estatal e contribuindo para o aprofundamento do ideário neoliberal no Brasil.
É relevante destacar no contexto das “reformas” universitárias, com relação
às universidades públicas, um projeto apresentado pelo governo, intitulado: REUNI.
De acordo com (ANDES-SN, 2007, p. 21 apud, SILVA, 2010, p. 417):
[...] o programa tem o objetivo de criar condições para a ampliação e
permanência na educação superior, no nível de graduação, utilizando-se
do ‘melhor’ aproveitamento da estrutura física e dos recursos humanos
atualmente existentes nestas instituições.
O Programa de Apoio à Reestruturação e Expansão das Universidades
Federais – REUNI, foi instituído pelo Decreto Presidencial nº 6069/07, cujo artigo
primeiro expõe seu objetivo principal, que é “criar condições para a ampliação do
acesso e permanência na educação superior, no nível de graduação, pelo melhor
aproveitamento da estrutura física e dos recursos humanos existentes nas
universidades federais”.
Embora nos termos legais se apresente como uma proposta “inovadora”, na
realidade o que vem ocorrendo é a inviolabilidade do tripé ensino-pesquisa-extensão.
Pois, essa proposta de expansão do ensino público vem ocorrendo em condições
precárias de infraestrutura, condições de trabalho inadequadas, quadros de
docentes e técnico-administrativos insuficientes, ausência de políticas de
assistência estudantil e planos de qualificação docente, como sinaliza Silva (2010),
ocasionando um aligeiramento da formação, como também se acentua a
precarização do trabalho docente.
O decreto que criou o Grupo de Trabalho Interministerial (GTI), no primeiro ano
de mandato do governo de Lula da Silva, em 2003, permitiu as primeiras ações sobre
a educação superior. Esses grupos pautavam desde debates até o apontamento de
diretrizes que norteariam a reforma universitária, fornecendo bases para a
formulação de documentos que explicitavam a situação da educação superior acerca
da crise nas universidades federais, desde o arrocho orçamentário até a defasagem](https://image.slidesharecdn.com/e-book-pp-pensar-e-fazer-191003190258/85/Politicas-Publicas-na-Educacao-Brasileira-Pensar-e-Fazer-236-320.jpg)
![236Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer
na reposição do quadro docente; logo, o documento apontava para o enfrentamento
da crise emergencial dessas universidades.
Ao analisar os resultados obtidos, os membros do GTI concluíram que a crise
verificada na política de acesso à educação superior foi, na verdade, o
desdobramento de uma crise mais profunda associada à desarticulação do setor
público, na qual as consequências da crise fiscal do Estado resultaram em
substanciais danos às universidades governamentais, sobretudo, em relação aos
recursos humanos, de manutenção e de investimentos (BRASIL, 2003).
O REUNI tem como um de seus objetivos dobrar o número de estudantes de
graduação nas universidades federais, o “Ministério da Educação, [...] estabelece o
provimento da oferta de educação superior para, pelo menos, 30% dos jovens na
faixa etária de 18 a 24 anos, até o final da década”, elevando gradualmente a taxa
de conclusão média dos cursos de graduação para 90% (BRASIL, 2003, p.4)
Outros itens que devem ser ressaltados tratam-se da flexibilização dos
currículos, a reorganização dos cursos de graduação e a atualização de metodologias
de ensino-aprendizagem. Essas metas visam formar profissionais aptos a enfrentar
os desafios do mundo do trabalho através de uma formação sólida e crítica, de forma
a contribuir para o desvendamento da realidade social que é permeada por inúmeras
contradições.
O REUNI não preconiza a adoção de um modelo único para a graduação das
universidades federais, tendo em vista a necessidade de se respeitar a autonomia
universitária, como também as diversidades que cercam as instituições. No entanto,
conforme afirma Santos (2009), apesar de o REUNI não ter a característica
totalmente centralizada no processo de efetivação, já que abre precedentes aos
implementadores de participar na forma como ele será implementado em sua
instituição, pode-se notar grande peso do poder governamental na globalidade dos
processos decisórios.
A fim de que as metas do REUNI sejam efetivadas, é necessário que as
instituições que irão aderir ao programa elaborem um Plano de Reestruturação, de
modo a considerar as especificidades de cada universidade federal. Porém, mesmo
que as universidades, através de seus órgãos deliberativos, formulem um Plano de
Reestruturação condizente às determinações do REUNI, “elas ainda terão que
esperar o aval da Secretaria de Educação Superior (SESU), para que se inicie o
repasse de verbas que possibilitará início das atividades programadas” (SANTOS,
2009, p38).
De acordo com (SUBIRATS 2006 apud SANTOS, 2009, p.38), não basta
apenas elaborar um bom desenho no plano de ações, ou mesmo dispor dos recursos
necessários para levar a cabo a condução de uma determinada política pública ou
projeto. É fundamental garantir a predisposição dos implementadores, para que se
chegue o mais próximo possível das metas projetadas.
É importante destacar que têm ocorrido reivindicações por parte da
população acadêmica, principalmente por parte do corpo discente, no que se refere
a “democracia” deste programa, pois alegam que a burocracia interna dos fóruns](https://image.slidesharecdn.com/e-book-pp-pensar-e-fazer-191003190258/85/Politicas-Publicas-na-Educacao-Brasileira-Pensar-e-Fazer-237-320.jpg)











