Contradições e Desafios na Educação Brasileira
- 2. Contradições e Desafios na Educação Brasileira Atena Editora 2019 Willian Douglas Guilherme (Organizador)
- 3. 2019 by Atena Editora Copyright © Atena Editora Copyright do Texto © 2019 Os Autores Copyright da Edição © 2019 Atena Editora Editora Executiva: Profª Drª Antonella Carvalho de Oliveira Diagramação: Geraldo Alves Edição de Arte: Lorena Prestes Revisão: Os Autores O conteúdo dos artigos e seus dados em sua forma, correção e confiabilidade são de responsabilidade exclusiva dos autores. Permitido o download da obra e o compartilhamento desde que sejam atribuídos créditos aos autores, mas sem a possibilidade de alterá-la de nenhuma forma ou utilizá-la para fins comerciais. Conselho Editorial Ciências Humanas e Sociais Aplicadas Prof. Dr. Álvaro Augusto de Borba Barreto – Universidade Federal de Pelotas Prof. Dr. Antonio Carlos Frasson – Universidade Tecnológica Federal do Paraná Prof. Dr. Antonio Isidro-Filho – Universidade de Brasília Prof. Dr. Constantino Ribeiro de Oliveira Junior – Universidade Estadual de Ponta Grossa Profª Drª Cristina Gaio – Universidade de Lisboa Prof. Dr. Deyvison de Lima Oliveira – Universidade Federal de Rondônia Prof. Dr. Gilmei Fleck – Universidade Estadual do Oeste do Paraná Profª Drª Ivone Goulart Lopes – Istituto Internazionele delle Figlie de Maria Ausiliatrice Profª Drª Juliane Sant’Ana Bento – Universidade Federal do Rio Grande do Sul Prof. Dr. Julio Candido de Meirelles Junior – Universidade Federal Fluminense Profª Drª Lina Maria Gonçalves – Universidade Federal do Tocantins Profª Drª Natiéli Piovesan – Instituto Federal do Rio Grande do Norte Profª Drª Paola Andressa Scortegagna – Universidade Estadual de Ponta Grossa Prof. Dr. Urandi João Rodrigues Junior – Universidade Federal do Oeste do Pará Profª Drª Vanessa Bordin Viera – Universidade Federal de Campina Grande Prof. Dr. Willian Douglas Guilherme – Universidade Federal do Tocantins Ciências Agrárias e Multidisciplinar Prof. Dr. Alan Mario Zuffo – Universidade Federal de Mato Grosso do Sul Prof. Dr. Alexandre Igor Azevedo Pereira – Instituto Federal Goiano Profª Drª Daiane Garabeli Trojan – Universidade Norte do Paraná Prof. Dr. Darllan Collins da Cunha e Silva – Universidade Estadual Paulista Prof. Dr. Fábio Steiner – Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul Profª Drª Girlene Santos de Souza – Universidade Federal do Recôncavo da Bahia Prof. Dr. Jorge González Aguilera – Universidade Federal de Mato Grosso do Sul Prof. Dr. Ronilson Freitas de Souza – Universidade do Estado do Pará Prof. Dr. Valdemar Antonio Paffaro Junior – Universidade Federal de Alfenas
- 4. Ciências Biológicas e da Saúde Prof. Dr. Gianfábio Pimentel Franco – Universidade Federal de Santa Maria Prof. Dr. Benedito Rodrigues da Silva Neto – Universidade Federal de Goiás Prof.ª Dr.ª Elane Schwinden Prudêncio – Universidade Federal de Santa Catarina Prof. Dr. José Max Barbosa de Oliveira Junior – Universidade Federal do Oeste do Pará Profª Drª Natiéli Piovesan – Instituto Federal do Rio Grande do Norte Profª Drª Raissa Rachel Salustriano da Silva Matos – Universidade Federal do Maranhão Profª Drª Vanessa Lima Gonçalves – Universidade Estadual de Ponta Grossa Profª Drª Vanessa Bordin Viera – Universidade Federal de Campina Grande Ciências Exatas e da Terra e Engenharias Prof. Dr. Adélio Alcino Sampaio Castro Machado – Universidade do Porto Prof. Dr. Eloi Rufato Junior – Universidade Tecnológica Federal do Paraná Prof. Dr. Fabrício Menezes Ramos – Instituto Federal do Pará Profª Drª Natiéli Piovesan – Instituto Federal do Rio Grande do Norte Prof. Dr. Takeshy Tachizawa – Faculdade de Campo Limpo Paulista Conselho Técnico Científico Prof. Msc. Abrãao Carvalho Nogueira – Universidade Federal do Espírito Santo Prof.ª Drª Andreza Lopes – Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Acadêmico Prof. Msc. Carlos Antônio dos Santos – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro Prof.ª Msc. Jaqueline Oliveira Rezende – Universidade Federal de Uberlândia Prof. Msc. Leonardo Tullio – Universidade Estadual de Ponta Grossa Prof. Dr. Welleson Feitosa Gazel – Universidade Paulista Prof. Msc. André Flávio Gonçalves Silva – Universidade Federal do Maranhão Prof.ª Msc. Renata Luciane Polsaque Young Blood – UniSecal Prof. Msc. Daniel da Silva Miranda – Universidade Federal do Pará Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) (eDOC BRASIL, Belo Horizonte/MG) C764 Contradições e desafios na educação brasileira [recurso eletrônico] / Organizador Willian Douglas Guilherme. – Ponta Grossa, PR: Atena Editora, 2019. – (Contradições e Desafios na Educação Brasileira; v. 1) Formato: PDF Requisitos de sistema: Adobe Acrobat Reader Modo de acesso: World Wide Web Inclui bibliografia ISBN 978-85-7247-373-6 DOI 10.22533/at.ed.736190106 1. Educação e Estado – Brasil. 2. Educação – Aspectos sociais. 3. Educação – Inclusão social. I. Guilherme, Willian Douglas. II. Série. CDD 370.710981 Elaborado por Maurício Amormino Júnior | CRB6/2422 Atena Editora Ponta Grossa – Paraná - Brasil www.atenaeditora.com.br contato@atenaeditora.com.br
- 5. APRESENTAÇÃO O livro “Contradições e Desafios na Educação Brasileira” foi dividido em 4 volumes e reuniu autores de diversas instituições de ensino superior, particulares e púbicas, federais e estaduais, distribuídas em vários estados brasileiros. O objetivo desta coleção foi de reunir relatos e pesquisas que apontassem, dentro da área da Educação, pontos em comuns. Neste 1º Volume, estes pontos comuns convergiram nas temáticas “Ações afirmativas e inclusão social” e “Sustentabilidade, tecnologia e educação”, agrupando, respectivamente, na 1ª parte, 11 artigos e na 2ª, 14 artigos. A coleção é um convite a leitura. No 2º Volume, os artigos foram agrupados em torno da “Interdisciplinaridade e educação” e “Um olhar crítico sobre a educação”. No 3º Volume, continuamos com a “Interdisciplinaridade e educação” e incluímos a “Educação especial, família, práticas e identidade”. E por fim, no 4º e último Volume, reunimos os artigos em torno dos temas “Dialogando com a História da Educação Brasileira” e “Estudo de casos”, fechando a publicação. Entregamos ao leitor o livro “Contradições e Desafios na Educação Brasileira” com a intenção de cooperar com o diálogo científico e acadêmico e contribuir para a democratização do conhecimento. Boa leitura! Willian Douglas Guilherme
- 6. SUMÁRIO SUMÁRIO CAPÍTULO 1.................................................................................................................1 A ETICA TRABALHADA PELOS PCN’S E DIMINUICAO DA VIOLENCIA DENTRO DO ESPAÇO ESCOLAR Luana Nayara de Brito Ferreira Vívian da Silva Lobato DOI 10.22533/at.ed.7361901061 CAPÍTULO 2.................................................................................................................7 AS AFETIVIDADES E AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS EM ABORDAGENS SOBRE TRANSGÊNICOS EM REVISTAS NACIONAIS DA ÁREA DE ENSINO E NAS ULTIMAS CINCO EDIÇÕES DO ENPEC Karla de Oliveira Munarin Sérgio Choiti Yamazaki Regiani Magalhães de Oliveira Yamazaki DOI 10.22533/at.ed.7361901062 CAPÍTULO 3...............................................................................................................23 CARTOGRAFIA DE GRUPOS DE PESQUISA SOBRE ARTE, PEDAGOGIA E MEDIAÇÃO: QUEM SOMOS? QUANTOS SOMOS? E ONDE ESTAMOS? Fabiana Souto Lima Vidal Ana Paula Abrahamian de Souza Daniel Bruno Momoli DOI 10.22533/at.ed.7361901063 CAPÍTULO 4...............................................................................................................34 DISCRIMINAÇÃO RACIAL NOS DISCURSOS DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL Ketno Lucas Santiago Ana Paula Vieira e Souza DOI 10.22533/at.ed.7361901064 CAPÍTULO 5...............................................................................................................44 DISCURSOS DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ACERCA DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS: ENTRE PRÁTICAS E DESAFIOS Marcos Vinicius Sousa de Oliveira Deidiane Costa Guimarães Ana Paula Vieira e Souza DOI 10.22533/at.ed.7361901065 CAPÍTULO 6...............................................................................................................51 EDUCAÇÃO ESCOLAR, MOVIMENTO E PROFESSORES INDÍGENAS NA AMAZÔNIA: DIMENSÕES DA LUTA PELO RECONHECIMENTO DA DIVERSIDADE E DA DIFERENÇA DE POVOS EXISTENTES NO BRASIL Fernando Roque Fernandes DOI 10.22533/at.ed.7361901066
- 7. SUMÁRIO CAPÍTULO 7...............................................................................................................65 EDUCAÇÃO INCLUSIVA E FORMAÇÃO INICIAL: REFLEXÕES ACERCA DA EXPERIÊNCIA EM UM PROJETO INTERDISCIPLINAR Debora Brito Lima Railda da Silva Santos Dhessia da Silva Lima Amélia Maria Araújo Mesquita Brenda Aryanne Damasceno Monteiro Jakson Brito Lima DOI 10.22533/at.ed.7361901067 CAPÍTULO 8...............................................................................................................71 EDUCAÇÃO INDÍGENA: A IDEOLOGIA DO ÍNDIO NO LIVRO DIDÁTICO EM UMA ESCOLA INDÍGENA DA REDE PÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA Rízia Maria Gomes Furtado Alex Arlen da Silva Oliveira DOI 10.22533/at.ed.7361901068 CAPÍTULO 9...............................................................................................................87 A (IN) EXISTÊNCIA DE UM PROJETO EDUCACIONAL PARA OS NEGROS QUILOMBOLAS NO PARANÁ: DO IMPÉRIO A REPÚBLICA Lucia Mara de Lima Padilha DOI 10.22533/at.ed.7361901069 CAPÍTULO 10...........................................................................................................102 O EMPODERAMENTO DA MULHER À PROFISSÃO DE MOTOTAXISTA NO MUNICIPIO DE ABAETETUBA/PA Davi Corrêa Gomes Tatiane do Socorro Correa Teixeira DOI 10.22533/at.ed.73619010610 CAPÍTULO 11...........................................................................................................108 REVISÃOSISTEMÁTICAEMANAISDEEVENTOSSOBREATEMÁTICAEDUCAÇÃO SEXUAL E SEXUALIDADE Caroline Alfieri Massan Priscila Caroza Frasson Costa DOI 10.22533/at.ed.73619010611 CAPÍTULO 12...........................................................................................................121 A MITOPOÉTICA CULTURAL AMAZÔNICA COMO ELEMENTO EDUCATIVO SOCIALIZADOR Riceli da Natividade Silva Jefferson da Silva Alves Luiz Carlos de Carvalho Dias DOI 10.22533/at.ed.73619010612 CAPÍTULO 13...........................................................................................................133 COMO ALINHAR UMA FERRAMENTA DE GAMIFICAÇÃO EM UM CURSO DE COMPUTAÇÃO NO ENSINO SUPERIOR? Rodrigo Alves Costa
- 8. SUMÁRIO André Luiz Henriques Bernardo Ingrid Morgane Medeiros de Lucena DOI 10.22533/at.ed.73619010613 CAPÍTULO 14...........................................................................................................139 CRIAÇÃO DE INSTRUMENTO PARA AVALIAÇÃO DA ALFABETIZAÇÃO COMPUTACIONAL: VALIDAÇÃO COM O GRUPO FOCAL Williane Rodrigues de Almeida Silva Edmir Parada Vasques Prado DOI 10.22533/at.ed.73619010614 CAPÍTULO 15...........................................................................................................151 DO CORAÇÃO DA TERRA: MANUFATURA DE TINTAS ARTESANAIS COM TERRAS JUAZEIRENSES Ana Emidia Sousa Rocha Luiz Maurício Barretto Alfaya DOI 10.22533/at.ed.73619010615 CAPÍTULO 16...........................................................................................................165 EDUCAÇÃO DIGITAL E SUAS INTERFACES: DISCUTINDO CONCEITOS E PROCESSOS A PARTIR DE AÇÕES LOCAIS E POLÍTICAS PÚBLICAS Nadja da Nóbrega Rodrigues, Mércia Rejane Rangel Batista DOI 10.22533/at.ed.73619010616 CAPÍTULO 17...........................................................................................................181 EDUCAÇÃO, MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE Tânia Maria Figueiredo Barreto Freitas DOI 10.22533/at.ed.73619010617 CAPÍTULO 18...........................................................................................................187 GESTÃO DA ESCOLA PÚBLICA E UTILIZAÇÃO DE TICS POR PROFESSORES DE EDUCAÇÃO BÁSICA Artur Pires de Camargos Júnior DOI 10.22533/at.ed.73619010618 CAPÍTULO 19...........................................................................................................193 O LETRAMENTO DIGITAL E A INCLUSÃO DIGITAL NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (EAD): UM ESTUDO DE CASO COM DISCENTES DO CURSO DE BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Ana Paula da Silva Maria do Carmo Maracajá Alves Alessandra Carla Ceolin Alexandre de Melo Abicht DOI 10.22533/at.ed.73619010619 CAPÍTULO 20...........................................................................................................207 O MANEJO FLORESTAL SUSTENTÁVEL NA BOCA DAS MULHERES Jamylle de Souza Oliveira
- 9. SUMÁRIO Maria Inês Gasparetto Higuchi Niro Higuchi DOI 10.22533/at.ed.73619010620 CAPÍTULO 21...........................................................................................................219 O NOVO CÓDIGO FLORESTAL (LEI 12.651/2012): BREVES APONTAMENTOS SOBRE SUAS IMPLICAÇÕES JURÍDICAS E RESPECTIVOS REFLEXOS SOBRE A BIODIVERSIDADE Fernando Martinez Hungaro DOI 10.22533/at.ed.73619010621 CAPÍTULO 22...........................................................................................................229 O TRABALHO PEDAGÓGICO DE PROFESSORES NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM MEDIADO PELAS TIC: ARTICULAÇÕES E RUPTURAS Cinthya Maduro de Lima Dinair Leal da Hora DOI 10.22533/at.ed.73619010622 CAPÍTULO 23...........................................................................................................238 PROCESSOS CRIATIVOS DE ENSINO DE DESENHO EM ESPAÇOS VIRTUAIS Leda Maria de Barros Guimarães Maria de Fatima França Rosa Hélia Barbosa DOI 10.22533/at.ed.73619010623 CAPÍTULO 24...........................................................................................................249 QUALIFICAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DO LIXO DA PRAIA DO MOA Carlos Henrique Profírio Marques DOI 10.22533/at.ed.73619010624 CAPÍTULO 25...........................................................................................................255 RESIDÊNCIA AGRÁRIA JOVEM: UMA PROPOSTA DE FORMAÇÃO QUE INTEGRA PESQUISA, PRÁTICA E ENSINO Juliany Serra Miranda Denival de Lira Gonçalves DOI 10.22533/at.ed.73619010625 SOBRE O ORGANIZADOR......................................................................................263
- 10. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 1 1 CAPÍTULO 1 doi A ETICA TRABALHADA PELOS PCN’S E DIMINUICAO DA VIOLENCIA DENTRO DO ESPAÇO ESCOLAR Luana Nayara de Brito Ferreira Universidade Federal do Pará/UFPA Abaetetuba-Pará Vívian da Silva Lobato Universidade Federal do Pará/UFPA Belém-Pará RESUMO: O presente trabalho originou-se de uma pesquisa realizada, tendo em vista a ética no ensino fundamental, no município de Abaetetuba, no estado do Pará. Apesquisa teve como objetivo, discutir a ética na perspectiva de um tema transversal no (PCN’S), analisando de que forma vem sendo trabalhada no cotidiano das escolas, possibilitando assim, abrir espaços para outros debates necessários, como a violência escolar. A incidência da violência também está ligada à indisciplina dos alunos e tal comportamento é gerado por uma série de fatores. A metodologia do estudo ancorou- se na pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo. Através dos resultados da pesquisa foi possível compreender que o tema ética, tem sido pouco abordado nas escolas públicas, deixando de lado o contexto social, além, pouco conhecimento dos valores e reflexão dos princípios da ética na educação. PALAVRAS-CHAVE: Ética. Violência. Educação. ABSTRACT: The present study was based on a research carried out, in view of the ethics in elementary education, in the municipality of Abaetetuba, in the state of Pará. The objective of this research was to discuss ethics in the perspective of a transversal theme in (PCN'S) analyzing how it has been worked on in the daily life of schools, thus opening spaces for other necessarydebates,suchasschoolviolence.The incidence of violence is also linked to students' indiscipline and such behavior is generated by a number of factors. The methodology of the study was anchored in bibliographic research and field research. Through the results of the research it was possible to understand that the ethical theme has been little approached in public schools, leaving aside the social context, besides, little knowledge of the values and reflection of the principles of ethics in education. KEYWORDS: Ethics. Violence. Education. INTRODUÇÃO A Ética aponta uma das necessidades que a escola, principalmente os docentes e alunos, tenham como referência os temas transversais nos conteúdos curriculares, que acompanha toda a nossa formação cotidiana e educacional. Dessa forma, o presente resumo expandido trabalhará algumas questões como: o ambiente
- 11. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 1 2 escolar e a relação social, escola e família, e também apresentando respectivas reflexões sobre ética e as variadas manifestações da violência escolar, decorrente ao cotidiano social dos alunos e o que interfere no espaço escolar. As discussão e os debate sobre os desafios destas políticas, resultou a Lei n 9.394/96,queinstituiasDiretrizeseBasesdaEducaçãoNacional-LDBNeapartirdela,a concepção de Parâmetros Curriculares Nacionais PCN’s, cujos conteúdos curriculares, além das áreas de conhecimento tradicional, privilegiaram Temas Transversais, entre eles a ética. Por causa de minhas inquietações, o tema em questão transformou- se em meu objeto de pesquisa no presente trabalho, na qual contextualizo, visando considerar uma dimensão de grande relevância para a formação do sujeito. Na escola, assim como em outras instituições socializadoras, princípios e valores são pautados por regras formais e informais. Tais medidas, para que possam surtir o efeito desejado, devem ser amplamente conhecidas, o que, entretanto, não assegura, por si só, que sejam respeitadas e cumpridas (ABRAMOVAY et al, 2009, p. 37). O trabalho apresenta alguns resultados obtidos através da pesquisa de campo e das observações, realizada a respeito dos PCN´s nos currículos das escolas do ensino fundamental, e como a ética vem sendo trabalhado nas escolas, com o propósito de compreender de que forma as escolas a partir dessa abordagem trabalham para a diminuição da violência escolar, que vem crescendo muito nas escolas, com análise e narrativas feitas sobre os documentos do tema proposto, trechos de conversas informais com profissionais dessas escolas. O tema ética, tem sido pouco abordados nas escolas públicas e quando é abordada as escolas são conveniadas, ou então de forma referente menos complexa, embora os currículo com as disciplinas formais ainda prevalecem como a principal visão educacional, professores e escolas sobrecarregadas pouca a participação da família e comunidade, surgindo várias problemáticas entre elas a indisciplina que ocasiona e levam a violência escolar, deixando com que o aluno não desenvolva a sua autonomia nas bases iniciais, sejam indivíduos menos crítico, acomodando-se para as problemáticas do futuro posterior. REVISÃO DE LITERATURA A Ética e Atividade Pedagógica no Ensino Fundamental A cidadania deve ser compreendia como produto de história vivida pelos grupos sociais, sendo, nesse processo, constituída por diferentes tipos de direitos e deveres a serem seguidos. A abordagem desse trabalho dará um olhar para educação escolar diante da preocupação que envolva a ética introduzida como uns dos temas transversais dos PCN’S que oriente no currículo escolar dando suporte, e como se dá essa prática, também mostrará alguns trabalhos com PCN’s em algumas escolas do
- 12. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 1 3 município, pois se refletirá para a formação de indivíduos, tendo algumas preventivas para o conflito da violência escola. Nessa perspectiva esse estudo tem em vista os ensinos fundamentais de 1 a 5 ano. Segundo o MEC (BRASIL, 2001, p. 36), os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental. Constituem o primeiro nível de concretização curricular. É uma referência nacional para o ensino fundamental; estabelecem uma meta educacional para o ensino fundamental a qual devem convergir às ações políticas do Ministério da Educação e do Desporto, tais como os projetos ligados à sua competência na formação inicial e continuada de professores, à análise e compra de livros e outros materiais didáticos e à avaliação nacional. (PARÂMETROS..., 1997, p.73, apud, GONÇALVES, Helenice Maia, 2007, p.62). RESULTADOS E DISCUSSÕES DA PESQUISA A RESPEITO DOS PCN`S ÉTICA E VIOLENCIA ESCOLAR, E A IMPORTANCIA PARA AS ESCOLAS Este tópico objetiva apresentar resultados das observações feitas para a abordagem do tema e estudo do TCC a respeito dos PCN´s nos currículos fundamentais das escolas do município de Abaetetuba, e como os PCN´s, em especial o tema ética vem sendo trabalhado nas escolas, e qual a importância dela para abordagem e discussões a respeito da violência escolar que estão crescendo muito nas escolas. Analisando com detalhes feitos sobre os: trechos de conversas com profissionais educacionais, que tal conceito pode nos revelar uma concepção e finalidade a respeito do objeto de investigação em questão. Nesse sentindo meu interesse em investigar nessas duas escolas de ensino fundamental, que se situavam no mesmo bairro da Aviação, na cidade de Abaetetuba- PA, próximas uma da outra. Como menciono, as escolas pesquisadas com resultados aqui, são duas como iremos destacar nas observações feitas, dessa forma irá destacar e observar como depoimentos ou conversas informais a seguir, cujos participantes da pesquisa, a partir de então, serão representados da seguinte forma: Escola (A1), Escola (A2), P (professor); D (direto); C.P (coordenadores pedagógicos). No dia 06 de outubro de 2016, visitei a primeira Escola A1, na qual eu fui bem recebida pela diretora da escola e a mesma me confirmou que a escola trabalha sim os PCN`s, juntamente com o tema ética, assim como, os demais temas transversais na escola. A escola e ensino fundamental de 1ª ao 5ª ano, sendo que 1ª ao 3ª turno da manhã e outras turmas dos 3 ª ao 5ª a tarde. Observei que muitos deles me relatam quase a mesma coisa com relação a problemática violência e indisciplina nas escolas que fui pesquisar: A indisciplina dos alunos, participação juntos dos professores e coordenadores na hora pedagógica, ou em algum trabalho para escola, a participação e problemas
- 13. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 1 4 familiares, e comunidade local que se encontra muito ausente na vida escolar do aluno e com a escola, questão econômica e estrutura física do espaço que torna um ambiente desagradável para se trabalhar e estudar” (Coordenadores, diretores, 2016). Dentro do planejamento observo as atividades que são permanentes no currículo, ou seja, é aquele conteúdo que chega só para determinada disciplina para poder trabalhar, no entanto de acordo com que está desenvolvendo dentro da atividade na sala de aula, exemplo o tema a respeito da família, os assuntos como esses que vão sendo inseridos como interdisciplinar na questão de valores, princípios com a finalidade de se abordar algo para o desenvolvimento educativo e social na criança e por ser uma escola que é voltada na disciplina, no respeito tendo essa preocupação desde cedo na construção ética do indivíduo. A importância de trabalhar o PCN´s abriu mais essa discursão e que já vem há um bom tempo, e tem muitos professores que nem se dão conta, muitos pensam que é algo novo e na realidade não é, pois os PCN´s estão há certo tempo já inserido no MEC, mais temos que ter a leitura deles, ter conhecimentos, tem quer ler todos os parâmetros. (P2, 2016). Nos dias 25 e 26 de outubro de 2016, direcionei-me a Escola A2, na qual fui bem recebida pela diretora da escola junto com Coordenador Pedagógico (CP), a mesma me confirmou que a escola trabalha sim os PCN`s o tema ética assim como os demais temas transversais na escola. Esta escola trabalha com o Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano, sendo que, do 1º ao 3º ano, pelo período da manhã e outras turmas do 4º ao 5º ano no período da tarde. Dessa maneira, ao chegar procuro saber um pouco sobre a escola o trabalho, o histórico que foi fundada a mais de 22 anos pela Assembleia de Deus e umas das formas e finalidade de trabalhar para que houvesse uma visão crista de trabalhar valores éticos e também moral, que viesse trazer para comunidade o trabalho não só pra as crianças, mais também o trabalho com as famílias. Já ocorreu na escola alguns anos atrás alguns problemas com cotidiano do aluno da família, na qual o aluno reproduzia na sala de aula, segundo a fala do CP2: Já aconteceu, no momento não temos mais tanto a questão da violência, algumas situações de problemas de violência que já passamos aqui na escola, de aluno 4 ano assediado lá fora, e refletiu aqui na escola, dificuldade com a professora, indisciplina, sobre as regras e normas da escola, de brigar com outros alunos, e tivemos um trabalho intenso com a família, mãe soleira com vários outros filhos, morava de favor, pois não terminamos de trabalhar com esse aluno até o momento que ele foi transferido por questão da mãe não ter condições de criar esse filho transferido a guarda para avó (CP2 2016). CONSIDERAÇÕES FINAIS Das escolas municipais de ensino fundamental da cidade de Abaetetuba, poucas
- 14. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 1 5 trabalham com os PCN´s e menos ainda com o tema ética. Entendo ser relevante ampliar o número de escolas da cidade de Abaetetuba que trabalhem com o tema da Ética, pelos PCN’s, tal iniciativa ajudaria na diminuição das situações de violência nas escolas que vêm crescendo. O trabalho com os PCN’s também ajudaria na discussão sobre demais temas sociais, abrindo pautas de metodologias novas para projetos nas escolas que estabeleça uma ligação como as disciplinas formais de forma interdisciplinar, para trabalhar a ética e os valores no Ensino Fundamental, como o princípio de valores éticos e morais trabalhando nos currículos, como atividades inseridas no cotidiano do aluno. REFERÊNCIAS BAUMAN, Zymunt, 1925 – Identidade: entrevista a Benetto Vecchi /Zygmunt Bauman, tradução, Carlos Albert Medeiros. _ Rio de Janeiro: Zahar, 2005. LOBATO, Vivian da Silva. Violência e indisciplina no contexto escolar: percepções de professores. A Pesquisa no Baixo Tocantins: Resultados de Pesquisa/ Lina Gláucia Dantas Elias... [et al], (Orgs.). São Paulo: Editora Livraria da Física, 2015. LOBATO, Vivian da Silva; SOUSA, Irleide Marques de; SANTOS, Juliana Gonçalves dos. Percepções de professores sobre violência: um estudo em uma escola ribeirinha. A Pesquisa no Baixo Tocantins: Resultados de Pesquisa/ Lina Gláucia Dantas Elias... [et al], (Orgs.). São Paulo: Editora Livraria da Física, 2015. RIOS, Terezinha A. Ética e competência. 6 Ed São Paulo Cortez 1997. SARMENTO, Hélder B. M. Violência e ética no cotidiano das escolas. / Hélder Boska de Moraes Sarmento (Org.); Carlos Jorge Paixão; Cely do Socorro Costa Nunes. – Belém: Unama, 2009. ABRAMOVAY, Miriam, Coord. Conversando sobre violência e convivência nas escolas. / Miriam Abramovay. Rio de Janeiro: FLACSO - Brasil, OEI, MEC, 2012. 83 p. Disponivel em:http://cdnbi. tvescola.org.br/resources/VMSResources/contents/document/publicatio ns/1449252746513.pdf. Acesso em: 20/10/2016 ABRAMOVAY, Miriam; CUNHA, Anna Lúcia; CALAF, Priscila Pinto. Revelando tramas, descobrindo segredos: violência e convivência nas escolas. Brasília: Rede de Informação Tecnológica Latino-americana - RITLA, Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF, 2009. 496 p. Bibliografia:p.469-495:http://www.abglt.org.br/docs/Revelando_Tramas.pdf. Acesso em:15/10/2016 BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: apresentação dos temas transversais, ética / Secretaria de Educação Fundamental. – Brasília: MEC/SEF, 1997. 146p. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro082.pdf. Acesso em: 16/07/2016 GOMES, Tatiana. A ética como tema transversal nos parâmetros curriculares nacionais: a questão da autonomia. Piracicaba, SP 2010. Disponívelhttps://www.unimep.br/phpg/bibdig/pdfs/ docs/11032011_160910_dissertaca otatiana.pdf. Acesso em: 18/07/2016 GONÇALVES, Helenice Maia. Os professores e o tema transversal ética. Revista de Educação PUC-Campinas, Campinas, n. 22, p. 57-66, junho 2007. Disponívelem:http://periodicos.puccampinas.
- 15. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 1 6 edu.br/seer/index.php/reveducacao/article/ view/193. Acesso em:13/09/2016. CAMILA, Marque R. R. 1 CARITA Barbosa O. G. GUEDES Frederico B. D. GEIZA Patrícia S. F. CRISTINA V. A. FRANCISCO V.2 O Diálogo e a Ética contra a Violência Escolar. Revista de psicologia. Disponível em: LINK. https://blog.newtonpaiva.br pdf-e3-59 Acesso em: 13/03/2015.
- 16. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 2 7 AS AFETIVIDADES E AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS EM ABORDAGENS SOBRE TRANSGÊNICOS EM REVISTAS NACIONAIS DA ÁREA DE ENSINO E NAS ULTIMAS CINCO EDIÇÕES DO ENPEC CAPÍTULO 2 doi Karla de Oliveira Munarin karlaolimunarin@gmail.com Mestranda do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação Científica e Matemática, Mestrado Profissional da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul – UEMS Dourados – MS Sérgio Choiti Yamazaki sergioyamazaki@gmail.br Professor da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul – UEMS Dourados – MS Regiani Magalhães de Oliveira Yamazaki regianibio@gmail.com Professora da Universidade Federal da Grande Dourados – UFGD – e da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul – UEMS Dourados – MS RESUMO: No último século, vivenciamos um crescente avanço científico e tecnológico em várias áreas do conhecimento. Esses avanços acabam por influenciar fortemente a vida cotidiana de muitos indivíduos, que passam a incorporá-los de forma irrefletida. Contudo, nem sempre as inovações podem ser consideradas avanços reais, devido às complexidades que as envolvem. Neste sentido, um tema que chama a atenção refere-se ao termo transgênico em função de sua divulgação pelas diversas mídias e da falta de discussão que permita sua compreensão por meio de distintos pontos de vista. Neste cenário, esta pesquisa tem o objetivo de levantar as pesquisas publicadas em periódicos da área de Ensino e nas ultimas cinco edições do ENPEC que abordam as questões subjetivas dos sujeitos com ênfase na afetividade e nas representações sociais para o processo de ensino e aprendizagem dos transgênicos tendo em vista uma aprendizagem cognitiva duradoura. PALAVRAS-CHAVE: Transgênicos, Subjetividade, Afetividade, Levantamento Bibliográfico, Representações Sociais. ABSTRACT: In the last century, we have experienced a growing scientific and technological advance in several areas of knowledge. These advances end up influencing strongly the daily life of many individuals, who begin to incorporate them in an unreflective way. However, innovations may not always be considered real advances because of the complexities that surround them. In this sense, a topic that calls attention refers to the term transgenic in function of its dissemination by the various media and the lack of discussion that allows its understanding through different points of view. In this scenario, this research has the objective of raising the researches published in periodicals of the Teaching area and in the last
- 17. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 2 8 five editions of the ENPEC that address the subjective questions of the subjects with emphasis in the affectivity and social representations for the process of teaching and learning of the transgenics having cognitive learning. KEYWORDS: Transgenic, Subjectivity, Affectivity, Bibliographic Survey, Social Representations. 1 | INTRODUÇÃO Este artigo trata-se de uma extensão de um trabalho apresentado no VI Simpósio Nacional de Ensino de Ciência e Tecnologia. Neste, foram incluídos dados novos da pesquisa além de citações que não foram mencionadas, resultado do amadurecimento e do processo de reflexão dos autores Atualmente é notório o extraordinário avanço científico e tecnológico que se vive no mundo em meio a crises ambientais, culturais e socioeconômicas. Essas transformações tecnológicas pedem um novo posicionamento com relação ao que é aprendido, portanto a escola não pode ficar alheia a este cenário, ao contrário, ela deve ser um ambiente propício para atender as demandas atuais da sociedade. Neste sentido as biotecnologias sempre tiveram um papel importante para a sociedade. Elas objetivam o desenvolvimento econômico, o progresso na agricultura, a melhoria dos tratamentos de saúde, sendo uma opção rentável para discussões em salas de aulas na formação de sujeitos críticos, reflexivos e atuantes na sociedade em que vivem (SOUZA et al., 2013). Além disso, os avanços e controvérsias sobre as biotecnologias têm sido grandes e geraram discussões em vários contextos sociais, influenciando ideias e práticas sobre alimentos, medicamentos, setores industriais e de produção de energia (MARCELINO; MARQUES, 2018). Segundo Marcelino e Marques (2018), todo esse avanço, que tem interferido em questões de natureza social, científica e tecnológica, não parece ter sido incorporado pela população de acordo com as condicionantes sociocientíficas às quais elas se referem. A dificuldade de compreensão deste tema leva à problematização dos objetivos e do ensino efetivamente empregado nas escolas do país. A escola seria o lugar ideal para se iniciar as discussões no entorno de dilemas que envolvem este tema, auxiliando tomadas de posições e de percepções. Afinal, As biotecnologias se configuram como um assunto que se mostra demasiadamente complexoparaserdecididoapenasporalgunsgruposdepessoas,emdeterminadas posições de poder, devendo ser submetido ao debate social amplo, em sentido democrático. (MARCELINO; MARQUES, 2018, p.3) Um dos produtos da biotecnologia são os transgênicos, e sua abordagem tem ocorrido de forma significativa na agricultura. Segundo Siqueira e Trannin (2005) o plantio comercial de alimentos transgênicos, ou seja, a área ocupada por estes
- 18. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 2 9 organismos aumentou de 1,7 milhão de hectares no ano de 1996, para 67,7 milhões de hectares em 2003. Algumas mídias, jornais e revistas, têm se posicionado de maneira polêmica em relação aos benefícios e malefícios dos alimentos transgênicos na alimentação humana. Um dos argumentos que está sempre presente para defender o consumo de alimentos transgênicos é que este é importante para combater à fome no mundo. Porém, Nodari e Guerra (2000) justificam que esse argumento das plantas transgênicas para a agricultura brasileira é uma falsa questão. Para esses pesquisadores, o que tem ocorrido é que seis milhões de pequenos agricultores familiares, responsáveis por produzirem alimentos orgânicos que chegam à mesa dos brasileiros, não tem recebido amparo de políticas públicas voltadas à agricultura capaz de promover a sustentabilidade e a rentabilidade de suas atividades. Os alimentos transgênicos, é um tema que levanta muitas controvérsias devido à ausência de consenso entre pesquisadores e cientistas sobre seus impactos ao meio ambiente e à saúde humana devido ao seu consumo (BARBOSA et al., 2013). Esses temas são muito importantes para a vida dos sujeitos, devendo ser abordados nos ambientes de ensino de modo frutífero. Nodari e Guerra (2000) apontam que não é necessário superar a necessidade de classificar uma tecnologia como boa ou má, pois o que é de fato importante para a sociedade é conhecer e controlar as implicações dessas tecnologias e seus possíveis impactos na sociedade, no meio ambiente e na saúde. Neste sentido, Souza (2016) afirma a necessidade dos transgênicos serem discutidos e debatidos com toda a sociedade, sendo de fundamental importância a compreensão do mesmo, pois a maioria das pessoas parece conhecer o significado de alimentos transgênicos e acredita que estes geram prejuízos à saúde, mas não possui argumentos para sustentar suas opiniões. Rocha e Slonski apontam, No que se refere a temas controversos científicos e tecnológicos, como a transgenia, a mídia é caracterizada como um obstáculo para a criticidade e a formação cidadã dos alunos na escola e na sociedade. A polarização e a valoração dos conhecimentos, não possibilitam o diálogo problematizador entre o senso comum e os conhecimentos científicos. O resultado é perigoso e contraditório à democratização da ciência, pois pode significar o exercício vazio e mecânico do discurso da ciência na escola, legitimando uma tecnocracia escolar (ROCHA; SLONSKI, 2016, p.88). Mas para efetiva aprendizagem, no sentido de formar sujeitos em uma perspectiva epistemológica crítica, auxiliando os estudantes na reformação de suas próprias opiniões, a escola deveria provocar o desencadeamento do processo de construção do conhecimento. Nesse âmbito, as instituições de ensino precisam ter clara a concepção de conhecimento e a compreensão dos processos de aprendizagem que possibilitam a produção de novos saberes (LEPSCH, 2015).
- 19. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 2 10 Segundo Yamazaki e colaboradores, As pesquisas em ensino de ciências e matemática sustentadas pelas vertentes psicanalíticas que se iniciaram no Brasil na década de 1990 foram bastante frutíferas ao fornecerem interpretações de fenômenos que ocorreram em sala de aula que até então poderiam ser considerados como externos ao contexto do ensino, sendo atribuídos a problemas individuais ou inerentes à própria condição cultural e social na qual o sujeito está inserido (YAMAZAKI; YAMAZAKI; ZANON, 2013, p.33) O conhecimento, portanto, não deve ser entendido como exterior ao sujeito. Os autores supracitados ainda citam várias pesquisas que se utilizam das linhas psicanalíticas para compreender os processos de ensino apontando que o entendimento da dinâmica que move os afetos é necessário quando o objetivo é analisar e proporcionar as mudanças cognitivas em toda sua completude. No mesmo sentido, Cacheffo e Garms (2011) afirmam que a afetividade no desenvolvimento humano tem relação direta com a cognição e a capacidade de afetar positivamente ou negativamente o processo de ensino e aprendizagem. Estes resultados nos levaram a refletir sobre o ensino de nosso objeto de pesquisa: os transgênicos. Nossa questão pode ser enunciada como: o que a literatura tem publicado a respeito do ensino de transgênicos faz referência à dimensão subjetiva/ afetiva envolvida no processo? Para responder a esta pergunta, avaliamos revistas A1 e A2 conforme classificação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e as últimas cinco edições do ENPEC. No próximo item fazemos referência a outras pesquisas que indicam as subjetividades como importante elemento a ser considerado no processo de ensino e aprendizagem. 1.1 Afetividade e Representações Sociais no processo de ensino-aprendizagem Compreendemos que os fenômenos afetivos estão relacionados a experiências subjetivas, e que a afetividade é a capacidade que os indivíduos têm de serem positiva ou negativamente afetados, com maior ou menor intensidade, por uma dada situação, de forma que cada um deles estabelece um tipo de relação afetiva com essa situação e lhe atribui sentido particular, ou seja, os fenômenos afetivos referem-se a experiências subjetivas, que revelam a forma como cada sujeito se comporta (PEREIRA; ABIB, 2016). Entendemos que aspectos afetivos influenciam fortemente as retomadas que fazemos pela memória e, consequentemente, aquilo que aprendemos. De acordo com a versão eletrônica do Dicionário Houaiss da língua portuguesa, na rubrica de psicologia, afetividade significa o “conjunto de fenômenos psíquicos que são experimentados e vivenciados na forma de emoções e de sentimentos”. (PEREIRA; ABIB, 2016, p.860) Lepsch (2015) em seu trabalho “A importância da afetividade na relação ensino- aprendizagem”, salienta que o desenvolvimento de vínculos afetivos é necessário e
- 20. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 2 11 fundamental para que o indivíduo possa se apropriar do mundo simbólico e assim ampliar sua capacidade cognitiva. Diante dos pressupostos teóricos expostos, reafirma-se a importância da afetividade não só na relação professor-aluno, mas também como estratégia pedagógica. O professor afetivo com seus alunos (aqui com o sentido de atencioso), estabelece uma relação de segurança, evita bloqueios afetivos e cognitivos, favorece o trabalho e ajuda o educando a superar erros e a aprender com eles. Assim, se o professor for afetivo com seus alunos, a criança aprenderá a sê-lo. (LEPSCH, 2015, p.26) A relação entre o professor e o aluno em sala de aula, por meio da afetividade, vai além de uma relação pedagógica. O professor desperta no aluno o interesse que transpassa as dimensões cognitivas e afetivas por meio de seu envolvimento com cada um deles (REIS et al., 2012, p.348). Portanto o professor, segundo o mesmo autor, deve estabelecer diálogos com os alunos com a finalidade de formar vínculos de confiança mútua, e por meio da afetividade, poder atingir a motivação do aluno que aprende. Segundo Piaget, não existem estruturas cognitivas a priori, existem estruturas biológicas. Ele acredita que os conhecimentos não são provenientes apenas do sujeito ou apenas do objeto, mas de sua interação construtiva, assumindo uma posição intermediária entre o racionalismo e o empirismo. Para ele o conhecimento é um processo dinâmico e evolutivo em que o sujeito constrói ativamente os seus conhecimentos (LEGENDRE, 2013). O fator chave para o desenvolvimento de acordo com Piaget é o processo de equilibração que se baseia na alternância contínua da assimilação e da acomodação, interações e construções que geram modificações graduais das estruturas de ação do pensamento, o que permite aumentar sua capacidade de trocas com o meio. O sujeito passa por múltiplas etapas de equilíbrio e desequilíbrio (LEGENDRE, 2013). Para Piaget (1989), o pensamento cognitivo passa por diferentes estágios evolutivos que consideram os limites de idade e diversos fatores como motivação, influências culturais e maturação. Os estágios iniciais correspondem às emoções, sensações boas ou ruins, prazer ou dor. Na etapa seguinte a criança através da linguagem passa a se socializar, incorporando valores e ações. Em seguida acontece o início da vida escolar, onde iniciam-se processos de reflexão, lógica, compreensão, em que o sujeito passa a ter mais autonomia. Em continuidade, o sujeito é marcado por desequilíbrios momentâneos, que dão um “colorido afetivo” causado pela maturação do instinto sexual. Neste momento da adolescência, a afetividade constitui nas palavras de Piaget “[...] uma mola de ações, das quais resulta uma nova etapa [...]” (PIAGET, 1989, p.61). Na teoria piagetiana, a afetividade é considerada um fator que pode alterar o desenvolvimento cognitivo acelerando ou retardando-o. Nesse sentido, a cognição e a afetividade ocorrem juntas, são indissociáveis e complementares, sustentam e
- 21. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 2 12 permeiam toda a ação do sujeito (PIAGET, 1974). Deste modo, a afetividade impulsiona o desenvolvimento cognitivo e fortalece a inteligência. Piaget (1989, p.70), afirma que “a afetividade não é nada sem a inteligência, que lhe fornece os meios e esclarece os fins”, um processo ativo resultante da construção contínua entre múltiplas relações entre seus pares, entre o sujeito e o objeto, em seu ambiente de vivência, sendo permanente durante todo o processo da existência humana. Serge Moscovici, psicólogo social, defende que existem dois pensamentos: os reificados (da ciência) e os consensuais (do senso comum). Ciência e senso comum são diferentes entre si, sendo dois modos diferentes de compreender o mundo e de se relacionar com ele sendo representações da realidade (MOSCOVICCI, 2017). É por meio da percepção e da observação que se constrói o conhecimento cotidiano, podendo transformar nossas ações (VILLAS BOAS, 2004; MOSCOVICCI, 2017). Villas boas enfatiza que: Pode-se concluir que a representação social, ao estudar a ação do homem comum, expressa uma espécie de “saber prático” de como os indivíduos sentem, assimilam, apreendem e interpretam o mundo dentro de seu cotidiano, sendo, portanto, produzida coletivamente na prática da sociedade e no decorrer da comunicação interativa. (p. 146) O processo que transforma um objeto abstrato, de natureza conceitual, portanto, em algo imagético (figurativo) é denominado objetivação, e aquele que converte uma figura em um sentido recebe o nome de ancoragem. Ambos, objetivação e ancoragem, são mecanismos concomitantes, que formam e mantêm em funcionamento as representações sociais, sendo por meio deles que o discurso científico acaba sendo apropriado pelo sujeito (VALA, 2000). Nesse contexto, tendo em vista a importância dos transgênicos abarcando a necessidade de ser uma temática que deve ser explorada em ambientes de ensino de modo consolidado cognitivamente nos estudantes para uma real aprendizagem, a afetividade e as Representações Sociais são fortes aliadas neste processo. Sendo assim, este trabalho tem como objetivo fazer um levantamento sobre os trabalhos que abordaram em seu escopo o uso da afetividade ou similares para o ensino dos transgênicos. 2 | METODOLOGIA Visando atingir os objetivos desta pesquisa, optamos por um levantamento bibliográfico nas principais revistas da área de Ensino. Foram selecionados os periódicos online de acesso livre, em língua portuguesa, e que relatam em seu foco um vínculo com a área de Ensino.
- 22. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 2 13 Nossa revisão se restringiu aos artigos publicados nos Qualis periódicos A1 e A2 na área de avaliação denominada “Ensino”, conforme classificação presente na plataforma Sucupira/Capes no ano de 2018. Na mesma selecionamos os periódicos voltados para Educação, pedagogia, Educação Científica, e Psicologia. Para selecionar os artigos nos periódicos analisados, buscamos a palavra “transgênico(s)” nos buscadores internos dos periódicos. O critério de seleção dos artigos foi a ocorrência da palavra buscada, independentemente de estar na palavra-chave, a fim de verificar se o trabalho estava voltado ao ensino ou compreensão da noção de transgênico. Para selecionar os artigos nos periódicos e eventos, busquei a palavra “transgênico(s)” nos buscadores internos dos periódicos e nos títulos dos trabalhos publicados nas cinco últimas edições do ENPEC (VII, VIII, IX, X e XI). Após fazer um levantamento dos artigos que citam transgênicos, foi analisado quais deles fazem menção às palavras: afetividade, afetivo, afeto, emocional, emotivo, emoção, subjetividade, representações sociais e Serge Moscovici. 3 | ANÁLISE DOS RESULTADOS Após ter sido realizada busca minuciosa sobre os trabalhos divulgados nos periódicos QualisA1 , verificamos baixa quantidade de trabalhos publicados envolvendo transgênicos; apenas 7 artigos encontrados em um total de 18 periódicos buscados, como apontam os quadros 1 e 2. Caderno Cedes Caderno de Pesquisa Currículo Sem Fronteiras - Educação em Revista. - Educação Em Revista (UFMG) - Educação Em Revista (UNESP. Marília) Ensaio - Avaliação e Políticas Públicas em Educação Interfaces Revista Brasileira de Educação Educar em Revista Educação e Sociedade Educação e Realidade Psicologia Escolar e Educacional Revista Lusófona de Educação Quadro 1 – Periódicos (A1) analisados com ausência de trabalhos com a palavra transgênicos Título da revista Trabalhos encontrados que citam a palavra transgênicos Ambiente & So- ciedade GUIVANT, Julia S. Transgênicos e percepção pública da ciência no Bra- sil. Ambiente & Sociedade. Campinas, v.9, n.1, p.81-103, jan./jun. 2006. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pi- d=S1414-753X2006000100005&lng=en&nrm=iso ALMEIDA, Carla; MASSARANI, Luisa; MOREIRA, Ildeu de Castro. As percepções de pequenos agricultores brasileiros sobre os cultivos geneticamente modificados. Ambiente & Sociedade. São Paulo v. XVIII, n. 1, p. 203- 220, jan/mar. 2015. Dispo- nível em: http://www.scielo.br/pdf/asoc/v18n1/pt_1414-753X-asoc-18-01-00193. pdf
- 23. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 2 14 Ciência & Educação PEDRANCINI, Vanessa Daiana et al. Saber científico e conhecimento espontâneo: opiniões de alunos do ensino médio sobre transgênicos. Ciênc. educ. (Bauru), 2008, vol.14, n.1, p.135-146. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/ciedu/v14n1/09.pdf Educação e Pesquisa REIGOTA, Marcos. A Educação Ambiental frente aos desafios apresentados pe- los discursos contemporâneos sobre a natureza. Educ. Pesqui., Ago 2010, vol.36, no.2, p.539-570. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/ep/v36n2/a08v36n2.pdf Ensaio – Pesquisa em Educação e Ciências MARCELINO, Leonardo Victor; & MARQUES, Carlos Alberto. Controvérsias so- bre os transgênicos nas compreensões de professores de química. Ens. Pesqui. Educ. Ciênc. (Belo Horizonte), 2018, vol.20. Disponível em: http://www.scielo.br/ pdf/epec/v20/1983-2117-epec-20-e9253.pdf BRUM,WanderleyPivatto&SCHUHMACHER,Elcio. ÉticanoEnsinodeCiências: o posicionamento de professores de ciências sobre eticidade durante a abordagem do tema transgênicos e suas implicações socioambientais. Ens. Pesqui. Educ. Ciênc. (Belo Horizonte), Abr 2014, vol.16, no.1, p.189-211. Dispo- nível em: http://www.scielo.br/pdf/epec/v16n1/1983-2117-epec-16-01-00189.pdf KLEIN, Tânia Aparecida da Silva & LABURÚ, Carlos Eduardo. Multimodos de Re- presentação e Teoria da Aprendizagem Significativa: possíveis interconexões na construção do conceito de biotecnologia. Ens. Pesqui. Educ. Ciênc. (Belo Hori- zonte), Ago 2012, vol.14, no.2, p.137-152. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/ epec/v14n2/1983-2117-epec-14-02-00137.pdf Quadro 2 – Periódicos (A1 ) com artigos encontrados relacionados a transgênicos De todos os artigos selecionados que citaram transgênicos em seu texto (Quadro 2), nas publicações Qualis A1, nenhum mencionou qualquer relação com questões referentes às subjetividades dos sujeitos no processo de aprendizagem, ou com as representações sociais. A mesma busca minuciosa feita anteriormente se repetiu sobre os trabalhos divulgados nos periódicos Qualis A2 – área de avaliação: Ensino. Nestes foram encontrados um número maior de trabalhos publicados envolvendo transgênicos, num total de 26 artigos, demonstrados no quadro 3. Foram 42 periódicos analisados com Qualis A2; o quadro 3 refere-se apenas aos periódicos que continham artigos sobre transgênicos.
- 24. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 2 15 Título da re- vista Trabalhos encontrados que citam a palavra transgênicos H i s t ó r i a , C i ê n c i a s , Saúde - Man- guinhos FURNIVAL, Ariadne Chloë; PINHEIRO, Sônia Maria A percepção pública da informa- ção sobre os potenciais riscos dos transgênicos na cadeia alimentar. Hist. cienc. saú- de-Manguinhos, Jun 2008, vol.15, no.2, p.277-291. Disponível em: http://www.scielo. br/pdf/hcsm/v15n2/03.pdf ROTHBERG, Danilo; BERBEL, Danilo Brancalhão Enquadramentos de transgênicos nos jornais paulistas: informação como potencial subsídio à participação política. Hist. cienc. saúde-Manguinhos, Jun 2010, vol.17, no.2, p.455-470. Disponível em: http:// www.scielo.br/pdf/hcsm/v17n2/11.pdf CAMARA, Maria Clara Coelho et al. Transgênicos: avaliação da possível (in)seguran- ça alimentar através da produção científica. Hist. cienc. Saúde -Manguinhos, Set 2009, vol.16, no.3, p.669-681. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/hcsm/v16n3/06.pdf MASSARANI, Luisa. A opinião pública sobre os transgênicos. Hist. cienc. saúde-Man- guinhos, Out 2000, vol.7, no.2, p.519-522. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo. php?script=sci_arttext&pid=S0104-59702000000300023&lng=en&nrm=iso FERREIRA, Paulo Cavalcanti Gomes. Transgênicos e produtividade na agricul- tura brasileira. Hist. cienc. Saúde -Manguinhos, Out 2000, vol.7, no.2, p.509- 512. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pi- d=S0104-59702000000300020&lng=en&nrm=iso LEWGOY, Flavio. A voz dos cientistas críticos. Hist. cienc. saúde-Manguinhos, Out 2000, vol.7, no.2, p.503-508. Disponível em: h t t p : / / w w w . s c i e l o . b r / s c i e l o . p h p ? s c r i p t = s c i _ a r t t e x t & p i - d=S0104-59702000000300019&lng=en&nrm=iso&tlng=pt VALLE, Silvio. Transgênicos sem maniqueísmo. Hist. cienc. saúde-Manguinhos, Out 2000, vol.7, n.2, p.493-498. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=s- ci_arttext&pid=S0104-59702000000300017&lng=en&nrm=iso&tlng=pt NODARI, Rubens Onofre; GUERRA, Miguel Pedro. Implicações dos transgênicos na sustentabilidade ambiental e agrícola. Hist. cienc. saúde-Manguinhos, Out 2000, vol.7, no.2, p.481-491. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_art- text&pid=S0104-59702000000300016&lng=en&nrm=iso&tlng=pt AZEVEDO, João Lúcio de, FUNGARO; Maria Helena Pelegrinelli; VIEIRA, Maria Lú- cia Carneiro. Transgênicos e evolução dirigida. Hist. cienc. saúde-Manguinhos, Out 2000, vol.7, no.2, p.451-464. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=s- ci_arttext&pid=S0104-59702000000300014&lng=en&nrm=iso&tlng=pt MARQUES, Marília Bernardes. Patentes farmacêuticas e acessibilidade aos me- dicamentos no Brasil. Hist. cienc. saúde-Manguinhos, Jun 2000, vol.7, no.1, p.07-21. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pi- d=S0104-59702000000200001&lng=en&nrm=iso I n v e s t i g a - ções em En- sino de Ciên- cias ROCHA, André Luís Franco da; SLONSK, Gladis Teresinha. Um olhar para os Trans- gênicos nas Áreas de Pesquisa em Ensino de Ciências e Educação Ambiental: contri- buições para a formação de Professores. Investigações em Ensino de Ciências – V21 (3), pp. 74-91, 2016. Disponível em: https://www.if.ufrgs.br/cref/ojs/index.php/ienci/ article/view/150/444 MARCELINO, Leonardo Victor; MARQUES, Carlos Alberto. Abordagens Educacionais das Biotecnologias no Ensino De Ciências através de uma análise em periódicos da Área. Investigações em Ensino de Ciências – V22, pp. 61- 77, 2017. Disponível em: https://www.if.ufrgs.br/cref/ojs/index.php/ienci/article/view/374/pdf
- 25. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 2 16 Revista Acta Scientiae OLIVEIRA,Vera Lucia Bahl de; REZLER, Meiri Alice. Temas contemporâneos no ensi- no de Biologia do ensino médio. Acta Scientiae – v.8 – n.1 – jan./jun. 2006. Disponível em: http://www.periodicos.ulbra.br/index.php/acta/article/view/111/104 Revista Bra- sileira de Ensino de Ciência e Tecnologia CESCHIM, Beatriz; OLIVEIRA, Thais Benetti de. Transgênicos, letramento científico e cidada- nia. Revista Brasileira de Ensino de Ciência e Tecnologia, Ponta Grossa, v.11, n. 1, p. 131-154, jan./abr. 2018. Disponível em: https://periodicos.utfpr.edu.br/rbect/article/view/5411/pdf GENOVESE, Cinthia Leticia Carvalho Roversi; GENOVESE, Luiz Gonzaga Roversi; CARVA- LHO, Washington Luiz Pacheco de. Transgênicos, conformismo e consumo: algumas reflexões para o Ensino de Ciências. Revista Brasileira de Ensino de Ciência e Tecnologia, vol 8, núm. 4, set-dez.2015 Disponível em: https://periodicos.utfpr.edu.br/rbect/article/view/1990/2523 DRAEGER, Deysielle Inês; YONEZAWA, Wilson Massashiro; PEGORARO, Rene. Fundamen- tos da ciência das redes presentes nas redes sociais virtuais como instrumento de ensino de biologia. Revista Brasileira de Ensino de Ciência e Tecnologia, Ponta Grossa, v. 9, n. 3, p. 1-17, mai./ago. 2016. https://periodicos.utfpr.edu.br/rbect/article/view/3662/pdf DUSO, Leandro. Uso de Ambiente Virtual de Aprendizagem de Temas Transversais no Ensino de Ciências . V. 2, N. 3 p.60-76, Set-dez.2009. Revista Brasileira de Ensino de Ciência e Tecno- logia. Disponível em: https://periodicos.utfpr.edu.br/rbect/article/view/553/399 RUI, Helania Mara Grippa; et al. Uma prova de amor: o uso do cinema como proposta peda- gógica para contextualizar o ensino de genética no ensino fundamental. Revista Brasileira de Ensino de Ciência e Tecnologia, v.6, n.2, p.268-280, mai-ago. 2013. Disponível em: https:// periodicos.utfpr.edu.br/rbect/article/view/1642/1050 SANTOS, Fabio Seidel Dos; et al. Interlocução entre neurociência e aprendizagem significativa: uma proposta teórica para o ensino de genética. Revista Brasileira de Ensino de Ciência e Tec- nologia, Ponta Grossa, v. 9, n. 2, p. 149-182, mai./ago. 2016. Disponível em: https://periodicos. utfpr.edu.br/rbect/article/view/3947/pdf COUTINHO, Francisco Angelo; FIGUEIREDO, Kristianne Lina; SILVA, Fabio Augusto Rodri- gues e. Proposta de uma configuração para o ensino de Ciências comprometido com a ação política democrática. Revista Brasileira de Ensino de Ciência e Tecnologia., vol. 7, núm. 1, jan- -abr.2014. Disponível em: https://periodicos.utfpr.edu.br/rbect/article/view/2935/2973 SOUZA, Pedro Henrique Ribeiro de; ROCHA, Marcelo Borges. Análise do processo de Reela- boração Discursiva na incorporação de um texto de Divulgação Científica no livro de Ciências. Revista Brasileira de Ensino de Ciência e Tecnologia, vol 7, núm. 1, jan-abr.2014. Disponível em: https://periodicos.utfpr.edu.br/rbect/article/view/1597/1221 SCHEID, Neusa Maria John. História da Ciência na educação científica e tecnológica: contri- buições e desafios, Revista Brasileira de Ensino de Ciência e Tecnologia, Ponta Grossa, v . 11, n. 2, p. 233-248, mai./ago. 2018. Disponível em: https://periodicos.utfpr.edu.br/rbect/article/ view/8452/pdf AMORIM, Luís Henrique de; MASSARANI, Luisa Medeiros. Jornalismo científico: um estudo de caso de três jornais brasileiros, Revista Brasileira de Ensino de Ciência e Tecnologia, v.1, n.1, jan./abr.2008. Disponível em: https://periodicos.utfpr.edu.br/rbect/article/view/225/198 ZIMMERMANN, Marlene Harger; SILVEIRA, Rosemari Monteiro Castilho Foggiatto. Enfoque CTS, o ensino médico e a ética de responsabilidade de Hans Jonas, Revista Brasileira de En- sino de Ciência e Tecnologia, Ponta Grossa, v. 10, n. 2, p. 1-19, mai./ago. 2017. Disponível em: https://periodicos.utfpr.edu.br/rbect/article/view/3879/pdf MOREIRA, Célia dos Santos; PEDRANCINI, Vanessa Daiana. Concepções iniciais dos alunos do oitavo ano do ensino fundamental sobre a fosfoetanolamina, Revista Brasileira de Ensino de Ciência e Tecnologia, Ponta Grossa, v. 10, n. 1, p. 1-12, jan./abr. 2017. Disponível em: https:// periodicos.utfpr.edu.br/rbect/article/view/5723/pdf Vidya (Santa Maria. Onli- ne) SCHEID, Neusa Maria John. A Gene(Ética) Contemporânea. v. 23, n. 40, p. 148- 162. 2003 Disponível em: https://www.periodicos.unifra.br/index.php/VIDYA/article/ view/440/414 Alexandria MARCELINO, Leonardo Victor; MARQUES, Carlos Alberto. Compreensões de Professores sobre Abordagens das Biotecnologias no Ensino de Química. ALE- XANDRIA: R. Educ. Ci. Tec., Florianópolis, v. 10, n.1, p. 119-142, maio 2017. Dis- ponível em: https://periodicos.ufsc.br/index.php/alexandria/article/view/1982-5153. 2017v10n1p119/34219 Quadro 3 – Periódicos (A2) com artigos encontrados relacionados a transgênicos
- 26. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 2 17 NaspublicaçõesA2supracitadas(quadro3),apenasquatromencionarampalavras como afeto, emoção e subjetividade. Porém, nenhuma abordou as representações sociais. ApesquisadeROCHAeSLONSK(2016)intitulada“UmolharparaosTransgênicos nas Áreas de Pesquisa em Ensino de Ciências e Educação Ambiental: contribuições para a formação de Professores” levantou a questão da importância de formação de professores na área da psicologia da aprendizagem e do desenvolvimento, para que os mesmos sejam capazes de organizarem um ensino que promova as capacidades psíquicas dos alunos. O mesmo enfatiza sua posição citando um trecho das Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação de professores da educação básica, instituídas pelo parecer CNE/CP 9/2001, Para que possa compreender quem são seus alunos e identificar as necessidades de atenção, sejam relativas aos afetos e emoções, aos cuidados corporais, de nutrição e saúde, sejam relativas às aprendizagens escolares e de socialização, o professor precisa conhecer aspectos psicológicos que lhe permitam atuar nos processos de aprendizagem e socialização; ter conhecimento do desenvolvimento físico e dos processos de crescimento, assim como dos processos de aprendizagem dos diferentes conteúdos escolares em diferentes momentos do desenvolvimento cognitivo, das experiências institucionais e do universo cultural e social em que seus alunos se inserem. São esses conhecimentos que o ajudarão a lidar com a diversidade dos alunos e trabalhar na perspectiva da escola inclusiva (BRASIL, 2002, p.45-46). RUI (et al, 2013) em seu trabalho “Uma prova de amor: o uso do cinema como proposta pedagógica para contextualizar o ensino de genética no ensino fundamental” aborda a palavra “emoção”, porém em uma citação de Moran (1995) sobre o uso de vídeos como um instrumento que auxilia na ação pedagógica. No artigo “Enfoque CTS, o ensino médico e a ética de responsabilidade de Hans Jonas”, autoria de ZIMMERMANN e SILVEIRA (2017), com a preocupação em formar médicos mais humanizados, a palavra “transgênicos” é citada como uma das tecnologias que visam lucro, sem se preocupar com o futuro do homem e com o meio ambiente. Neste, a palavra subjetividade surge quando menciona a crescente especialização dos médicos como um “Fator (...) que gerou na profissão médica dificuldade da visão integral do homem com sua subjetividade, sua impessoalidade”. E no artigo Interlocução entre neurociência e aprendizagem significativa: uma proposta teórica para o ensino de genética (SANTOS et al., 2016), os transgênicos são mencionados como tema de importância a ser abordado no Ensino Médio, pois estão constantemente na mídia. E o termo encontrado neste artigo foi a afetividade, quando o autor discorre sobre a Neurociência: Destaca-se que a Neurociência proporciona ao professor o conhecimento dos mecanismos neuropsicológicos da memória, do esquecimento, do sono, da atenção, do medo, do humor, da afetividade, dos sentidos, da linguagem, do pensamento, do desenvolvimento neuropsicomotor, assim como sobre o fato de que uma boa prática de ensino pode ser prejudicada por fatores ligados ao cérebro,
- 27. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 2 18 como ansiedade para aprender, déficits de atenção e pobre reconhecimento de pistas sociais. (SANTOS et al.,2016, p.166) Neste trabalho, os autores concluem que Neurociência associada à Teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel possibilita uma melhor compreensão dos mecanismos neurais e cognitivos envolvidos no processo de ensino e aprendizagem, podendo dar subsídios importantes para o trabalho docente, facilitando a aprendizagem significativa de Genética. Sobre os trabalhos publicados nos últimos cinco ENPEC (2009 a 2017) foram encontrados um total de sete trabalhos que em seu título continham a palavra “transgênicos”. Ressalto que no VIII ENPEC realizado em 2011 nenhuma ocorrência foi encontrada. Edição do ENPEC Trabalhos encontrados que citam a palavra transgênicos no Tí- tulo VII ENPEC (2009) ANDRADE, JerryAdriane Pinto; PAULAReynaldo Josué; VAINSTEIN, Marilene Henning. Transgênicos: representações sociais entre professores de ciências naturais. VII Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências – VII ENPEC Florianópolis, SC – 08 de Novembro de 2009 IX ENPEC (2013) BARBOSA, Leila Cristina Aoyama; ROLOFF, Franciani Becker; MAR- QUES, Carlos Alberto Abordagem sobre alimentos transgênicos por meio da alfabetização científica e tecnológica. IX Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências – VII ENPEC. Aguas de Lin- dóia, SP – 10 e 13 de Novembro de 2013. ANDRADE, Jerry Adriane Pinto; BECKER, Maria Luiza Rheingantz; BURNHAM, Theresinha Fróes; VAINSTEIN, Marilene Henning. Os significados de transgênicos entre graduandos recém-ingressos nos cursos de odontologia e fisioterapia da UESB. IX Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências – VII ENPEC. Aguas de Lin- dóia, SP – 10 e 13 de Novembro de 2013. X ENPEC (2015) SILVA, Venâncio Bonfim; Silva, Anete Charnet Gonçalves. O que pensam os alunos do ensino médio a respeito de organismos transgênicos? X Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências – X ENPEC Águas de Lindóia, SP – 24 a 27 de Novembro de 2015. COSTA, Lívia Carvalho; SICCA Natalina Aparecida Laguna. O processo curricular sobre a temática dos transgênicos no ensino de Biologia: as concepções dos alunos. X Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências – X ENPEC Águas de Lindóia, SP – 24 a 27 de Novembro de 2015. XI ENPEC (2017) LISBOA, Célia Maria Patriarca; ARAYA, Juan Francisco Bacigalupo; CARVALHO, Alexandre Brasil Fonseca. Alimentos transgênicos no campo da Saúde. XI Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências – X ENPEC. Florianópolis, SC – 3 a 6 de julho de 2017. Quadro 4 – Trabalhos publicados nas cinco últimas edições do ENPEC Se analisar a quantidade de trabalhos aceitos e comparar com o total que relata o tema em questão, a proporção é muito pequena. Por exemplo, no X ENPEC de um total de 1272 (mil duzentos e setenta e dois) trabalhos aceitos apenas 2 (dois)
- 28. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 2 19 mencionaram os transgênicos. Refinando nossa pesquisa, um trabalho apresenta os transgênicos e as Representações Sociais apontando para o psicólogo social Serge Moscovici. O artigo é intitulado “Transgênicos: Representações Sociais entre professores de ciências naturais” (ANDRADE; PAULA; VAINSTEIN, 2009). Esta pesquisa tinha o objetivo de analisar as representações sociais de professores de Ciências Naturais sobre os transgênicos. A coleta dos dados ocorreu durante o curso de Ciências Biológicas do Programa de Formação e Titulação de Professores Leigos, no Centro de Estudos Costerios Limnológico e Marinho (CECLIMAR), onde o pesquisador era responsável pela disciplina Biologia Molecular Básica. Os instrumentos de coleta foram os registros dos docentes e a observação durantes as atividades. A amostra do artigo mencionado constituiu-se de 40 professores de Ciências de escolas públicas, pertencentes à 11ª Coordenadoria Regional de Educação, na região norte do Rio Grande do Sul. A pesquisa realizada foi de natureza qualitativa numa variação da observação participante, e partiu das seguintes questões: o que são transgênicos? Qual sua aplicabilidade e benefícios para vida do homem? Você considera os transgênicos a solução para fome no mundo? Você considera transgênicos um ameaça à saúde e a biodiversidade? Procurou-se levantar as representações sociais, ou seja, a apreensão e interpretação (significado atribuído) que eles têm em torno da temática transgênicos. Nesse estudo, obteve-se, principalmente, o seguinte resultado: em relação às reapresentações acerca da temática transgênicos, 70% dos professores apresentam um domínio de representação que engloba, sobretudo, a ideia de que transgênicos são alimentos geneticamente modificados que ameaçam a saúde. Outro dado obtido foi que para 7,5% dos professores o tema é mais abrangente, pois associa transgênicos a plantas e animais geneticamente modificados, voltados à indústria alimentícia e farmacêutica cujo benefício é a produção de alimentos e medicamentos; além disso, 12,5% dos professores apresentam um campo de representação ainda mais abrangente, pois associam transgênicos a plantas, animais e microrganismos, com aplicação voltada à indústria de papel, à alimentícia e farmacêutica,cujobenefícioéaproduçãodevacinas,remédios,tecidosemelhoramento vegetal. Vale ressaltar também que, durante os debates e discussões em sala de aula, 10% dos professores não se agruparam nas categorias acima, expondo que não apresentavam conhecimentos acerca da temática, pois tratava-se de conceitos complexos, polêmicos e inovadores, portanto difíceis de serem assimilados. No referido artigo os autores detectaram, no que diz respeito às representações sociais acerca da temática transgênicos, que 70% dos professores de Ciências Naturais apresentam um domínio de representação que engloba, sobretudo, a ideia de que os transgênicos são alimentos geneticamente modificados, ou seja, plantas comestíveis cuja aplicabilidade e benefícios voltam-se exclusivamente à agroalimentação,
- 29. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 2 20 apresentando perigos que podem levar ao câncer, a alergias e infecções. Constatou-se também que a maioria dos professores de Ciências Naturais, não conseguia estabelecer relações significativas em torno da temática transgênicos. Além disso, os autores concluem que esses profissionais têm uma visão fragmentada acerca dos transgênicos, o que leva a um corte da realidade, perdendo de vista a totalidade. (ANDRADE; PAULA; VAINSTEIN, 2009) LISBOA, ARAYA e CARVALHO (2017) em “Alimentos transgênicos no campo da Saúde” fazem uma citação que aborda as Representações Sociais, Põem a descoberto determinados aspectos ‘invisíveis’ da cadeia alimentar. Revelam também que, apesar de a produção de alimentos estar, jurídica e cientificamente, mais controlada do que nunca, há falhas importantes em diferentes etapas da cadeia. A população é sensível a todas as experiências desse tipo, as quais, por sua vez, conformam as representações sociais. (CONTRERAS; GRACIA, 2011, p.361 apud LISBOA; ARAYA; CARVALHO, 2017, p.4) Nesta pesquisa, os autores fizeram um levantamento bibliográfico que se processou por meio do banco de teses da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) e do SCIELO (Scientific Eletronic Library Online), por meio dos seguintes descritores: alimentos transgênicos e saúde; transgênicos e segurança alimentar; OGMs e segurança alimentar. O objetivo era compreender como os “transgênicos e segurança alimentar” têm sido tratados nas pesquisas do campo da saúde, especialmente em relação à educação em saúde. O levantamento bibliográfico resultou em nove trabalhos, indicando para uma escassa produção científica sobre o tema. Foram identificados apenas três trabalhos que consideram a educação como fator de importância para a promoção da autonomia do consumidor, apontando para a necessidade de ampliação da produção científica sobre o tema no âmbito da educação em saúde. Os autores observaram que as pesquisas sobre representações sociais associadas ao risco alimentar demostram que na população tem aumentado a percepção negativa sobre alimentação industrial e sobre determinadas aplicações tecnológicas usadas no processo de produção de alimentos (LISBOA; ARAYA; CARVALHO, 2017). As demais pesquisas encontradas nos ENPEC sobre os transgênicos não mencionaram as palavras: afetividade, afetivo, afeto, emocional, emotivo, emoção, subjetividade, representações sociais e Serge Moscovici. 4 | CONCLUSÃO Diante dos dados aqui apresentados, percebemos que nos periódicos Qualis A1 e A2 na área de Ensino e nas VII, VIII, IX, X e XI edições dos ENPEC existem poucas publicações, em relação ao número de periódicos, com a temática transgênicos. Enfatizo ainda que a partir do levantamento, apenas um dos trabalhos encontrados
- 30. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 2 21 levou em consideração as Representações Sociais na expectativa que tange nossa pesquisa, porém com professores. Não foram encontrados artigos publicados que tratam da temática transgênicos levando em consideração as Representações Sociais dos estudantes, tornando sugestão para pesquisa de grande valia. REFERÊNCIAS ANDRADE, J. A. P.; PAULA R. J.; VAINSTEIN, M. H. Transgênicos: representações sociais entre professores de ciências naturais. In: VII Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências – VII ENPEC. Florianópolis, SC – 08 de Novembro de 2009. BARBOSA, L. C. A.; ROLOFF, F. B.; MARQUES, C. A. Abordagem sobre alimentos transgênicos por meio da alfabetização científica e tecnológica. In: Atas do IX Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências – IX ENPEC. Águas de Lindóia, SP – 10 a 14 de Novembro de 2013. CACHEFFO, V. A. F. F.; GARMS, G. M. Z. A afetividade nas produções do GT 20 (Psicologia da Educação) da ANPED. Congresso Nacional da Psicologia Escolar e Educacional. Universidade Estadual de Maringá. Maringá-PR, 2011. LEGENDRE, Marie-Françoise. Jean Piaget e o Construtivismo na Educação. In: GAUTHIER, C.; TARDIF, M. A Pedagogia: teorias e práticas da Antiguidade aos nossos dias. Petrópolis, RJ: Editora Vozes, 2013. p. 337-359. LEPSCH, M. P. A Importância da afetividade na relação Ensino-Aprendizagem. Periódico Científico Projeção e Docência, v.6, n.1, junho 2015. MARCELINO, L. V.; MARQUES, C. A. Controvérsias sobre os transgênicos nas compreensões de professores de química. Ensaio, v.20, p.1-21, 2018. MOSCOVICCI, S. Representações Sociais. 11ª ed. Rio de Janeiro: Vozes, 2017. NODARI, R. O.; GUERRA, M. P. Implicações dos transgênicos na sustentabilidade ambiental e agrícola. História, Ciências, Saúde – Manguinhos, Rio de Janeiro, v.7, n.2, p. 481-491, 2000. PEREIRA, M. M.; ABIB, M. L. V. S. Memória, cognição e afetividade: um estudo acerca de processos de retomada em aulas de Física do Ensino Médio. Ciência & Educação, v.22, n.4, p.855-873, 2016. PIAGET, J. Problemas gerais de investigação interdisciplinar e mecanismos comuns. Lisboa: Bertrand, 1973. PIAGET, J. A Epistemologia Genética e a Pesquisa Psicológica. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1974. PIAGET, J. Seis estudos de Psicologia. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1989. ROCHA, A. L. F.; SLONSK, G. T. Um olhar para os Transgênicos nas Áreas de Pesquisa em Ensino de Ciências e Educação Ambiental: contribuições para a formação de Professores. Investigações em Ensino de Ciências, v.21, n.3, p.74-91, 2016. RUI, H. M. G. et al. Uma prova de amor: o uso do cinema como proposta pedagógica para contextualizar o ensino de genética no ensino fundamental. Revista Brasileira de Ensino de Ciência e Tecnologia, v.6, n.2, p.268-280, 2013.
- 31. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 2 22 SANTOS, F. S. dos et al. Interlocução entre neurociência e aprendizagem significativa: uma proposta teórica para o ensino de genética. Revista Brasileira de Ensino de Ciência e Tecnologia, v.9, n.2, p.149-182, 2016. SIQUEIRA, J. O.; TRANNIN, I. C. B. Agrossistemas transgênicos. In: BORÉM. A. (ed) Biotecnologia e meio ambiente. Viçosa: Folha de Viçosa, p.197-270, 2005. SOUZA, E. A. Julgamento e significado atribuído ao consumo de alimentos transgênicos: um levantamento qualitativo. 2016. 74f. Monografia (Bacharelado em Administração) —Universidade de Brasília, Brasília, 2016. SOUZA, A. F.; CÂNDIDO, J. H. B.; ASSUNÇÃO R. G.; OLIVEIRA, M. M. Debate ético no ensino de biologia sobre a Utilização de células-tronco. In: XIII Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão – JEPEX – UFRPE, Recife, 09 a 13 de dezembro, 2013. VALA, J. Representações sociais e psicologia social do conhecimento quotidiano. In: VALA, J.; MONTEIRO, M. B. (coords.). Psicologia social. 4ª ed. Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 2000. VILLAS BOAS, L. P. S. Teoria das representações sociais e o conceito de emoção: diálogos possíveis entre Serge Moscovici e Humberto Maturana. Psicol. educ., n.19, p.143-166, 2004. YAMAZAKI, S. C.; YAMAZAKI, R. M. O; ZANON, A. M. O lugar da subjetividade na educação científica: uma nova racionalidade para as mudanças conceituais. Revista Metáfora Educacional, n.14, p.29-49, 2013. ZIMMERMANN, M. H.; SILVEIRA, R. M. C. F. Enfoque CTS, o ensino médico e a ética de responsabilidade de Hans Jonas. Revista Brasileira de Ensino de Ciência e Tecnologia, v.10, n.2, p.1-19, 2017.
- 32. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 3 23 CARTOGRAFIA DE GRUPOS DE PESQUISA SOBRE ARTE, PEDAGOGIA E MEDIAÇÃO: QUEM SOMOS? QUANTOS SOMOS? E ONDE ESTAMOS? CAPÍTULO 3 doi Ana Paula Abrahamian de Souza1 anapaula.souza@ufrpe.br UFRPE/PPGECI-FUNDAJ Daniel Bruno Momoli2 danielmomoli@hotmail.com SENAC/UNIARP Fabiana Souto Lima Vidal3 artes.vidal@gmail.com CAp/UFPE RESUMO: O presente artigo buscou mapear os Grupos de Pesquisa que tangenciam o campo da Arte, da Pedagogia e da Mediação a partir do trabalho realizado por alguns(mas) pesquisadores(as) integrantes do Grupo de Pesquisa em Arte na Pedagogia - GPAP para o II Simpósio Internacional Formação de Educadores emArte na Pedagogia realizado em 1 Professora do Departamento de Educação da Universidade Federal Rural de Pernambuco (DEd-UFRPE) e do Programa de Pós-Graduação em Educação, Culturas e Identidades (PPGECI - UFRPE/FUNDAJ). Possui Graduação em Pedagogia pela Universidade Federal de Pernambuco (2005), Especialização em Ensino da Dança (ESEFE/UPE), Mestrado em Educação pela Universidade Federal de Pernambuco e Doutorado em Educação (PPGE-UFPE). Líder do Grupo de Pesquisa em Estudos Culturais e Arte/Educação (GPECAE-UFRPE) e pesquisadora do Grupo Arte na Pedagogia (GPAP-MACKENZIE-SP). 2 Doutorando em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS. Mestre em Educação pela UFRGS. Especialista em Educação Interdisciplinar e Graduado em Licenciatura em Artes. É Professor da Facul- dade SENAC de Caçador – SC e UNIARP. Membro do Grupo de Pesquisa Arte na Pedagogia – GPAP e ARTEVERSA - Grupo de estudo e pesquisa em arte e docência. 3 Doutora em Educação pela UFPE (2016); Mestre em Educação - UFPE (2011); Especialista em Arte, Educa- ção e Tecnologias Contemporâneas - UnB (2006); Licenciatura em Educação Artística/Artes Plásticas - UFPE (2005). Professora de Artes do Colégio de Aplicação da UFPE. Pesquisa Ensino da Arte e Formação de Professoras(es). Pesquisadora nos grupos: Grupo Arte na Pedagogia (GPAP - Universidade Mackenzie - SP), Grupo de Pesquisa em Estudos Culturais e Arte/Educação (GPECAE-UFRPE) e Formação de Professor e Profissionalização Docente (UFPE). junho de 2016 na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Neste texto, o simpósio é revisto pelo seu avesso, isto é, pela história que o fez ser planejado e pelas decisões na organização e dinâmica que são reflexos conceituais de questões implicadas em processos de partilha dos grupos de pesquisa. Procuramos evidenciar, assim, as diferentes experiências na atuação nos/dos Grupos de Pesquisa, objetivando apresentar também novas possibilidade de constituição de novas metodologias de fazer/ compartilhar pesquisas. PALAVRAS-CHAVE: Arte. Pedagogia. Mediação. Grupos de Pesquisa. ABSTRACT: This article sought to map the research groups that tangent the field of Art, Pedagogy and mediation from the work done by some researchers members of the Research
- 33. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 3 24 Group Art in Education - GPAP for the Second Symposium International Art in Teacher Student in Education held in June 2016 at Mackenzie Presbyterian University. This text, the symposium is reviewed by its opposite, that is, the history that made him be planned and decisions in the organization and dynamics that are conceptual reflections of issues involved in sharing processes of the research groups. We seek evidence thus the different experiences in the performance of research groups, aiming also present new possibility to establish new methods to make and share research. KEYWORDS: Art. Pedagogy. Mediation. Research Groups. 1 | DO FIO À TRAMA: CONEXÕES QUE DÃO COR E FORMA NA ESCOLHA DE UM CAMPO DE TRABALHO Imagem 1: Wonder Space II, Toshiko Horiuchi MacAdam, Hakone Open-Air Museum. Foto: Masaki Koizum. A imagem da instalação da artista japonesa Toshiko Horiuchi MacAdam pareceu- nos muito próxima da nossa maneira de pensar a cartografia. Se no modo comumente usado pela Geografia, cartografia remete ao estudo de mapas e os modos de traçá- los, aqui, ela passa a ser pensada enquanto rede, conexões, pontos que podem ser vistos separadamente ou costurados, tecidos e emaranhados. O que antes era apenas uma linha, um desejo de costura, agora é trama e texto que começou a ser produzido a partir de um esboço, um levantamento de informações que pela densidade dos achados vem sendo envolvida por outras tantas linhas e tramas, camadas de textos e adensamentos teóricos que permitem pensar os modos de ser e de fazer pesquisa
- 34. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 3 25 sobre arte, pedagogia e mediação. O esboço a que nos referimos surgiu como uma atividade de planejamento do II Simpósio Internacional Formação de Educadores em Arte e Pedagogia realizado em junho de 2016, na Universidade Presbiteriana Mackenzie, organizado pelo Grupo de Pesquisa Arte na Pedagogia - GPAP4 e pelo Grupo de Pesquisa em Mediação Cultural: contaminações e provocações estéticas - GPeMC5 . A atividade fazia parte da organização de uma programação com Grupos de Pesquisainteressadosnostemasdaarte,dapedagogiaedamediaçãoequeestivessem disponíveis para estar junto com outros grupos e assim, produzir um pensamento em comum durante o II Simpósio Internacional Formação de Educadores em Arte e Pedagogia, partilhando sobre modos de ser e de fazer pesquisa nas áreas destacadas. O levantamento de informações realizado permitiu o encontro de diferentes grupos já consolidados e que se interessam e adentram nas pesquisas em torno das temáticas em pauta, assim como também grupos que estão dando seus primeiros passos. Considerando a força do encontro destes grupos e destas informações propomos, utilizando-nos da imagem que abre a presente escrita, acrescentar mais outro tanto de tramas, usando outras linhas e cores, e assim, adensar mais uma camada de discussões em torno deste material, olhando pra ele como um campo investigativo a ser explorado. Para tanto, algumas questões pareceu-nos pertinentes: Grupos de Pesquisas, quem somos? Quantos somos? E aonde estamos? 2 | TECER UMA REDE COM GRUPOS DE PESQUISA: OS PRIMEIROS FIOS DE UMA TRAMA No desenvolvimento do levantamento que deu origem às nossas análises, partimos do entendimento de que o levantamento de tais dados não resumem-se a um panorama quantitativo ou a um registro descritivo com a finalidade apenas de mostrar 4 O Grupo de Pesquisa Arte na Pedagogia (GPAP) foi formalizado em junho de 2012 com a participação de professores de Arte nos cursos de Pedagogia de várias universidades brasileiras e pesquisadores(as) que se interessam por essa temática, de modo presencial e por uma rede social criada para tal. A reivindicação de introduzir a arte nos cursos de Pedagogia no Brasil está presente desde a década de 1980 e a partir das Diretrizes Curriculares Nacionais, datada de 2006, passou a ser um campo de conhecimento da/para a formação do(a) pedagogo(a), causando transformações nas matrizes curriculares de parte dos cursos. Assim, inicialmente com o objetivo de ampliar a presença e o debate sobre arte no curso de Pedagogia, verifi- car a situação dessa presença e a obediência à lei, além de aprofundar estudos e pesquisas, o GPAP se fortalece como uma rede que se volta também à formação continuada de seus membros a partir de encontros nacionais presenciais semestrais, semi-presenciais mensais e da produção de artigos elabo- rados em parcerias e apresentados em congressos. 5 O Grupo de Pesquisa em Mediação cultural: provocações e contaminações estéticas (GPeMC), é um grupo que se originou no Instituto de Artes/UNESP no ano de 2003, sob a liderança de Mirian Celeste Martins como Grupo de Pesquisa Mediação arte/cultura/público. Em 2008, integrantes daquele grupo acrescido de alunos da pós-graduação do Programa em Educação, Arte e História da Cultura e interessados, formaram este grupo inserido nesse programa da Universidade Presbiteriana Mackenzie.
- 35. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 3 26 os grupos de pesquisa e os seus trabalhos. Antes, o que nos interessa é apresentar os desejos que moveram a busca pelos grupos: a vontade de estar juntos e de fazer uma partilha sobre modos de ser e de fazer pesquisa que toquem diretamente ou tangenciem o campo da arte/educação; as trocas e a criação de possibilidades de vínculos entre esses grupos e os seus trabalhos. A descrição sobre como essa proposta foi sendo desenhada não é feita com a pretensão de ser repassada ou reproduzida, antes orienta-se por nosso desejo de mostrar para outros sujeitos como começamos ponto a ponto a realizar nossa malha entremeada de saberes mobilizados por ações coletivas. Mais especificamente, estamos falando das formas de mobilização de um grupo de pessoas – a comissão de organização do Simpósio Internacional Formação de Educadores em Arte e Pedagogia - em torno do desejo de estar juntos com outros e de partilhar produção de conhecimento. A escrita iniciou com o surgimento de ideias, para as quais não sabíamos o resultado final, com poucas certezas sobre como realizar, assim como com o desejo de fortalecer e potencializar o encontro, a troca e a partilha sobre a formação de educadores em arte, pedagogia e mediação cultural. A maneira como o levantamento foi realizado não aspira ser metodologia, nem ser uma ou outra forma já conhecida de fazer um panorama sobre um determinado assunto. Apenas, mostra o desenho de uma trajetória marcada por achados, vestígios, idas e vindas e encontros muitas vezes inesperados. Um trabalho que se fez em ato. Num primeiro momento, nosso desejo era saber para conhecer. Conhecer sem classificar e/ou hierarquizar. Desejo e vontade de estabelecer contato com outras pessoas, outros grupos e outras maneiras de fazer e ser grupos de pesquisa, tendo apenas como critério a implicação com os temas da pedagogia, da arte, da formação e da mediação cultural. O objetivo de conhecer outros grupos de pesquisa e de estar juntos foi uma escolha tendo em vista que os modos de fazer pesquisa era tema central do evento, que foi desdobrado em torno de mesas de trabalho que abordavam as formas de provocar uma pesquisa, os modos de fazer e ser pesquisdor(a) e de como compartilhar a produção do conhecimento sobre Arte na Pedagogia e Mediação. Para tanto, era preciso ir além de propostas já conhecidas de contar sobre como organizar e conduzir um grupo de pesquisa, nos interessava os modos de ser e fazer grupo de pesquisa, as maneiras como cada grupo foi encontrando espaços em sua instituição de origem, as escolhas teóricas, as aproximações metodológicas e as redes. Durante uma reunião em março de 2016, começamos a elaborar de modo ainda experimental uma lista com alguns nomes lembrados pelas suas participações no primeiro Simpósio Internacional Formação de Educadores em Arte e Pedagogia, realizado em 2015, na cidade de São Paulo. Era uma lista pequena, mas já apresentava algumas linhas soltas que indicavam possibilidades de tessituras, deixava-nos pistas por onde começar e os caminhos a trilhar. A partir desse exercício foi formada uma
- 36. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 3 27 equipe de trabalho composta por Rita Demarchi, Fábio Wosniak, Ronaldo Oliveira, Estela Bonci e Daniel Momoli. Uma equipe que já surgia com o desafio de realizar um trabalho coletivo à distância, considerando os diferentes lugares dos(as) pesquisadores(as) envolvidos(as), São Paulo, Florianópolis, Londrina e Porto Alegre. Explorando as possibilidades da comunicação por meio das redes sociais e compartilhando as informações em arquivos no Google Docs - aplicativo do Google que possibilita criar, editar, compartilhar e visualizar textos por diferentes sujeitos - foram delineados alguns elementos a serem norteadores, a saber: • Tomar como campo das buscas o diretório dos Grupos de Pesquisa do CNPQ; • Utilizar os descritores educação e arte; arte-educação; ensino de arte; for- mação arte; formação de docentes em arte como ferramenta de consulta; • Listar as informações de cada grupo encontrado: nome, líder, vice-líder, e-mail, site, link do diretório de pesquisa e descrição. Vale destacar que nem todos os descritores apontavam grupos cadastrados, então, foi realizada uma segunda busca por nome das linhas de pesquisa. Nesta segunda busca a pesquisa foi feita com a utilização dos descritores: arte e formação docente; formação docente e arte; mediação, arte e formação docente. O objetivo desta segunda busca foi o de encontrar grupos, cujos trabalhos estivessem alinhados com os nossos para possibilitar as trocas e partilhas durante o evento. No entanto, a segunda busca não trouxe muitos resultados o que nos levou a fazer uma terceira busca, na qual a pesquisa foi feita utilizando como descritor o nome de pesquisadores(as). Na trama que foi sendo tecida com as informações destas buscas, incluímos também pesquisadores(as) internacionais que participaram do Simpósio Internacional de 2015 - França, Portugal, Chile e Peru. Assim, pensando a necessidade gerada de realizar outras buscas, entendemos que a pesquisa foi sendo feita como as grandes produções de crochê de Toshiko Horiuchi MacAdam, abrindo espaço para amarrações, para inserção de linhas, para nós e pontos, para outras configurações, outras tessituras, de maneira que foi possível desenhar uma grande rede, cheia de encontros e possibilidades de trocas. 3 | DEMARCANDO PONTOS E FAZENDO AMARRAÇÕES A medida em que a pesquisa avançava, os dados coletados foram dando corpo a um documento contendo algumas informações de cada grupo de pesquisa. Ao final, o arquivo ficou composto por 43 Grupos de Pesquisa, vejamos a seguir: • Entre-Paisagens; • LABORARTE - Laboratório de Estudos sobre Arte, Corpo e Educação;
- 37. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 3 28 • NEVIDA - Núcleo de Estudos em Educação, Violência, Infância, Diversidade e Arte; • Grupo Multidisciplinar de Estudo e Pesquisa em Arte e Educação; • GEPEFE-FEUSP - Grupo de Estudos e Pesquisas sobre a Formação do Educador; • GPIHMAE - Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Imagem, História e Me- mória, Mediação, Arte e Educação; • NUPAE - Núcleo de Pesquisa em Arte na Educação; • GEPAEC - Grupo de Estudos e Pesquisas em Arte, Educação e Cultura; • GEARTE - Grupo de Pesquisa em Educação e Arte; Arte, Educação e So- ciedade; • GPAP - Grupo de Pesquisa Arte na Pedagogia; • GPEMC - Grupo de Pesquisa em Mediação Cultural: contaminações e pro- vocações estéticas; • ARTEVERSA - Grupo de estudo e pesquisa em arte e docência; • Dimensões contemporâneas de arte na Educação Básica; • Formação Inicial e Continuada de Educadores em Arte: Marcas e Perspec- tivas dos Saberes e Fazeres Docentes; • GEPECS - Cultura e Subjetividade na Educação em Ciências; • Arte, Educação e Formação Continuada; • GEFAI - Grupo de Estudo em Formação de Professores, Arte e Inclusão; • Transviações: Visualidade e Educação; • Cultura Visual e Educação; • Estudos Culturais em Educação e Arte; • Artes da Cena Contemporânea: corporeidade, educação e política; • EDUCATECNOARTE - Grupo de Pesquisa em Arte e Cultura na Educação Tecnológica; • GEMAM - Grupo de Estudos Musicais da Amazônia; • Arte e formação de educadores; • Estudos e pesquisas sobre políticas curriculares para o ensino de arte na educação básica; • Cognição e Subjetividade;
- 38. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 3 29 • Formação de profissionais da educação e práticas educativas; • Formação básica e continuada de professores; • Grupo de estudo e pesquisa em Formação de Educadores e Políticas Pú- blicas; • ALLE - Alfabetização, Leitura e Escrita; • GIIP - Grupo Internacional e Interinstitucional de Pesquisa em Convergên- cias entre Arte, Ciência e Tecnologia; • GIAPE - Grupo de Pesquisa sobre Infância, Arte, Práticas Educativas e Psi- cossociais; • Políticas e Práticas de Educação Básica e de Formação de Professores; • Grupo Tecendo - Educação Ambiental e Estudos Culturais; • Criatividade e inovação na arte, na ciência e no cotidiano; • Modernidade, Cultura(s) e Escola(s) na cidade de São Paulo nos séculos XIX e XX; • LabCine - Laboratório de Artes Cinemáticas; • Diálogos de inquietudes; • MediaLab - Núcleo de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em Mídias Interativas; • GREAS - Grupo de estudio sobre Ecoformacion artística y Sociedad; • "O tempo não é mais forte" – Programa Educativo Bienal de Cuencas; • CIEBA-Centro de Investigação e Estudos em Belas-Artes. A partir desse levantamento, percebemos, inicialmente, que os 43 grupos de pesquisa que vêm realizando as suas atividades com aproximações em torno de temas “arte, pedagogia e mediação” estão em várias partes do país, embora prevaleçam na região sudeste e, mais precisamente, no Estado de São Paulo. De modo mais detalhados temos: 22 grupos em São Paulo; 2 grupos em Minas Gerais; 2 grupos no Rio de Janeiro; 3 grupos no Rio Grande do Sul; 4 grupos em Santa Catarina; 2 grupos no Paraná;2 grupos em Goiás e 1 no grupo no Distrito Federal; 1 em Pernambuco, 2 grupos no Pará, além dos grupos internacionais em três diferentes Países, França, Portugal e Equador. Compete ainda salientar que, dentre os grupos listados encontramos um grupo ligado à educação básica e um grupo ligado ao ensino médio técnico-profissional. Vejamos no gráfico a seguir os grupos encontrados distribuídos por Estados/Países:
- 39. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 3 30 Quanto às instituições também há uma pluralidade conforme o Quadro 1 apresentado a seguir. Vale destacar que prevalecem os grupos vinculados às instituições públicas e, em sua maioria, vinculados às atividades do ensino superior nas Universidades Federais e em cursos de Pós-graduação. REGIÃO NORTE REGIÃO NORDESTE REGIÃO SUL REGIÃO SUDESTE REGIÃO CENTRO-OESTE OUTROS PAÍSES UFPA-PA UFPE-PE UDESC – SC UNICAMP – SP UFG – GO CEAQ, Paris V – Paris (França) UEP – PA UNIVILLE – SC USP – SP UnB – DF Bienal de Cuencas – Equador UFSM – RS UNESP – SP Universidade de Lisboa, Faculdade de Belas-Artes UFRGS – RS PUC – SP UEL – PR MACKENZIE – SP UNESPAR – PR CAp/UFJF – MG IFSC – SC UERJ – RJ UFSC – SC UFV – MG UFRJ –RJ FCC – SP ATELIÊ BINÁH – SP UCSC – SP QUADRO 1: Instituições de vinculação do Grupo de Pesquisa distribuídas por regiões/países Fonte: Arquivos II Simpósio Internacional Formação de Educadores em Arte e Pedagogia
- 40. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 3 31 Quanto ao tempo de existência, percebemos grupos que possuem mais de uma década como o GEARTE (UFRGS), o LABORARTE (UNICAMP), o NUPAE (UNIVILLE), o GEPEFE (USP), o GEPAEC (UFSM). Mas, ao mesmo tempo, há um número considerável de grupos novos que surgiram há menos de cinco anos e em diferentes locais como os Institutos Federais e os Colégios deAplicação, as universidades criadas nos últimos tempos. Um aspecto relevante destacado pelos dados refere-se ao fato de que os grupos de pesquisa criados mais recentemente fazem-se em uma zona interdisciplinar, articulando diferentes áreas de conhecimento, produzindo outro modo de ser e fazer pesquisa no coletivo. Talvez esses aspectos tenham sido os pontos de maior relevância durante o encontro, principalmente pela disposição à conversa entre aqueles que há mais de uma década estão em atividade e o que fazem os seus primeiros passos. Uma partilha de diferentes pensamentos e abordagens estabelecida a partir do diálogo foi sendo feita sem qualquer tipo de hierarquização ou classificação. utilizando-se como fio condutor para os primeiros alinhavos à disposição de estar junto para aprender com o outro, modos de ser e de fazer-se enquanto um grupo de pesquisa. Sobre estes grupos, também interessa destacar que não são todos que estão vinculados a Faculdades ou Departamentos de Arte. Muitos, estão vinculados às Faculdades e Departamentos de Educação, principalmente os grupos que apresentam maior interesse pela temática da formação docente, ou seja, há neste aspecto um dado que nos faz pensar também os modos de ser e fazer de grupos de pesquisa, pois, os lugares de onde tais grupos falam ou onde se situam nas universidades os constituem. Talvez seja preciso criar ou propor zonas de encontro ou provocar aproximações na produção de conhecimentos em arte na/para a formação docente a partir do trabalho de grupos de pesquisa. A partir da cartografia dos grupos de pesquisa se provocou um encontro para uma partilha sobre os modos de ser e fazer grupos de pesquisa. Uma troca feita a partir da divulgação, criação e compartilhamentos teóricos e estéticos de cada coletivo que aceitou participar do evento. Para esta partilha foi pensado uma troca a partir de um vídeo de 3 minutos. A produção do vídeo deveria levar em conta que o foco eram os modos de ser e fazer investigações coletivas por grupo de pesquisa, assim os vídeos deveriam conter: Nome do grupo, instituição/local, objetivos da pesquisa atual e em especial as formas/modos/processos/ metodologias inerentes e principais referências teóricas e/ou artísticas. Dos 4 grupos convidados, foram recebidos 22 vídeos. Foram muito mais grupos do que aquilo que era imaginado. O desafio passava a ser o modo como colocar em conversa estes grupos. Para isso foi feita uma distribuição de vídeos de acordo com três temáticas: arte; formação-pedagogia; interdisciplinares. Tal distribuição, permitiu que durante o evento os vídeos fossem apresentados em blocos de acordo com a divisão por temas. E em cada bloco, perguntas eram feitas. conversas eram estabelecidas, diálogos eram tramados, caminhos de encontros e trocas eram
- 41. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 3 32 planejados e uma grande rede foi sendo construída pelas pessoas no evento. O que nos permitiu perceber de algum modo a força do coletivo, do estar juntos para produzir outros modos e maneiras de pensar a arte, a formação docente e a mediação. 4 | POSSIBILIDADES DE NOVAS TRAMAS PARA A PESQUISA EM ARTE E DO SEU ENSINO Observamos na atividade com diferentes grupos de pesquisa que estamos tecendo novas e diferentes tessituras para provocar/fazer/compartilhar pesquisas em Arte e do seu ensino, que podem levar a descobrir espaços de luta de produção de significados, distintos daqueles que vêm nos aprisionando há séculos em uma neutralizada concepção limitada do mundo e da vida. Percebemos nos fios dos diferentes grupos de pesquisa o anúncio da emergência de outros modos de provocar a produção do conhecimento que tendem a enunciar discursividades produtoras de tensões e questões sobre a própria pesquisa que subvertem procedimentos que fixam e rotulam ideias, pensamentos, produção. São fazeres que trilham dizeres específicos. São modos de provocar/fazer/pensar/ compartilhar a produção do conhecimento em Arte e do seu ensino que podem ser encarados como condutas políticas e estéticas. Poderíamos ousar dizer que a forma na qual foi concebida o encontro com os grupos de pesquisa nos deixou em suspenso. Por que trilharam (e compartilharam) diferentes caminhos de pensar/fazer/provocar pesquisa representando tipos de resistências que não partem mais de pesquisas IDEAIS, mas sim, de pesquisas IDEIAS. Em um movimento de trilhar e compartilhar modos de fazer pesquisa e de ser um grupo de pesquisa a partir da experimentação de possibilidades de desenvolver um trabalho coletivo. Não há um único modo específico de organizar um grupo de pesquisa, tão pouco uma ordem criteriosa para criar um grupo. As possibilidades começam a aparecer a partir do momento em que nos colocamos em uma atitude de abertura ao outro para construir um trabalho coletivo, para iniciar uma parceria e permitir o diálogo e a negociação constante na constituição de um grupo de pesquisa. É como uma trama que vai sendo tecida pelo encontro de fios, no cruzamento de pontos e no enredamento de aspectos, urgências e necessidades que são capazes de mobilizar afetos e pensamentos em torno de um tema, de uma questão cotidiana ou de um incômodo e que provocam o surgimento de um coletivo que se reúne para estudar, pesquisar, aprender e compartilhar um pensamento ou conhecimentos em torno de um determinado projeto ou tema. A força dos afetos e desejos mobilizados por estes coletivos nos mostram a importância de um trabalho que se produz com a participação do outro, no diálogo e na conversa e na negoaciação constante do que pode ser feito, das maneiras
- 42. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 3 33 de se pensar uma pesquisa, nas formas de compartilhamento. E que as relações estabelecidas no grupo de pesquisa possuem uma força que transborda e vai além de uma relação de líder e pesquisadores e se coloca como uma possibilidade de criação e experimentação de diferentes maneiras de pensar e provocar a pesquisa. É preciso que se leve este elemento para a formação de novos docentes e também na formação continuada para que as modificações comecem a acontecer nos pequenos espaços em que atuamos e mobilizamos nossos movimentos e pensamentos para pensar de diferentes modos os modos de ser e de fazer grupos de pesquisa em Arte, Pedagogia e Mediação.
- 43. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 4 34 DISCRIMINAÇÃO RACIAL NOS DISCURSOS DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL CAPÍTULO 4 doi Ketno Lucas Santiago Universidade Federal do Pará – UFPA Programa de Pós-Graduação em Linguagens e Saberes da Amazônia – PPLSA Bragança – Pará Ana Paula Vieira e Souza Universidade Federal do Pará – UFPA Programa de Pós-Graduação em Linguagens e Saberes da Amazônia – PPLSA Bragança – Pará RESUMO:Apesquisa tem foco nos discursos de professores acerca das relações étnico-raciais na Educação Infantil de Escolas Municipais de Bragança-PA, com vista a valorização da criança negra e o conhecimento da Lei Nº 10.62903. Objetivo principal é de analisar os discursos de professores sobre a discriminação racial manifestado entre crianças na sala de aula e ações realizadas no combate desse racismo para o empoderamento de criança negra. O tipo de pesquisa é de abordagem qualitativa, com o uso da entrevista semiestruturada com utilização da técnica de análise do discurso. Participaram 07 professores efetivos da rede municipal. Os discursos de professores revelam que raramente trabalham a temática em sala de aula, que tem dificuldades de atuar no momento de racismo entre os alunos. Ainda, mostram não dominar a compreensão de cor/raça, do mesmo indicam vivências recorrentes de discriminação racial na sala de aula. Em relação à valorização dacriançanegra,quenãotrabalham.Emrelação a Lei Nº 10.6392003 conhecem a existência, mas não sabem exatamente do que ela trata, desconhecem o conteúdo da legislação a respeito do Ensino de História, Cultura Afro- brasileira e Africana, não souberam dizer das questões étnico-raciais. Conclui-se, que os professores carecem de aperfeiçoamento e formação continuada no campo das relações étnico-raciais, concepção teórica de currículo de Educação Infantil, apropriação do uso das linguagens e experiências no cotidiano da sala de aula, em especial no campo das étnico- raciais. PALAVRAS-CHAVE: Professores. Étnico- raciais. Racismo. ABSTRACT: The research focuses on teachers’ discourses about ethnic-racial relations in the Early Childhood Education of Municipal Schools of Bragança-PA, with a view to valuing the black child and knowledge of Law Nº 10.639 03. The main objective is to analyze the teachers’ discourses about racial discrimination manifested among children in the classroom and actions taken to combat this racism for the empowerment of black children. The type of research is qualitative approach, with the use of the semi-structured interview using the
- 44. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 4 35 technique of discourse analysis. Seven effective teachers from the municipal network participated. Teachers’ discourses reveal that they rarely work in the classroom, which has difficulties to act in the moment of racism among the students.Also, they show not to dominate the understanding of color / race, of the same indicate recurrent experiences of racial discrimination in the classroom. In relation to the valuation of the black child, they do not work. Regarding Law No. 10,639,2003 they know the existence, but they do not know exactly what it is about, they do not know the content of the legislation regarding History Teaching, Afro-Brazilian and African Culture, they did not know about ethnic-racial issues. It is concluded that teachers lack continuous education and training in the field of ethnic-racial relations, theoretical conception of curriculum in Early Childhood Education, appropriation of the use of languages and experiences in the everyday classroom, especially in the field of ethnic- racial relations. KEYWORDS: Teachers. Ethnic-racial. Racism. 1 | INTRODUÇÃO A Lei Federal Nº 10.639/03, ampliada pela Lei Nº 11.645/08, modifica historicamenteaeducaçãonoBrasil,aoalteraraLDBNº9.394/96,exigindoainclusãono currículo temas relacionados ao ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana. Para Santos et al. (2014, p. 107) a lei é considerada um “avanço do Século XXI” por representar “uma nova história de afirmação de direitos em prol da valorização da cultura afro-brasileira e africana nos currículos oficiais da Educação básica no Brasil”. No Brasil, a promulgação a Lei 10.639/03, fruto dos movimentos sociais, em especial do “movimento negro”, visando diminuir as desigualdades relacionadas ao “racismo, preconceito e discriminação racial acumulados historicamente” (SANTOS, et al., 2014, p. 110), reproduzido pelo currículo tradicional. Nesse contexto, de luta do Movimento Negro, a Lei Nº 10.639/03, estabelece a obrigatoriedade de os currículos das escolas o ensino afro-brasileiro e africano, considerado um avanço no campo da política curricular, todavia, ainda carece de efetivação nas práticas pedagógicas de professores, com o intuito de concretizar ações de valorização de identidades de crianças afrodescendentes nas escolas. Consideramos, portanto, que a prática pedagógica de professores no trato das relações étnico-raciais na rede municipal de Bragança requer formação continuada e aperfeiçoamento, principalmente na compreensão das muitas infâncias e da diversidade infantil com vista as singularidades e “especificidades desse grupo geracional” (SOUZA, 2009, p. 32). Ainfância para Souza (idem) é “fruto de construções culturais e históricas imbricadas por conceitos” que “[...] contribui significativamente para revelar crianças como sujeitos sociais, que constroem saberes, competências e comportamentos partilhados com seus pares”. Por isso, a autora defende uma ação pedagógica pela valorização da identidade de crianças negras na Educação Infantil com vista ao combate da discriminação social presente na comunidade escolar.
- 45. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 4 36 Assim, a questão problema neste estudo, procura saber, de que forma se caracteriza nos discursos de professores a discriminação racial na Educação Infantil e o conhecimento da Lei Nº 10.63903 com vista a valorização da identidade de crianças negra no âmbito escolar? A fim de alcançarmos a proposição deste estudo, elegemos o objetivo geral; analisar os discursos de professores sobre a discriminação racial vivenciadas entre crianças no ambiente escolar; identificar as ações realizadas pelos professores no combate do racismo visando valorizar a criança negra; e verificar o conhecimento dos professores de Educação Infantil sobre a Lei Nº 10.639/03. Assim, o objeto de estudo desta produção textual, metodologicamente assume a pesquisa, no campo da abordagem qualitativa, por se tratar de fenômeno social interligado aos sujeitos que vivenciam a discriminação racial, que segundo Chizzotti (2010, p. 28) objetiva “interpretar o sentido do evento a partir do significado, que as pessoas atribuem ao que falam e dizem”, ou seja, o de extrair da análise interpretativa, os sentidos atribuídos pelos professores a respeito do racismo entre crianças de Educação Infantil e o seu saber sobre a Lei Nª 10.63903. O critério para a escolha dos professores aconteceu pela seleção da Escola, próxima ao Campus de Universitário de Bragança, por atender o entorno da UFPA, o professor trabalhar mais de cinco anos na Educação Infantil, e ser concursado do Município de Bragança. A pesquisa foi realizada em única Escola de Educação Infantil da rede municipal de ensino de Bragança, Estado do Pará. A entrevista foi aplicada em três dias da semana devido a disponibilidade dos professores. Identificamos os participantes da pesquisa pela sigla P, seguida do numeral arábico. Participaram07professorascomidadeentre30e54anos,residentesnoMunicípio de Bragança. Atuam na Educação Básica mais de 16 anos, sendo destes 05 e meio dedicados a Educação Infantil. Em relação a formação inicial 05 professoras possui Graduação em Pedagogia, 01 em Filosofia, 01 com duas graduações (Pedagogia e Letras). A respeito da formação continuada, duas delas possui Especialização, (Educação Especial e Antropologia Filosófica e Gestão Escolar), apenas uma professora com titulação de Mestre em Educação. Isto posto, o corpus de análise permitiu que extraíssemos os significados atribuídos ao racismo e a Lei, o que permitiu a composição dos eixos de análise. 2 | PROCEDIMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS Metodologicamente a pesquisa é de abordagem qualitativa, segundo Chizzotti (2010, p. 28) objetiva “interpretar o sentido do evento a partir do significado que as pessoas atribuem ao que falam e dizem”, ou seja, o de extrair sentidos e significados dos discursos de professores a respeito das relações étnico-raciais. Os dados coletados por meio da entrevista com questões previamente elaboradas
- 46. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 4 37 e comando explicativo acerca do objetivo deste estudo. A entrevista semiestruturada permite uma flexibilidade e uma dinâmica de relação pessoal entre pesquisador e pesquisado, que facilita um maior esclarecimento de pontos que se apresentam com menor clareza para o sujeito entrevistado (MOROZ; GIANAFALDONI, 2006). A pesquisa de campo empírico foi realizada em três escolas da rede municipal de Bragança, que atende a Educação Infantil e Ensino Fundamental Anos Iniciais. O Município de Bragança, na gestão atual por meio da Secretária de Educação adota o currículo com base na teoria de Paulo Freire, a partir de temas de geradores, anteriormente, a gestão passada trabalhou com a proposta curricular dos complexos temáticos com base em Pistrak (Escola do Trabalho). As mudanças na proposta curricular têm promovido aos professores ações formativas a respeito do currículo e de questões relacionadas as infâncias e étnico raciais. As três escolas pesquisadas atendem em média 220 alunos matriculados no turno da manhã e tarde. As escolas possuem em média 85 servidores que atuam na educação. O acesso à escola para a realização da pesquisa de campo empírico foi facilitado pela gestão escolar, que nos apresentou aos sete professores, que se dispusera em colaborar com o estudo. Nomêsdemaioejunhode2017realizou-seacoletadosdados,comaparticipação de 07 professores, da Educação Infantil. O critério para escolha dos professores seguiu algumas orientações, apresentarem tez da pele negra; cabelo afro, ainda que tenham recorridos aos produtos químicos para alisarem, trabalharem no nível da Educação Infantil. Aentrevista com os professores aconteceu no espaço da biblioteca.As entrevistas duraram em média 1h e 20min. Alguns professores tiveram dúvidas em compreender as questões levantadas, assim como, procurou-se reformular as perguntas para não induzir os mesmo as respostas prontas. O roteiro da entrevista composto por questões visando traçar o perfil sócio cultural de professores e pontos direcionados para as relações étnico-raciais e práticas de racismos vivenciadas pelos docentes na sala de aula de Educação Infantil. A entrevista foi gravada com uso dos recursos tecnológicos (celular), anotações no diário de bordo, devidamente transcrita. De posse do material coletado, realizou-se a organização e tabulação das informações, seguindo orientações da técnica da análise do discurso, que facilitou a leitura do corpus de análise. A técnica da análise do discurso, segundo Chizzotti (2010, p. 120) “recobre um amplo espectro de teorias e práticas [...] uma diversidade de orientações de pesquisa e disciplinas”. Ainda, assim a base desta pesquisa é a análise do discurso crítica, pois o discurso para Chizzotii (2010, p. 120) não tem sentido único, mas na perspectiva da “linguagem comum pode significar o diálogo entre falantes”, portanto, a concepção de análise de discurso nesta pesquisa tem o sentido de conjunto de ideias expressos em texto. Assim, “o discurso é a expressão de um sujeito no mundo que explicita sua
- 47. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 4 38 identidade e expõe a ação primordial pela qual constitui a realidade” (Idem). A análise do discurso, portanto, como prática social procura revelar os sentidos e significados atribuídos pelos professores, a partir de suas experiências objetivas e subjetivas, com crianças sobre racismo e a Lei Nº 10.639/13. 3 | DISCURSOS DE PROFESSORES SOBRE AS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAL NA EDUCAÇÃO INFANTIL A presente seção apresenta os resultados da pesquisa acerca dos discursos de professores sobre as relações étnico-raciais na Educação Infantil. Descriminando o nome fictício do professor, idade, sexo, formação e tempo de trabalho desenvolvido no ambiente escolar. NOME FICTÍCIO IDADE SEXO FORMAÇÃO TEMPO A) P1 33 Feminino Pedagogia B) P2 39 Feminino Pedagogia/UFPA, Esp. em Educação Especial 10 anos C) P3 35 Feminino Pedagogia/UFPA 10 anos D) P4 40 Feminino Pedagogia 9 anos E) P5 33 Feminino Filosofia/Pedagogia. Esp. Antropologia Filosófica e Gestão Escolar. Mestrado em Educação. 10 anos F) P6 36 Feminino Pedagogia (PARFOR) Abaetetuba 1 ano G) P7 54 Feminino Pedagogia e Letras 9 anos QUADRO 1 – Perfil Dos Profissionais Da Educação Do Ensino Infantil Fonte: Pesquisa 2017. Os professores são do sexo feminino, se encontram na faixa etária entre 30 e 54 anos. Ainda, a docência tem relação com o trabalho de mulheres, principalmente na Educação Infantil, pois essa prática é recorrente no Município de Bragança. Em relação a formação dos professores, 05 são graduados em Pedagogia, uma professora com formação em Filosofia, uma com duas graduações (Pedagogia e Letras). 02 Professoras com Especialização, sendo uma especialista em Educação Especial e uma em Antropologia Filosófica e Gestão Escolar. Uma professora com titulação em nível do Mestrado em Educação. 3.1 Discurso de professores sobre a cor da pele A Identidade é uma categoria em debate, em construção, uma construção histórica, em movimento, segundo Hall (2005, p. 38) “a identidade é realmente algo formado, ao longo do tempo, através de processos inconscientes, e não algo inato, existente na consciência no momento do nascimento”.
- 48. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 4 39 Para Hall (2005) a categoria etnia, tem um conceito mais amplo que o de raça. “A etnia é um termo que utilizamos para nos referirmos às características culturais - língua, religião, costumes, tradições, sentimentos de ‘lugar’” (HALL, 2005, p. 62). A raça, portanto, marca a diferenciação social por ser “uma categoria discursiva e não uma categoria biológica”. Para o autor, a raça é categoria organizadora de formas de falar, sistemas de representação e práticas sociais (discursos), pouco específico, de diferenças em termos da cor da pele, textura do cabelo características físicas e corporais, etc. (HALL, 2005, p. 62). Nesse sentido, a categoria raça aparece nos discursos de professores como negação do seu pertencimento racial. Conforme os discursos de professores: P3 – “Minha cor é parda”; P6 “Negra”; P7 “Raça humana e minha cor é amarela”. O sujeito nega a sua etnia exatamente por temor ao racismo e preconceito, segundo (MOURA, 2017, p. 09), “o individuo nega seu pertencimento racial e acaba reproduzindo o ideal branco, já que para nossa sociedade tudo o que é negativo está associado à imagem do negro, logo, ninguém quer ser negro”. 3.2 Discursos de professores sobre práticas racistas e ações pedagógicas na sala de aula A concepção de racismo é uma forma de discriminação, muito perversa, segundo Sant’Ana (2005, p. 41), “porque o discriminado não pode mudar as características raciais” da sua própria natureza. Historicamente o racismo tem traços históricos relacionados à escravidão. O racismo é uma construção histórica, fruto de um longo processo de amadurecimento da sociedade capitalista, que objetiva formar e usar mão de obra barata por meio da exploração dos povos colonizados. A exploração da população negra “gerava riqueza e poder, sem nenhum custo-extra para o branco colonizador e opressor” (SANT’ANA, 2005, p. 42). Para P2 “Não. As Crianças da educação infantil por ainda estarem se formando social, biológico e culturalmente, ainda se aceitam mais naturalmente”. Na fala da P4 “Já. Varias vezes. Pensa que eles gostam de serem chamados ou de se acharem gordos e pretos? Eles não gostam não, desde pequeninho”, conforme apresentado nos questionários. Conforme descrito nos questionários de respostas dos professores, no item que questiona se os professores desenvolveram alguma atividade ou trabalho sobre relações raciais, para P2 “Não. Abordei diretamente essa temática, falo muito do respeito pelo diferente”. Segundo P6 “Não. Por que a escola ainda não trabalha com o tema. Pois a escola acaba abordando outros temas que deixa de lado esta temática”, conforme descrito na pesquisa. Depois de desenvolver a entrevista, verificamos o discurso do educador, questionando de que forma se pode abordar o assunto racismo e relações raciais
- 49. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 4 40 na sala de aula. Por isso, a necessidade da formação. Neste sentido, é importante frisar a necessidade de “articular educação, cultura e a formação de professores, com um olhar sobre identidade, nesse sentido, devem-se inserir na formação, iniciais dos professores”, conforme aponta (Moura, 2017, p. 05), contribuindo para o desenvolvimento de atividades com esse teor. A atuação dos profissionais da educação é de extrema importância para se contrapor a reprodução de uma visão conservadora na sala de aula. Para (Moura, 2017 p.05, p.06) “A escola é um espaço onde esses comportamentos, padrões irão estar presentes. É considerado a discriminação racial como produto de uma herança cultural e a escola como mais um espaço legítimo e responsável”, pela transmissão de toda produção dessa cultura. Ao serem questionados sobre, como o educador da educação infantil pode abordar o assunto racismo e as relações raciais na sala de aula, os professores responderam, para P3 “Com vídeos, músicas e figuras para que eles visualizem essas diferenças, a partir disso trabalha as várias culturas, as miscigenações culturais” e para P1 “Através de histórias e também quando surgir situações em sala de aula.”, revelada em nossa pesquisa. 3.3 Formação de Professores, Lei Nº 10.693/2003 A formação de professores é contemplada pelas legislações brasileiras vigentes, principalmente sobre questões ético-racial, contempladas pela Lei Nº 10.639/03, pois trabalhar a especificidade do tema. O trabalho de formação tem a sua relevância para a mudança de valores de uma sociedade, conforme aponta a autora ao afirmar que “o sistema educacional é permeado por contradições, pois a instituição escolar ao mesmo tempo em que tem o intuito de transformar a realidade com suas ações acaba por reproduzir e legitimar os valores, formas de pensar da sociedade vigente”, conforme aponta (MOURA, 2017, p.13). Neste sentido ao abordar as questões e relatam que; P2 “Sim. Há um ano participei de uma palestra referente a essa temática.”, ou como a P3 dizendo simplesmente “Não.”. A grande maioria, não participou de nenhum processo de formação, essa ausência de formação contribui para ampliar a distância em relação ao entendimento do professor sobre o assunto e a ação desenvolvida pelo profissional em sala de aula. Neste sentido, destacamos a necessidade de avançarmos neste campo das relações étnico-raciais, principalmente no que diz respeito a formação do profissional, enquantoumsujeitosóciohistórico,queatribuisentidoesignificadoasietranscendendo para demais referencias coletivos, simbólicos e materiais (GOMES, SILVA, 2006). Podemos entender os profissionais da educação, como peça fundamental em sala de aula, conforme afirma (Moura, 2017, p.15), “pois é ele (a) que irá mediar o processo ensino-aprendizagem e tem a responsabilidade de conduzir a turma para
- 50. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 4 41 quebrar preconceitos, construir identidades”, desenvolvendo durante o ano letivo temas como racismo, raça, apresentando o negro como protagonista, e não apenas como escravo. Ao entrevistar os professores da educação infantil, em relação ao seu conhecimento em relação a lei nº 10.639/03 e como os mesmos, entendem a sua contribuição para a educação, perguntamos também, se na sua sala tem criança negra. Esses questionamentos possuem extrema importância para nossa pesquisa. Pois apontam o nível de conhecimento dos profissionais da educação, em relação a Lei e a contribuição para a educação. No Brasil, instituídos a partir da Constituição Federal de 1988, em seu artigo 227, que trata sobre às crianças, direitos de cidadania, definindo a sua proteção integral, deve ser garantida pela família, pela sociedade e pelo poder público, com absoluta prioridade. (Art. 227da CF/1988, p. 172). Logo após foi a constituição do ECA – Lei federal nº 8.069/90, ratificando os dispositivos da constituição, garantindo a criança, ser sujeitos de direitos. Destaca-se também a criação do FUNDEB - Lei nº 11.494/07, em substituição ao FUNDEF - EC nº14/96 e regulamentada pela Lei nº 9.424/96, logo após a promulgação da LDB. São importantes leis que contribuem para regulamentação da educação infantil. Para (Araujo, 2014 p. 258) cita que “Ao mesmo tempo em que indagamos o reconhecimento ou não da infância, das crianças negras – mesmo que de forma transversal – nas intencionalidades de políticas internacionais antirracistas”, inclusive, chamando nossa atenção para uma eventual possibilidade da educação infantil ocupar algum lugar nos documentos mais recentes. Em relação a história da áfrica e dos africanos, podemos dizer que desde o início do século XXI surge com crescente debate em torno das políticas de igualdade das relações étnico-raciais, conforme cita (SANTOS, 2014, p. 107), “Já no ano de 2001, em Durban, na África do Sul, foi realizada a III Conferência contra o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância Corralatas”, segunda a autora, um marco histórico, pois reconheceu o racismo e suas consequências e orienta para adoção de medidas de combate a questões étnico-raciais. Para (SANTOS, 2014, p. 108), “A implementação da Lei Federal nº 10.639/03, consolidou um marco recente na história da educação brasileira como uma medida afirmativa que altera a LDB nº 9.394/96”, passando a vigorar com o acréscimo dos artigos 26-A, 79-A e 79-B, tornando obrigatória a inclusão no currículo oficial de ensino a temática “História e Cultura Afro-brasileira e Africana”. Os professores ao serem questionados sobre o conhecimento em relação a Lei nº 10.639/03 e como entende a sua contribuição para a educação e se na sua sala tem crianças negras, foi respondido: P2 “: Sim, contudo é lamentável que precisamos de uma lei que rege que temos que respeitar o outro, afinal todos devemos respeitar uns aos outros independentemente de cor, religião e situação econômica”, para P7 “Não.
- 51. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 4 42 Tenho conhecimento sobre a lei. Como entende sua contribuição para a educação? Na sua sala de aula tem criança negra?”, foram algumas das respostas apresentadas. Sendo assim, entendemos que a falta de conhecimento, por parte dos professores, acontece pois a lei não contempla a obrigatoriedade na modalidade da educação infantil, onde os professores que vivenciam esta realidade no seu dia a dia, identificam as atitudes discriminatórias, conforme aponta a pesquisa, por isso a necessidade de ter maior domínio sobre o tema e uma formação continuada para garantir uma atualização da temática entre os professores. 4 | CONCLUSÃO Considerando, o objetivo da pesquisa em conhecer como é manifestado pelos professores práticas racistas vivenciadas pelas crianças no ambiente escolar, as ações de combate ao racismo e o conhecimento acerca da Lei 10.639/03. Os discursos de professores apontam práticas racista pelas crianças no âmbito da Educação Infantil, a saber: São motivadas pelas características físicas, por meio de brincadeiras entre crianças no uso de termos pejorativos, do tipo tição, cabelo de palha, pretinho do mangue, cor feia, etc.; Às crianças em alguns momentos, utilizam a agressão física; Às crianças escolhem com quem brincar, muitas vezes excluem crianças de etnia. As práticas pedagógicas de professores para combater o racismo, ainda são tímidas. Geralmente, os professores recorrem ao combate de práticas racistas, quando é manifestado pelas crianças, não adotam no currículo temas relacionados as relações étnico-raciais, realizam discussões sobre culturas e diversidade, a categoria identidade não é manifestada nos discursos de professores. O estudo revela que a atuação dos professores diante de situações de racismo e discriminação se pauta em ausências de formação e qualificação para atuar. Os professores indicam limitações para trabalhar os conflitos entre às crianças originadas com as práticas racistas. Assim, faz-se importante outras pesquisas nas Escolas da Região Bragantina a respeito das práticas racistas nos discursos de crianças da Educação Infantil e Anos Iniciais, uma vez que é papel de professores trabalhar um currículo que valorize as diferenças, as identidades infantis, assim como a valorização da criança negra, pois o negro historicamente protagoniza a constituição do povo brasileiro. A escola por meio da proposta curricular deve valorizar a Lei 10.639 de 2003, a cultura afro-brasileira, considerando a realidade que a escola vivencia. REFERÊNCIAS ARAUJO, Marlene de. A Lei nº 10.639/2003: Pesquisas e Debates / Wilma de Nazaré Baía Coelho...
- 52. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 4 43 [et al.] (Organizadores). - São Paulo: Editora Livraria da Física, 2014. - (Coleção Formação de Professores & relações étnico-raciais). BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil [recurso eletrônico]. -- Brasília: Supremo Tribunal Federal, Secretaria de Documentação, 2017. Disponível em: https://goo. gl/p7qj7Q. Acessado dia 29 de julho de 2017. _____. Lei Nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Disponível http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm Acessado no 21/08. _____. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 14, de 12 de setembro de 1996. Modifica os arts. 34, 208, 211 e 212 da Constituição Federal e dá nova redação ao art. 60 do Ato das Disposições constitucionais Transitórias. Disponível http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/ emc14.htm Acessado 21/08. _____. Lei nº 10.639, de janeiro de 2003, altera a lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e base da educação nacional, para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira”. https://goo.gl/MaJT9Z. Acessado no dia 25/05. _____. Lei nº 11.645, de 10 de março de 2008. Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, modificada pela Lei no 10.639, de 9 de janeiro de 2003, estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”. https://goo.gl/vLB5LR. Acessado no dia 25/05. CHIZZOTTI, Antônio. Pesquisa qualitativa em ciências humanas e sociais / Antônio Chizzoti. 3 . ed. – Petrópolis, RJ: Vozes. 2010. GOMES, N, L.; Silva, P. B. G. O desafio da diversidade. In. Gomes, N. L.; Silva, P.B.G..Experiências étinco-cultural para a formação de professores. 2. Ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2006. P. 223-277. HALL, Stuart. A identidade Cultural na Pós-Modernidade. 10 ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2005. MOROZ, Melania. O processo de pesquisa: iniciação/Melania Moroz e Mônica Helena Tieppo Alves Gianfaldoni. – Brasília: Líber Livro Editora, 2ª edição, 2006. MOURA, Dayse. Identidade racial na educação infantil: o que pensam as professoras acerca da educação das relações raciais e da construção de uma autoimagem positiva da criança negra?. Disponível em https://goo.gl/xL4woj. Acesso em: 23/07. SANT’ANA, Antonio Olímpio. Superando o Racismo na escola. 2º edição revisada / Kabengele Munanga, organizador. - [Brasília]: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Continuada, alfabetização e Diversidade, 2005. SANTOS, Raquel Amorim dos. A Lei nº 10.639/2003: Pesquisas e Debates / Wilma de Nazaré Baía Coelho...[et al.] (Organizadores). - São Paulo: Editora Livraria da Física, 2014. - (Coleção Formação de Professores & relações étnico-raciais). SILVA. Maria José Lopes da. Superando o Racismo na escola. 2º edição revisada / Kabengele Munanga, organizador. - [Brasília]: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Continuada, alfabetização e Diversidade, 2005. SOUZA, Ana Paula Vieira e. As Culturas infantis no espaço e tempo do recreio: constituindo singularidade sobre a criança; Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Federal do Pará, Instituto de Ciências da Educação, Programa de Pós-Graduação em Educação, Belém, 2009.
- 53. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 5 44 DISCURSOS DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ACERCA DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS: ENTRE PRÁTICAS E DESAFIOS CAPÍTULO 5 doi Marcos Vinicius Sousa de Oliveira Universidade Federal do Pará (UFPA), Faculdade de Educação - Bolsista PIBIC PRODOUTOR, Bragança-Pará Deidiane Costa Guimarães Universidade Federal do Pará (UFPA), Faculdade de Educação - Bolsista PIBIC-INTERIOR, Bragança-Pará Ana Paula Vieira e Souza Universidade Federal do Pará (UFPA), Faculdade de Educação e do Programa de Pós-Graduação em Linguagens e Saberes da Amazônia, Bragança-Pará RESUMO: A pesquisa objetiva analisar os discursos de professores acerca das manifestações de racismo em sala de aula e como eles compreendem a Lei Nº 10.63903 visando a valorização de criança negra em Educação Infantil. As teorias de matriz africana permitem dizer, que ainda existe no campo educacional raro conhecimento sobre a história afro-brasileira e africana, ausência de discussões no currículo relacionado às questões étnico-raciais e a forma como os professores tem percebido o racismo no âmbito de turma de Educação Infantil. Os resultados deste estudo revelam as lacunas na Formação Inicial de Professores a respeito da história do negro no Brasil, manifestadas de forma negativa em suas práticas pedagógicas ao trato com o preconceito e racismo entre as crianças. Ainda, aponta a necessidade de Formação Continuada de Professores no conhecimento da Lei Nº 10.639/03, da construção de um currículo que valorize a cultura afro-brasileira e a discussão da diferença no contexto escolar. Os docentes interlocutores da pesquisa têm tratado no campo curricular as relações étnico- raciais de modo pontual, descontextualizado da vida social de crianças daAmazônia Bragantina, cuja comunidade escolar carece desconstruir preconceitos e estigmas que permeiam o espaço de Educação Infantil. PALAVRA-CHAVE: Educação Infantil; Professores; Relações Étnico-Raciais. ABSTRACT: The research aims to analyze the teachers discourses about manifestation of racism in the classroom and how they undestand Law nº 10.639/03 aiming at the valuation of black children in early childhood education. African metrix theories allow us to say that there is still a rare knowledge of Afro-Brazilian and African history in the educational field, there is no discussion in the curriculum related to ethnic-racial issues and the way in which teachers have perceived racism in the field of Early Childhood. The results of this study reveal the gaps in Initial Teacher Training regarding the history of the black in Brazil, expressed in a negative way in their pedagogical practices to
- 54. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 5 45 deal with prejudice and racism among children. It also points out the need for Continued Teacher Training in the knowledge of Law 10.639 / 03, the construction of a curriculum that values Afro-Brazilian culture and the discussion of difference in the school context. The teachers who interlocutor of the research have dealt in the curricular field the ethnic-racial relations in a punctual, decontextualized way of the social life of children of the Bragantina Amazon, whose school community need to deconstruct prejudices and stigmas that permeate the space of Early Childhood Education. KEYWORDS: Child Education; Teachers; Ethnic-racial relations. 1 | INTRODUÇÃO A pesquisa é fruto de ações de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas no componente curricular Fundamentos Teórico-Metodológicos de Educação Infantil, da Faculdade de Educação em parceria com o Grupo de Estudos, Pesquisa Trabalho e EducaçãoSessão Infâncias do Campus Universitário de Bragança da Universidade Federal do Pará, que tem se constituído em pesquisar Infâncias, Crianças e Formação de Professores naAmazônia Bragantina, Região Nordeste do Pará, em um exercício de correlacionar o referencial teórico interdisciplinar, a prática pedagógica de professores e o ordenamento legal antirracista no currículo de Educação Infantil de escolas da rede municipal de Bragança-PA. As discussões teóricas a despeito das relações étnico-raciais e da Lei Nº 10.63903 como campo de conhecimento tem se configurado no contexto da educação escolar, um espaço e lugar de desconstrução do currículo ocidental, por existir conflitos no campo curricular padronizado na educação escolar do Brasil, que de outro modo tem sido contestado pelo movimento social negro por se caracterizar na contemporaneidade ambiente favorável às discussões sobre o lugar, a valorização da diferença e da diversidade cultural no âmbito escolar. A diversidade cultural e a diferença têm sido discutidas de forma “desigual e discriminatória” (GOMES, 2011, p. 688) no que tange a etnia, o gênero, a orientação sexual, os direitos humanos etc., pois esses debates ainda são invisibilizados na proposição dos currículos escolares, em especial ao trato das questões étnico-raciais, uma vez que são elas constituintes da identidade do povo brasileiro, historicamente encobertas e estigmatizada na representação do negro no Brasil. A invisibilidade curricular a respeito da história do negro arrancado do continente africano pelo sistema de escravidão contribui para o processo de colonização da discriminação e do preconceito racial. A discriminação da etnia são manifestações dessa natureza, recorrentes em vários setores da sociedade, “ora de forma velada, ora escancarada” (LOPES, 2005, p. 186). Os veículos de comunicação, tem diariamente noticiado casos de discriminação, racismo e preconceito no ambiente escolar e na sociedade civil. Nessa perspectiva, “as formas de discriminação de qualquer natureza não têm seu nascedouro na
- 55. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 5 46 escola, porém o racismo, as desigualdades e discriminações correntes na sociedade perpassam por ali” (BRASIL, 2013, p. 501). A negação histórica da escravidão, da formação populacional brasileira no campo educacional a respeito do conhecimento da história afro-brasileira e africana, possibilita reflexões relacionadas a precariedade do debate curricular, a forma como tem sido pensado para o trato das questões étnico-raciais no ensino de Educação Infantil e como professores tem percebido o preconceito e o racismo no âmbito escolar. A ausência de um currículo crítico em Educação Infantil de escolas da rede municipal bragantina na valorização do ensino afro-brasileiro se manifestou no desconhecimento de alguns professores sobre a Lei Nº 10.639/03, que versa sobre o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana na Educação Básica, por contribuir de modo significativo no enfrentamento e na ampliação dos debates a respeito de discriminação no Brasil. A Educação Infantil deve primar por um currículo permeado pelas múltiplas linguagens no desenvolvimento pleno de crianças, cujo trabalho pedagógico de professores promova o ensino para a compreensão das diferenças, do respeito ao outro, processo educacional que vise a formação cidadã, que possibilite às crianças o contato com a diversidade cultural, que valorize posturas de tolerância, de combate ao preconceito e ao racismo. Isto posto, a pesquisa partiu de questões norteadoras, que buscou saber se os professores de escolas municipais de Bragança-PA vivenciam o preconceito e o racismo entre crianças? Que ações pedagógicas são tomadas para combater o racismo e valorizar a criança negra no âmbito de Educação Infantil? Que conhecimento eles possuem a respeito da Lei Nº 10.63903? Metodologicamente a pesquisa é de abordagem qualitativa por se tratar de situações envolvendo pessoas. Para responder as questões-problema utilizamos a entrevista semiestruturada, com roteiro de perguntas versando sobre o racismo, à existência da Lei 10.639/03 e a realização de atividades pedagógicas no combate ao racismo entre as crianças de Educação Infantil. Para a escolha de Professores seguimos os critérios de seleção: a) ser professor (a) efetivo da rede municipal de Bragança-PA e b) atuar por mais de dois em turma de Educação Infantil. Participarem duas Professoras de escolas de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino de Bragança, Estado do Pará. As entrevistas foram aplicadas na sala dos Professores, identificadas por Professora A e Professora B. A primeira com 54 anos e a segunda com 36 anos, ambas residentes em Bragança. De posse do material coletado, os dados foram organizados em quadro, a fim da realização de leitura e compreensão do dito e não dito nos enunciados de professores. Para isso, utilizou-se a técnica de análise do discurso para categorizar e revelar os significados manifestados nos discursos de professores sobre a Lei Nº 10.639/03, as questões étnico-raciais e o racismo em sala de aula.
- 56. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 5 47 2 | DISCUSSÃO E ANÁLISE A constituição do corpus dos enunciados discursivos de professores de Educação Infantil nos possibilitou eleger três categorias de análise: a) Consciência Racial, b) Prática Pedagógica e c) Formação Continuada, elas mostram as realidades que permeiam as discussões direcionadas para o campo das relações étnico-raciais e a aplicação da Lei nº 10.639/03 no currículo escolar bragantino. Os docentes ora revelam raros conhecimentos a despeito da Lei e do ensino afro-brasileiro, ora suas ações pedagógicas são pontuais no combate ao racismo entre crianças de Educação Infantil. A categoria Consciência Racial, tem o sentido de pertencimento, uma dimensão histórica visando ações sociais, culturais de valorização da sociedade brasileira multicultural, não uma discussão restrita ao dia alusivo da consciência negra, sobretudo, pela efetivação de políticas de ações afirmativas em Instituições de Ensino, de implementação de Leis, de currículo crítico decolonial, que considere a tez da pele de crianças, que valorize a construção de identidade das pessoas. Nos discursos de Professores da Amazônia bragantina aparece a categoria consciência racial relacionado à existência de criança negra, que eles consideram como negro, muitas vezes sem considerar a identidade negra. Ainda, os docentes atuam pedagogicamente quando existe na concepção deles a presença de criança negra no âmbito da sala de aula, essa ação revela ausência do conhecimento da Lei 10.639/03, de se promover o ensino acerca da diversidade cultural no contexto de Educação Infantil. A ausência de um currículo que aborde a riqueza da cultura afro-brasileira e as suas contribuições na formação cultural (MUNANGA, 2005) do povo brasileiro, ocasiona a negação da história do negro no processo de construção de valores, acarreta o estranhamento pelo o que é diferente. Essa ausência de consciência racial pode ser identificada nos discursos da Professora B. Professora B: Não tenho alunos negros na sala de aula. Talvez seja por isso que a gente não pensou em trabalhar com temas voltados para esta questão. O discurso da Professora B mostra o desconhecimento do que é ser negro, da história da cultura negra, que para Munanga (2005) é evidenciado como campo de conhecimento amplo, não deve ser importante somente para a pessoa negra, mas o debate deve interessar as pessoas, por ser o Brasil uma nação miscigenada, multicultural, uma vez que historicamente a escola privilegiou a cultura europeia. O currículo reiteradamente inculcou por meio do ensino na mente das pessoas a valorização da tez branca, uma ideologia de soberania e privilégios. Assim, esse ideário do currículo ocidental carece ser descontruído por meio da memória e da valorização da história negra e suas influências no processo sociocultural brasileiro, principalmente na base, em Educação Infantil, onde os valores sociais e escolares são
- 57. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 5 48 inicialmente construídos com vista ao desenvolvimento pleno de crianças. A falta em compreender as questões étnico-raciais no currículo escolar, da não sensibilidade em promover discussões sobre o preconceito e o racismo com as crianças em Educação Infantil reflete diretamente na prática pedagógica de professores, que muitas vezes são realizadas nas escolas por meio de projetos pontuais em Educação Infantil. Professora A: Há quatro anos, foi trabalhado esse tema aqui na escola, um projeto com essa temática, porém não recordo o nome do projeto, por que ocorreu há muito tempo. O projeto se desenvolveu a partir de situações vivenciadas dentro de sala, e aí! A escola toda se mobilizou na ação. Professora B: [...] por meio de um projeto a criança pode estar construindo o autoconceito sobre as relações étnico-raciais. Observa-se que os projetos são as atividades mais recorrentes na prática pedagógica de professores da Amazônia bragantina, pontualmente são tratados nos currículos da escola, descontextualizados do saber cultural de crianças, essas ações mormente não promovem grandes mudanças nas discussões sobre as questões étnico-raciais, pois faz-se necessário que esse conhecimento faça parte do Projeto Político Pedagógico da escola, com ações e metas ao longo do ano. Os discursos de Professores da Amazônia bragantina revelam raro domínio no campo teórico-metodológico das relações étnico-raciais, o que contribui de forma significativa para invisibilizar ações de combate ao racismo entre as crianças em sala de aula. Eles revelam lacunas na sua formação inicial, indicando a necessidade de formação continuada para esses professores atuantes em Educação Infantil, visando contribuir com sua prática pedagógica ampliando e valorizando a criança negra. A Formação Continuada no dizer de Chagas (2016) para as relações étnico- raciais deve ser permanente, que possa contribuir com a prática do professor em relação às transformações sociais e culturais no campo escolar, sejam elas promovidas pelo órgão maior Secretaria Municipal de Educação (SEMED-BRAGANÇA) ou pelas próprias escolas pesquisadas, como indica a fala das professoras. Professora A: A escola geralmente não oferece formação, mais a prefeitura oferece esses discursões por meio do planejamento anual. Professora B: [...] foi um planejamento de apenas dois dias, oferecido pela SEMED- Bragança, no ano de 2015. Foi muita informação importante sobre as relações étnicas raciais em um curto período, entretanto a formação não foi direcionada para a Educação Infantil, não ensinando a como se trabalhar essas questões em sala de aula, se deu de forma geral abrangendo todos os níveis. Tendo em vista o contexto de diversidade cultural existente dentro das salas de aulas, é imprescindível que o docente esteja em constantes formações, para que possa realizar suas práticas de acordo com a realidade vivenciada no ambiente escolar,
- 58. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 5 49 e que vise principalmente o respeito e a valorização das diferenças contidas dentro de sala, assim contribuindo para que desconstrua a visão etnocêntrica que permeia o ambiente escolar, remetendo-nos a entender que “a aprendizagem não se realiza de forma estática, mas que acontece como um processo dinâmico que compreende a reelaboração do saber aprendido em contraste com as experiências do cotidiano” (GONÇALVES; SOLIGO, 2016 p.10). Percebe-se ainda a ausência desses debates na Formação Inicial, pois não tiveram contato com a temática das relações étnico-raciais, tendo efeitos negativos em desconhecer a Lei nº 10.639/2003, o que a invisibiliza e não a articula com o contexto cultural das crianças. No dizer das Professoras elas não conhecem a Lei. Professora A: [...] não tenho conhecimento sobre a lei. Professor B: A lei poderia até contribuir se ela fosse efetivada, se todas as escolas trabalhassem, se todos se colocassem pra trabalhar. Não só a escola, mas a SEMED, órgão maior pudesse estar sensibilizando para que todas as escolas falassem sobre a temática, de forma bem direcionada. Seria uma excelente colaboração para que essa lei pudesse estar em vigor e funcionar. Esta realidade reafirma a necessidade de formações constantes conforme diz Chagas (2016), para que o conhecimento sobre as relações étnico-raciais e a Lei Nº 10.639/03 sejam refletidas na prática docente, isso significa dizer que os discursos de Professores evidenciam que a responsabilidade é do Sistema Escolar, que tem a obrigatoriedade em promover formação sobre o racismo. Contudo, a gestão escolar tem função de intervir no meio social em que está localizada, nesse sentido a escola da Amazônia bragantina não tem se posicionado de maneira satisfatória, como espaço social de transformação da sociedade. 3 | CONSIDERAÇÕES FINAIS Diante dos aspectos observáveis por meio dos enunciados discursivos de Professores da rede Municipal de Ensino Infantil de Bragança foi possível perceber que elas não desenvolvem com frequência discussões acerca das questões étnico-raciais e raramente existe a preocupação do Sistema Educacional da Amazônia bragantina a respeito da formação docente para as relações étnico-raciais. Essas lacunas na prática docente interferem negativamente na construção identitários de crianças. Percebeu-se ainda, que os professores desconhecem a Lei 10.639/03 e isso reflete em sua pratica pedagógica e no desenvolvimento social e cultural de crianças. A aplicabilidade desta Lei no currículo escolar é fundamental para o combate do racismo em educação, pois consolida e expande as políticas de ações afirmativas em todo o território nacional, assim como, garante o direito de igualdade, de oportunidades, visando descontruir o
- 59. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 5 50 mito da democracia racial. REFERÊNCIAS BRASIL. Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica. Brasília, MEC, SEB, DCNEB, 2013. CHAGAS, W. F. Formação continuada de professores/as e a educação para igualdade racial: um desafio político. XVII Encontro Estadual de História – ANPUH-PB ISSN: 2359-2796, v. 17, n. 1, 2016. Disponível em: <http://www.ufpb.br>. Acesso em: 18 ago. de 2017. GOMES, L. N. Desigualdades e diversidade na educação. Educ. Soc., Campinas, v. 33, n. 120, p. 687-693. 2011. GONÇALVES, L. R. D; SOLIGO, Â. F. Educação das Relações Étnico-Raciais: O Desafio da Formação Docente. p. 1-14. Disponível em: < http://29reuniao.anped.org.br/trabalhos/trabalho/GT21- 2372--Int.pdf>. Acesso em: 04 de ago. 2017. LOPES, V. N. Racismo, preconceito e discriminação. In: MUNANGA, K. (org.) Superando o racismo na escola. 2. ed. Brasília: MEC/ Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, 2005. MUNANGA, K. (Org.). Superando o racismo na escola. 2ª ed. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, 2005.
- 60. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 6 51 EDUCAÇÃO ESCOLAR, MOVIMENTO E PROFESSORES INDÍGENAS NA AMAZÔNIA: DIMENSÕES DA LUTA PELO RECONHECIMENTO DA DIVERSIDADE E DA DIFERENÇA DE POVOS EXISTENTES NO BRASIL CAPÍTULO 6 doi Fernando Roque Fernandes Departamento de Educação Escolar Indígena (DEEI) Faculdade de Educação (FACED) Universidade Federal do Amazonas (UFAM) Manaus - Amazonas RESUMO: Desde meados do século XX, os povos indígenas têm sistematizado atuações políticas por meio de instrumentos recorrentes entre os não índios, sem abandonar suas práticas milenares. Os movimentos indígenas atuam de modo amplo, pautando demandas e alcançandoconquistas.Dentreelas,aEducação é uma baliza importante. Nesse sentido, o objetivo deste texto é apresentar elementos que nos permitam refletir sobre as articulações indígenas por uma educação específica e diferenciada sopesando o lugar que ela ocupa nos processos políticos nos quais os indígenas estão inseridos e seus desdobramentos. Os apontamentos apresentados informam indícios e rascunham interpretações, desde uma perspectiva que privilegia o protagonismo indígena. Assim, encaminhamos um ensaio acerca da evolução do panorama educacional vinculado à questão indígena, indicando alguns apontamentos acerca dos dados reunidos no início de uma pesquisa sobre Educação Escolar Indígena na Amazônia Brasileira. Por meio dela, pretendemos indicar um nexo que, segundo nos parece, deve ser ressaltado: a importância do protagonismo indígena na conformação de uma política de Estado para a Educação Escolar Indígena. Desse modo, o texto dá os primeiros passos na reflexão não somente dos nexos que ligam aquela educação às lutas dos movimentos indígenas, mas, também, na ponderação acerca de uma inflexão nas políticas indigenistas, as quais, nos últimos anos, passaram a contar com a participação direta dos coletivos indígenas. PALAVRAS-CHAVE: Movimento Indígena Contemporâneo; Educação Escolar Indígena; Amazônia brasileira; Protagonismo Indígena; Agência Indígena. ABSTRACT: Since the mid-20th century, indigenous peoples have systematized political actions through recurrent instruments among non-Indians, without abandoning their millennial practices. The indigenous movements act in a broad way, setting demands and achieving achievements. Among them, Education is an important landmark. In this sense, the purpose of this text is to present elements that allow us to reflect on the indigenous articulations by a specific and differentiated education, considering the place that it occupies in the political processes in which the Indians are inserted and their unfolding. The notes
- 61. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 6 52 presented present clues and sketch interpretations, from a perspective that privileges the indigenous protagonism. Thus, we forward an essay about the evolution of the educational landscape linked to the indigenous question, indicating some notes about the data collected at the beginning of a research on Indigenous School Education in the Brazilian Amazon. Through it, we intend to indicate a nexus that, it seems to us, must be emphasized: the importance of indigenous protagonism in shaping a State policy for Indigenous School Education. Thus, the text takes the first steps in the reflection not only of the links that link that education to the struggles of the indigenous movements, but also in the consideration of an inflection in indigenous policies, which in recent years have relied on the direct participation of indigenous groups. KEYWORDS: Contemporary Indigenous Movement; Indigenous School Education; Brazilian Amazonia; Indigenous Protagonism; Indigenous Agency. 1 | INTRODUÇÃO Historicamente, a escola, como instituição de origem ocidental, se apresenta como importante elemento nas relações estabelecidas entre índios e não-índios. Durante muito tempo, a mesma foi utilizada como mecanismo estratégico na materialização de projetos assimilacionistas e integracionistas que intentaram, desde os primeiros contatos, processos de desestruturação étnica de sujeitos e coletivos étnicos. No entanto, nas últimas décadas, a Educação tem se conformado como mecanismo de autodeterminação à medida que possibilita a certos indivíduos e coletivos indígenas a oportunidade de estabelecer diálogo entre conhecimentos científicos e cosmológicos a partir de processos educacionais específicos e diferenciados que se propõem a disseminar ideias de respeito à diversidade e a diferença de povos existentes no Brasil. Tais mudanças resultam de logos processos de articulação política de movimentos indígenas relacionados à questão da terra, saúde e educação num processo ainda em curso na sociedade brasileira. Nesse sentido, o objetivo deste texto é apresentar algumas questões relacionadas aos sentidos atribuídos às escolas e os processos educacionais empreendidos pelos coletivos indígenas no sentido de fortalecer a luta pela defesa e conquista de direitos educacionais na Amazônia. A partir disso, consideramos oportuno indicar algumas questões para se pensar certos processos históricos que dimensionaram a criação de propostas educacionais para sujeitos e coletivos indígenas a partir da concepção de que tais políticas resultaram e ainda hoje têm resultado das diferentes estratégias empreendidas pelos próprios indígenas, especialmente, através das articulações políticas dos movimentos étnicos representados por suas associações e organizações em dimensões locais, regionais, nacionais e internacionais.
- 62. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 6 53 2 | ESCOLAS INDÍGENAS EM PERSPECTIVA As nações e povos indígenas têm direito a receber educação e a negociar com os Estados nas suas próprias línguas e de criar suas próprias instituições educativas (ONU, Genebra, 1985). Ao longo do processo educacional na história brasileira, a escola foi tomada como uma instituição indigenista na conformação do processo de assimilação dos povos indígenas pela comunidade envolvente. O binômio política indígena/política indigenista foi, durante muito tempo, utilizado para diferenciar as estratégias utilizadas pelos diferentes sujeitos em interação, considerando as ações de cada um como estratégia particular. Hoje, podemos pensar a Educação Escolar Indígena como parte de uma política de natureza profundamente indígena que se conforma a partir da interação entre atores sociais indígenas e não indígenas conformando, em certo sentido, a criação de políticas indigenistas por parte do Estado que, em suas origens são informadas pelas políticas indígenas. Isso decorre do fato de a Escola Indígena, na atualidade, resultar da luta dos povos indígenas pelo direito à uma educação específica e diferenciada. Ela se constitui, também, como um espaço a partir do qual diferentes sujeitos e coletivos indígenas se articulam na construção de uma consciência do necessário posicionamento político frente à sociedade não indígena. O resultado dessas ações se dá pela ampliação seus espaços de liberdade e de atuação política no âmbito da sociedade brasileira. Em perspectiva, as escolas indígenas podem ser pensadas por suas possibilidades de uso. Como processo histórico, ela se constitui como importante instituição que, ao longo da história do contato, foi utilizada para diferentes finalidades que vão desde a evangelização dos povos indígenas à cooptação para o trabalho compulsório. Como movimento político ela se constitui como importante mecanismo para se pensar as estratégias utilizadas pelos povos indígenas e suas conquistas. Como lugar de sociabilidades, tais escolas se constituem, no seio das aldeias, como importantes espaços onde diferentes sujeitos sociais se reúnem e refletem sobre diferentes conhecimentos. Como espaço intercultural ela se apresenta como oportunidade ao diálogo entre diferentes culturas, possibilitando a construção de novos saberes. Como estratégia política, ela se apresenta como importante ferramenta no processo de cidadanização e valorização étnica potencializados no contexto do Regime Civil-Militar, ocorrido entre os anos 1964 e 1985 no Brasil. Como campo de estudo as escolas indígenas se constituem como espaços pedagógicos construtores de ferramentas diferenciadas no processo educacional. Como objeto de pesquisa elas se apresentam como seara fértil no desenvolvimento de novos estudos nos cursos de pós-graduação. Como proposta pedagógica, cria a possibilidade de cada escola indígena ser única e diferenciada, não somente em comparação às escolas não indígenas, senão também entre si, já que os Projetos
- 63. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 6 54 Político-Pedagógicos têm a possibilidade de serem desenvolvidos seguindo direcionamentos específicos, considerando as particularidades dessas coletividades, de cada comunidade. Conforme indicado oportunamente por Gersem José dos Santo Luciano (2006), liderança indígena do grupo étnico Baniwa, do Alto Rio Negro e Professor do Curso de Formação de Professores Indígenas do Departamento de Educação Escolar Indígena da Universidade Federal do Amazonas (UFAM), a Escola Indígena serve para ser um espaço de reafirmação das identidades e da construção permanente de autonomias e alteridades. Como resultado de uma demanda desses povos, ela mesma tem forte relação com as conquistas ligadas à demarcação de terras indígenas e estas possibilitaram a certos povos o avanço em direção a questões como: saúde, educação e saneamento básico, pontos de conexão basilares das múltiplas articulações de caráter étnico que poderíamos, sem ressalvas, denominar de Movimento Indígena Contemporâneo. Considerando a Resolução da Câmara de Educação Básica - CEB Nº 3, de 10 de novembro de 1999, que fixou pela primeira vez as Diretrizes Nacionais para o funcionamento das Escolas Indígenas, tais escolas podem ser definidas a partir de, pelo menos, quatro características, a saber: 1. Aquelas escolas localizadas em terras habitadas pelas comunidades indígenas; 2. Aquelas a partir das quais o atendimento educacional ocorre exclusivamente em consideração às comunidades indígenas; 3. Aquelas onde o ensino é ministrado nas línguas maternas de suas comunidades e 4. Escolas onde há uma organização administrativa própria. Considerando também o que aponta a Resolução CNE/CEB nº 5, de 2012, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Indígena na Educação Básica, a organização destas escolas deve ser pautada pelos princípios da igualdade social, da diferença, da especificidade, do bilinguismo e da interculturalidade. 3 | EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA E SEUS PROCESSOS DE LUTA Para Gersem Baniwa (2006), dentre as principais conquistas do Movimento Indígena no Brasil podemos considerar o desenvolvimento de uma rede de Educação Escolar Indígena Específica e Diferenciada como uma das mais importantes. A característica desta instituição tem fundamento nos critérios de uma educação bilíngue, pluricultural, autônoma e auto gestada pelos índios, semelhante ao que consta nas resoluções educacionais da comunidade envolvente. Dentre os desafios enfrentados pelos indígenas estaria a garantia de “uma educação ou formação política e técnica para os índios de uma maneira geral, necessária para eles ampliarem suas competências de compreensão e de interação” (Luciano, 2006, p. 82). De acordo com o Ministério da Educação, o direito à uma Educação Escolar Indígenaespecíficaediferenciadaéumaconquistaqueresultoudaslutasempreendidas
- 64. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 6 55 pelos povos indígenas e seus aliados tendendo, a partir disso, a ser considerada como importante passo na direção da democratização das relações sociais no país. Ela se caracteriza pela afirmação de identidades étnicas, recuperação de memórias históricas, valorização das línguas e conhecimentos dos povos indígenas e pela revitalização da relação escola/sociedade/identidade, se apresentando como importante ferramenta na manutenção de direitos e na constituição de espaços a partir dos quais os diferentes grupos indígenas têm articulado suas pautas de luta (Brasil, 2007). Considerando o que aponta a Fundação Nacional do Índio – FUNAI, no site oficial da instituição, os Povos Indígenas têm direito a uma educação escolar específica, diferenciada, intercultural, bilíngue/multilíngue e comunitária, conforme define a legislação nacional que fundamenta a Educação Escolar Indígena (FUNAI, 2016). De acordo com Luis Donizete Benzi Grupioni (2016), a transferência de responsabilidade da educação escolar indígena da FUNAI para o MEC, ocorrida em 1991, permitiu a incorporação das escolas indígenas ao sistema de ensino do país. Dessa forma, juridicamente,osprofessoresindígenaspassaramaterdireitosàumaformaçãosuperior específica e a ser respeitados em suas diferenças. Nesse sentido, o atendimento das necessidades educacionais indígenas passou a ser tratado como parte de uma política educacional pública e de responsabilidade do Estado Nacional (Grupioni, 2016). Nessa reformulação também se inclui a formação superior para professores indígenas e o crescimento de demandas nessa direção. Tais ganhos resultam de longos processos de luta iniciados ainda nos anos 1970 e informa a emergência de um processo de cidadanização ainda em curso na sociedade. Conforme apontou Fernandes (2018), a cidadanização é um conceito histórico que aponta para um fenômeno político e social, a partir do qual, as relações entre Estado, políticas sociais e cidadania passaram a operar sob novos significados à medida que os movimentos sociais, especialmente os movimentos indígenas, passaram a indicar que tanto o Estado, quanto as políticas sociais implementadas pelos governos, deveriam ser pensadas como elementos a serviço da democracia. Na segunda metade do século XX, determinados sujeitos e coletivos indígenas instauraram no pensamento político e social brasileiro uma compreensão de que o cidadão seria, então, o agente central de todo o processo estatal. Desse modo, o modelo constitucional estabelecido em 1988 foi influenciado pelas agências indígenas iniciadas ainda no contexto do Regime Civil- Militar no Brasil, especialmente a partir dos anos 1970. Conforme observou Grupioni (2016), esse movimento foi importante porque, certamente, encerrou uma histórica situação da educação escolar indígena, quando a responsabilidade sobre esta, desde o período colonial, foi passada dos órgãos indigenistas do Estado para as missões religiosas e vice-versa. No entanto, para a Educação Escolar Indígena os desafios ainda estão por ser solucionados. Grupioni (2016) também observa que, apesar desse movimento, a parceria entre FUNAI e MEC, ocorrida em 1991, condicionou a existência de dois órgãos federais voltados ao mesmo setor, abrindo espaço para desentendimentos não só administrativos como de
- 65. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 6 56 orientação política. Mas, nem todas as medidas adotadas pelo Estado surtiram efeitos positivos para a Educação Escolar Indígena. Em outra ocasião, ao analisar o Censo Escolar desenvolvido em 2005, Grupioni (2016) aponta que os dados apresentados pelo INEP/MEC, no que diz respeito às Escolas Indígenas, revelaram que a inclusão desta modalidade ao sistema nacional de ensino não significou uma melhoria nas condições de oferta. O que ocorreu, de forma mais imediata, foi o reconhecimento da necessidade de adequação dos programas educacionais do Governo às especificidades das Escolas Indígenas. Assim, o quadro resultante desse processo significou poucas alterações após a inclusão dessas escolas ao sistema educacional do país. Rosani de Fátima Fernandes (2010), indígena Kaingang e ex-Coordenadora de Educação Escolar Indígena na 4ª Unidade Regional de Ensino – URE da Secretaria de Estado de Educação do Pará – SEDUC, em Marabá, ao analisar a Educação Escolar desenvolvida pelos índios Kyikatêjê, observou que aquela escola indígena se constitui como espaço estratégico a serviço dos ideais de autodeterminação dos Kyikatêjê. Fernandes (2010, p. 103) ainda observa, por outro lado que, muitas vezes, o Estado não cumpre sua responsabilidade “na promoção do bem comum, para que a sociedade, indivíduos e coletividades tenham a possibilidade de desenvolver suas potencialidades humanas e sociais de maneira plena”. Ainda assim, mesmo com os atropelos cometidos pelo Estado, os Kyikatêjê têm desenvolvido estratégias de superação dos obstáculos e procurado fazer da escola indígena uma aliada no projeto de fortalecimento cultural de sua comunidade. Foi nesse sentido e considerando a luta dos povos indígenas pelo fortalecimento de suas identidades étnicas a partir das escolas indígenas, transformando-as em espaços de luta, que Gilberto Cesar Lopes Rodrigues (2016) desenvolveu uma análise acerca da escola indígena situada na Terra Indígena Maró (TI Maró) que abrange a Gleba Nova Olinda, no Município de Santarém, região Oeste do Estado do Pará, onde se localizam as etnias Borari e Arapium. Conforme sua pesquisa, essas etnias vêm sofrendo constantes ataques do Estado e de empresários que tentam por diversos meios – os ataques mais incisivos se relacionam à negação da condição étnica desses grupos e por meio de ações jurídicas - integrar a TI Maró e seus recursos naturais ao capitalismo internacional. A tese defendida por Rodrigues (2016, p. 177) é de que a escola diferenciada da TI Maró “contribui para o fortalecimento das reivindicações pela posse do território, pelo uso coletivo dos recursos naturais e pela manutenção enquanto grupo étnico diferenciado, através das disciplinas de Notório Saber e Língua Indígena Nheengatú”. Os resultados do estudo indicam que as disciplinas diferenciadas, ministradas na escola indígena da TI Maró, auxiliam no fortalecimento da etnicidade e da memória histórica desses grupos nas relações que estabelecem com suas tradições e os processos históricos relacionados. Assim, vale observar que a escola indígena dos Borari e Arapium se tornou importante ferramenta no fortalecimento dos processos de
- 66. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 6 57 etnicidade experimentados por esses grupos indígenas (Rodrigues, 2016). As duas pesquisas mencionadas evidenciam partes de uma complexa rede educacional escolar indígena existente na Amazônia Brasileira. Deve-se observar que a mesma resulta não somente das relações que nelas se estabelecem hoje e que revelam um conjunto de forças que só podem ser melhor compreendidos quando se desenvolvem análises sobre evidências que informam sobre os processos históricos que possibilitaram a produção de propostas educacionais específicas para povos indígenas de diferentes características étnicas, em especial, na Amazônia brasileira. Além disso, se deve ter em mente que cada escola representa anseios particulares das comunidades nas quais foram criadas e dialogam com questões cotidianas conectadas a cada caso. De todo modo, é importante notar que tais escolas resultam de articulações políticas particulares de determinados coletivos indígenas. As escolas indígenas, assim como as propostas nelas apresentadas informam as lutas desses movimentos étnicos. 4 | MOVIMENTO INDÍGENA CONTEMPORÂNEO E A EDUCAÇÃO ESCOLAR BRASILEIRA Conforme já indicado por Gersem Baniwa (2006), uma das conquistas mais significativas, relacionadas aos Movimentos Indígenas que passaram a se organizar em âmbito nacional a partir da década de 1970, tem sido os reconhecimentos territoriais, ganhos na área da saúde e a educação escolar indígena específica e diferenciada. Tais conquistas, conforme apontado também por Fernandes (2018), resultam de longos processos de emergências políticas e sociais desenvolvidas por indivíduos e coletivos étnicos a partir da segunda metade do século XX. Nos idos de 1980, diferentes propostas foram desenvolvidas sobre as características básicas a partir das quais seria possível desenvolver um processo educacional que levasse em consideração os saberes diferenciados e que tivesse significado para os povos indígenas. As discussões ocorreram em diferentes áreas do saber e no Movimento Indígena Organizado. Conforme apontou Rosa Helena Dias da Silva (2000), a década de 1980 foi marcada por lutas concretas de recuperação e reconstrução de territórios e identidades indígenas. Como exemplo dessas mobilizações no âmbito educacional, a autora analisou o internato/escola de São José de Surumu, ligado à Igreja Católica e implementado nos anos 1940, em Roraima, para atender comunidades indígenas Macuxi e Wapixana. A escola havia sido criada com objetivos catequéticos ligados à integração e assimilação de sujeitos indígenas à comunidade envolvente. Fechado nos anos 1970, por consequência das mudanças de paradigmas na relação entre os povos indígenas e o Estado, o Internato/Escola Surumu ressurgia nos anos 1980 com base em propostas criadas pelo movimento indígena em Roraima.
- 67. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 6 58 Em 1985 as lideranças indígenas de Roraima decidiram dar novos significados para o internato/escola Surumu, criando o Projeto “Uma escola Indígena em Surumu”. A ideia era pensar um novo modelo de escola que se constituísse em “Centro de Irradiação da Cultura Indígena” e num espaço onde fosse possível “formar professores indígenas para atuarem dentro das malocas, desenvolvendo uma ação educativa de acordo com os interesses e necessidades dos alunos, bem como propiciar um crescimento da comunidade no seu contexto cultural” (Dias, 2000). Por sua importância, o projeto acabou por se materializar como espaço de assembleias, cursos de formação de professores e lugar de desenvolvimento de encontros do movimento indígena de Roraima.Além disso, Surumu se transformou em um espaço de formação de lideranças indígenas e importante modelo para outros projetos educacionais. Essas articulações, iniciadas no seio das assembleias indígenas de Roraima, ainda na década de 1980 já alcançava o âmbito das universidades. Em 1987, em artigo intitulado: O papel do alunado na alfabetização de grupos indígenas: a realidade psicológica das descrições linguísticas, que compôs uma coletânea de ensaios, organizada por João Pacheco de Oliveira Filho (1987), intitulada Sociedades Indígenas e Indigenismo no Brasil, Yonne Leite, Marília Soares e Tânia Clemente de Souza apontaram alguns aspectos característicos de uma educação voltada para os indígenas. De acordo com as autoras, uma educação escolar indígena resultaria de um amplo processo que ocorre fundamentalmente nas aldeias, no qual, as escolas assumem a função de fornecer os instrumentos necessários para que tais populações possam entender de modo cada vez mais específico a sociedade envolvente para, assim, poderem optar pelo seu grau de participação na comunidade nacional. Outro de seus fundamentos, em sentido interno para as aldeias, seria fazer valer seus direitos adquiridos histórica e juridicamente sempre que necessário. Por outro lado, tal processo educacional se caracterizaria pela incorporação, de maneira criativa, do saber científico desses povos, por meio do diálogo sempre constante entre os saberes tradicionais indígenas e os saberes científicos oriundos da sociedade envolvente As autoras ainda denominariam de um processo educacional bicultural a incorporação, através de metodologias científicas da comunidade envolvente, dos conhecimentos indígenas a partir de suas visões de mundo e de seus modos próprios de contar e medir, seus domínios sobre a natureza, etc. (Leite, Soares, & Souza, 1987). Apesar de tais ideias brotarem inicialmente no cotidiano das comunidades indígenas e posteriormente no âmbito acadêmico, era no ambiente político que se plantavam as principais sementes que dariam forma a luta do Movimento Indígena Contemporâneo pelo direito a uma educação de qualidade que considerasse a diversidade e a diferença no âmbito da sociedade brasileira. Tais lutas não ocorriam primariamente por representações não governamentais pró-indígenas (como se defendeu durante algum tempo), mas foram sumariamente encabeçadas pelos próprios atores sociais da base do Movimento Indígena Contemporâneo no Brasil. Nos anos
- 68. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 6 59 1980, lideranças indígenas de projeção nacional e mesmo internacional, articularam estratégias e apresentaram propostas que ultrapassavam as representações defendidas pelo Estado para os povos indígenas. As articulações entre diferentes grupos indígenas por uma formação diferenciada, pensadas em âmbito local e muitas vezes regional, através das assembleias indígenas, se conectavam aos projetos políticos indígenas articulados em caráter nacional. Sigamos um exemplo: Em 1º de fevereiro de 1987, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal se reuniram em Assembleia Nacional Constituinte (ANC). Em meio aos processos de transição democrática, aANC foi convocada como parte de um compromisso assumido pelas forças políticas que chegaram ao poder em 1985. Em 5 de outubro de 1988, após intensos conflitos, debates, negociações e impasses foi promulgada a sétima Constituição Brasileira. No entanto, tal evento resultou de calorosos debates. No contexto da Assembleia Nacional Constituinte (1987-1988), na 16ª reunião da Subcomissão da Educação, Cultura e Esportes, realizada no dia 29 de abril de 1987, povos e organizações indígenas e pró-indígenas apresentaram propostas relacionadas a processos educacionais que consideravam a diversidade de povos e as dificuldades educacionais da sociedade brasileira. Naquela ocasião, Ailton Krenak, representante da União das Nações Indígenas (UNI), aliada ao Centro de Trabalho Indigenista (CTI), a Comissão Pró-Índio (CPI), ao Conselho Indigenista Missionário (CIMI), a Operação Anchieta (OPAN), a Associação Brasileira de Antropologia (ABA) e a Associação Brasileira de Linguística (ABRALIN) apresentava uma Proposta à Subcomissão de Educação, Cultura e Esportes na qual indicava questões que diziam respeito à Educação Escolar Indígena inserida na problemática mais abrangente da educação escolar brasileira (DOU, 29 abr. 1987). Naquela ocasião, entidades não governamentais como o CTI, representado pela Assessoria de Assuntos Educacionais na pessoa da Professora Marina Kahn Villas-Boas, requeriam a garantia do acesso aos conhecimentos locais, regionais e universais, através da educação, atendendo aos interesses de cada comunidade em particular e do País em geral. A justificativa era de que se fazia urgente e necessário uma somatória das vozes dos movimentos sociais em “defesa de uma educação pública gratuita e de boa qualidade para todos os brasileiros”, nos quais se incluem os atores indígenas (DOU, 29 abr. 1987). De acordo com Danielle Bastos Lopes (2011, p. 153-154), ao apresentar suas propostas para a conformação do texto constitucional que ora se projetava, a UNI considerava a necessidade de incluir a educação escolar indígena numa estrutura mais abrangente da “educação referente a toda população brasileira, notadamente dos grupos sociais estigmatizados e alijados dos centros de tomadas de decisões de poder e dos benefícios dali decorrentes”. Inserindo os povos indígenas naquele contexto, a UNI apontava para a necessidade de se realçar no texto constitucional “o respeito às diversidades de um país pluriétnico e plurilíngue como o Brasil” (Lopes, 2011, p. 153- 154). A síntese do documento apontava numa direção importante para se considerar
- 69. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 6 60 a relação entre o Movimento Indígena Contemporâneo, demais movimentos sociais naquele contexto e a questão educacional como elemento basilar do fortalecimento da cidadanização no Brasil. Em sua redação se lia: Defendemos, assim, uma educação que garanta a consolidação de um espaço democrático a todos os brasileiros, rompendo com a discriminação que historicamente vem atingindo índios, negros e outros grupos sociais minoritários que são, na verdade, os que compõem a grande maioria da população (DOU, 29 abr. 1987). Na mesma direção, Ailton Krenak (1987) indicava caminhos para os impasses nos quais se encontrava a questão educacional na sociedade brasileira. Em seu depoimento naquela mesma comissão declarava: Ao longo de todo o período de convivência interétnica dos vários grupos representados por outras etnias e por outras culturas que habitam também esta terra brasileira, a questão da identidade, a questão da tradição de uma cultura original, a questão da cultura das populações indígenas, do conhecimento que os povos indígenas, que cada um dos grupos tem, não foram, não têm sido contemplados na formulação das políticas para a educação (DOU, 29 abr. 1987). Com essas palavras, Ailton Krenak (1987) apontava que a questão educacional se constituía como chave de reivindicação de grupos sociais plurais, representados naquele contexto pela UNI e demais entidades não governamentais. Eventos como este não foram exceção na formulação do texto constitucional e, muito menos, deixaram de ocorrer depois da promulgação do mesmo. Após 1988, a luta por uma educação específica e diferenciada, mas que ao mesmo tempo apresentasse qualidade equiparável à educação escolar não indígena, manteve-se como base da agenda de muitos grupos étnicos. A luta de determinados movimentos indígenas por uma educação específica e diferenciada acompanhava movimentos educacionais de caráter mais amplo pela melhoria da qualidade e ampliação da rede educacional no país ao mesmo tempo em que dimensionava os limites necessários de suas especificidades. Nesse caminho, o Movimentos de Professores Indígenas, especialmente na Amazônia, se constituíram como base reivindicatória por demandas específicas relacionadas à ampliação da luta do Movimento Indígena Contemporâneo por uma educação pública brasileira em múltiplas escalas. Na mesma conjuntura de lutas em direção ao reconhecimento das diferenças étnicas no texto constitucional e, por consequência, reivindicações pela criação de políticas sociais diferenciadas para os povos indígenas, o Movimento de Professores Indígenas na Amazônia, na busca concreta pela definição e construção de escolas específicas e diferenciadas para suas comunidades, iniciaram em fins dos anos 1980, uma série de encontros anuais, envolvendo várias associações e organizações indígenas em torno da questão educacional. Com base na análise das atas de
- 70. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 6 61 doze encontros de professores indígenas ocorridos nas décadas de 1980 e 1990, Silva (2000) chegou à conclusão de que apesar das dificuldades encontradas pelo Movimento de Professores Indígenas para a criação de modelos pedagógicos com base em novas formas de pensar e fazer escolas, a consciência da força das articulações entre organizações e associações indígenas frente às políticas de homogeneização do Estado, especialmente àquelas relacionadas à educação, conformou as bases da própria natureza do Movimento de Professores Indígenas na Amazônia. Pensar essas questões no seio das articulações do Movimento Indígena Contemporâneo, em caráter local e regional, nos permite vislumbrar algumas questões sobre o modo como as articulações de associações e organizações indígenas se conformavam nas dimensões educacionais pensadas com base em processos sócio-históricos específicos. 5 | CONSIDERAÇÕES PONTUAIS Nos termos apresentados, podemos considerar que, em relação aos movimentos educacionais indígenas, uma das contribuições mais importantes foi a luta pela materialização de projetos educacionais que, alternativamente, dialogassem com a questão do multiculturalismo existente no Brasil e reconhecido constitucionalmente através da Carta Magna de 1988. Desse modo, as articulações dos movimentos educacionais indígenas, iniciados a partir da segunda metade do século XX, foram importantes não apenas para aqueles grupos étnicos que encabeçaram tais movimentos em caráter local, regional, nacional e mesmo internacional, mas concorreram para a problematização sobre os rumos da educação escolar brasileira, especialmente no que diz respeito a questão da diversidade e da diferença de povos existentes no país. Tais mudanças não resultaram apenas de uma conjuntura de crise política e econômica característica da sociedade brasileira do contexto do Regime Civil-Militar ocorrido no Brasil. As emergências políticas e sociais dos povos indígenas não devem ser dimensionadas apenas pelos fatores exógenos que auxiliaram em tais processos. Mas, especialmente, pelas demandas político-sociais defendidas a partir dos anos 1970 e apresentadas de modo particular no âmbito da Assembleia Nacional Constituinte, ocorrida nos anos 1980. Os povos indígenas, a partir de suas articulações, participaram da conformação do espaço político brasileiro, constituindo-se como atores sociais protagonistas do processo de cidadanização iniciado, no Brasil, na segunda metade do século XX e ainda em curso. Semelhante aos movimentos empreendidos pelos trabalhadores, associações de classes e partidos políticos que emergiram especialmente nos anos 1980 e, talvez, até mais que todos os outros movimentos sociais daquele período, os povos indígenas que atuaram na luta política desempenharam papel importante no processo de redemocratização do país, contribuindo com uma questão primordial na concepção de cidadania e, consequentemente, de democracia que temos hoje: o
- 71. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 6 62 reconhecimento da diversidade e da diferença. Também nessa questão, em linhas semelhantes ao Movimento Negro, os movimentos indígenas atentaram para uma dimensão fundamental da vida democrática tal como a entendemos hoje. Independentemente da natureza do(s) Movimento(s) Indígena(s), se uno ou diversos, estes concorreram para a conformação de um processo que ultrapassa as intenções e os objetivos dos próprios movimentos – a construção de um novo paradigma de cidadania que não se limita à restituição dos direitos democráticos do período anterior à Ditadura, mas, que propõe uma cidadania demarcada pela plenitude dos direitos civis e, além disso, pela inclusão da Diversidade e da Diferença como valores que a constituem tanto quanto aqueles como voto, liberdade de opinião, direito de ir e vir, inviolabilidade do lar e da privacidade, dentre outros. Apesar dos diferentes caminhos traçados por sujeitos e coletivos indígenas nas emergências políticas e sociais a partir das relações que estabeleceram com o Estado, os ganhos em certo sentido, puderam fazer parte de uma conquista jurídica em direção aoreconhecimentodesuasdiferençasfrenteàcomunidadeenvolventee,também,entre si. Constatações como esta se tornam mais evidentes quando passamos a analisar ganhos educacionais ocorridos nas últimas décadas. Apesar dos vários problemas que os povos indígenas enfrentam ainda hoje, os desafios relacionados às pautas de luta por educação específica e diferenciada têm resultado em projetos positivos para certas comunidades. Como parte daquele processo histórico, a consolidação de uma Rede de Educação Escolar Indígena na Amazônia que considere e privilegie a diversidade e a diferença é parte de uma luta ainda em curso no sistema educacional brasileiro. REFERÊNCIAS BRASIL. Resolução CNE/CEB 5/2012. Diário Oficial da União, Brasília, 25 de junho de 2012, Seção 1, p. 7. BRASIL. Resolução CEB 1/99. Diário Oficial da União, Brasília, 13 de abril de 1999. Seção 1, p. 18. FUNAI. Educação Escolar Indígena. Disponível em: http://www.funai.gov.br/index.php/educacao- escolar-indigena?limitstart=0# Acesso: 16 nov. 2016. GRUPIONI, Luis Donizete Benzi. Censo Escolar Indígena. Disponível em: https://pib.socioambiental. org/pt/Censo_Escolar_Indígena; Acesso: 17 maio 2018. GRUPIONI, Luis Donizete Benzi. Da Funai para o Mec. Disponível em: https://pib.socioambiental.org/ pt/c/politicas-indigenistas/educacao-escolar-indigena/da-funai-para-o-mec. Acesso: 16 nov. 2016. NOTÍCIA: Justiça Federal declara inexistente terra indígena no município de Santarém. Justiça Federal – Seção Judiciária do Pará. Processos 2010.39.02.000249-0 E 2091-80.2010.4.01.3902.
- 72. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 6 63 Disponível em: http://portal.trf1.jus.br/sjpa/comunicacao-social/imprensa/noticias/justica-federal- declara-inexistente-terra-indigena-no-municipio-de-santarem.htm. Acesso: 10 ago. 2016. ONU. Organização das Nações Unidas: Declaração de Princípios. Genebra, julho de 1985. Disponível em: https://www.senado.gov.br/publicacoes/anais/constituinte/8a%20-%20SUB.%20 EDUCA%C3%87%C3%83O,%20CULTURA%20E%20ESP.pd.pdf; Acesso em: 14 nov. 2017. PROPOSTA da União das Nações Indígenas encaminhada à Comissão da Família, Educação, Cultura, Esporte, Comunicação, Ciência e Tecnologia. Cf. LOPES, Danielle Bastos. O Movimento Indígena na Assembleia Nacional Constituinte (1984-1988). Dissertação (Mestrado em História Social) – Faculdade de Formação de Professores de São Gonçalo: Universidade do Estado do Rio de Janeiro, são Gonçalo, [s.n.] 2011, p. 153-154. Disponível em: http://www.docvirt.com/docreader.net/ docreader.aspx?bib=Acerv BibI&PagFis=1; Acesso em: 14 nov. 2017. UNIÃO, Diário Oficial. Ata da 16ª Reunião da Subcomissão da Educação, Cultura e Esportes, realizada em 29 de abril de 1987. In. Atas das Comissões da Assembleia Nacional Constituinte. Anais da Constituinte. Senado Federal – Brasília/DF, 2017. Disponível em: https://www.senado.gov. br/publicacoes/ anais/constituinte/8a%20-%20SUB.%20EDUCAÇÃO,%20CULTURA%20E%20ESP. pd.pdf; Acesso em: 14 nov. 2017. BRASIL. Educação Escolar Indígena: diversidade sociocultural indígena ressignificando a escola. Cadernos SECAD. Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (Secad/ MEC). Brasília/DF, 2007. FERNANDES, Fernando Roque. Cidadanização e Etnogêneses no Brasil: apontamentos a uma reflexão sobre as emergências políticas e sociais dos povos indígenas na segunda metade do século XX. Revista Estudos Históricos, v. 31, n. 63, p. 71-88, 2018. Disponível em: http://www.scielo. br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-21862018000100071&lang=pt; Acesso em: 17 maio 2018. FERNANDES, Rosani de Fátima. Educação Escolar Kyikatêjê: novos caminhos para aprender e ensinar. Dissertação de Mestrado defendida no Instituto de Ciências Jurídicas através do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Pará – UFPA; Belém [s.n.], 2010. Disponível em: http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/6449; Acesso em: 13 dez. 2017. LEITE, Yonne; SOARES, Marília Faco e SOUZA, Tânia Clemente de. O papel do alunado na alfabetização de grupos indígenas: a realidade psicológica das descrições linguísticas. In: OLIVEIRA FILHO, João Pacheco de (org.). Sociedades Indígenas e Indigenismo no Brasil. Ed. Marco Zero; RJ, 1987. LOPES, Danielle Bastos. O Movimento Indígena na Assembleia Nacional Constituinte (1984- 1988). Dissertação (Mestrado em História Social) – Faculdade de Formação de Professores de São Gonçalo: Universidade do Estado do Rio de Janeiro, são Gonçalo, [s.n.] 2011. Disponível em: http:// www.docvirt.com/docreader.net/docreader.aspx?bib=AcervBibI&PagFis=1; Acesso em: 14 nov. 2017. LUCIANO, Gersem José dos Santos. O índio brasileiro: o que você precisa saber sobre os povos indígenas no Brasil de hoje. 1ª edição. Ed. Brasília: MEC/SECAD Museu Nacional/UFRJ, 2006. Disponível em: http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001545/154565por.pdf; Acesso em: 13 dez. 2017. RODRIGUES, Gilberto César Lopes. Surara Borari, Surara Arapium: a educação escolar no processo de reafirmação étnica dos Borari e Arapium da Terra Indígena Maró. Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-Graduação da Universidade Estadual de Campinas, SP [S.N.], 2016. Disponível em: http://repositorio.unicamp.br/handle/REPOSIP/305041; Acesso em: 13 dez. 2017.
- 73. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 6 64 SILVA, Rosa Helena Dias da. Escolas em Movimento: trajetória de uma política indígena de educação. Cadernos de Pesquisa, nº III, p. 31-45, 2000. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo. php?pid=S0100-15742000000300002&script=sci_abstract&tlng=pt; Acesso em: 17 maio 2018.
- 74. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 7 65 EDUCAÇÃO INCLUSIVA E FORMAÇÃO INICIAL: REFLEXÕES ACERCA DA EXPERIÊNCIA EM UM PROJETO INTERDISCIPLINAR CAPÍTULO 7 doi Debora Brito Lima Universidade Federal do Pará (UFPA), Faculdade de Educação, Bragança- PA. Dhessica da Silva Lima Universidade Federal do Pará (UFPA), Faculdade de Educação, Bragança- PA. Amélia Maria Araújo Mesquita Universidade Federal do Pará (UFPA), Faculdade de Educação, Bragança- PA. Brenda Aryanne Damasceno Monteiro Universidade Federal do Pará (UFPA), Faculdade de Ciências Biológicas, Bragança- PA. Jakson Brito Lima Universidade Federal do Pauí, Programa de Pós graduação em Gestão Pública, Belém-PA Railda da Silva Santos Universidade Federal do Pará (UFPA), Faculdade de Educação, Bragança- PA. RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo apresentar as ações desenvolvidas pelo Programa de Iniciação à Docência (PIBID) e as contribuições para a formação inicial dos bolsistas de licenciaturas vinculados ao subprojeto “Formação de Professores para uma escola inclusiva: ações colaborativas entre o ensino superior e a educação básica em municípios paraenses”, e para auxiliar no processo de inclusão de alunos em situação de deficiência nas salas regulares das escolas parceiras. Sendo assim, tem-se como metodologia a apresentação das ações efetuadas, baseadas no processo de ensino, pesquisa e extensão, no qual são desenvolvidas atividades de intervenções nas salas de aula que vivenciam a inclusão, formação de professores, com parceria de escolas da região bragantina. Apresenta-se como resultados as contribuições para a formação inicial dos bolsistas vinculados ao projeto, como também as minimizações das dificuldades encontradas, proporcionando assim melhores condições para o processo de inclusão escolar. Conclui-se que o projeto permite maior articulação entre teoria e prática por todos os envolvidos no projeto (escolas parceiras, bolsistas, supervisores, em especial os alunos em situação de deficiência). Percebe-se assim a formação como um processo contínuo e necessário para minimizar os desafios da inclusão escolar. PALAVRAS-CHAVE: PIBID. Educação Inclusiva. Desafios. ABSTRACT: The present work aims to present the actions developed by the Initiation to Teaching Program (PIBID) and the contributions to the initial training of the undergraduate fellows linked to the subproject "Teacher Training for an
- 75. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 7 66 inclusive school: collaborative actions between higher education and basic education in municipalities of Para, "and to assist in the process of inclusion of students with disabilities in the regular rooms of partner schools. Thus, the methodology presented is the presentation of the actions carried out, based on the teaching, research and extension process, in which activities are carried out in classrooms that experience inclusion, teacher training, with a partnership of schools in the region bragantine. We present as results the contributions to the initial formation of the scholarship holders linked to the project, as well as the minimizations of the difficulties encountered, thus providing better conditions for the school inclusion process. It is concluded that the project allows a greater articulation between theory and practice by all those involved in the project (partner schools, scholarship holders, supervisors, especially students with disabilities). Thus, training is perceived as an ongoing and necessary process to minimize the challenges of school inclusion. KEYWORDS: PIBID. Inclusive education. Challenges. INTRODUÇÃO Atualmente a educação escolar configura-se como prática social e preocupa-se em oferecer qualidade de ensino á todos. Sendo assim, o Brasil, a partir da Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional (9.394/96) passou a assumir o compromisso com a educação inclusiva nas escolas regulares, constituindo um grande desafio, principalmente, para os profissionais de educação, afim de que o direito de acesso à educação das pessoas em situação de deficiência seja cumprido. Para Mesquita (2013) a “inclusão precisa ser compreendida como um princípio orientador da escola, materializado por meio de práticas responsáveis e comprometidas com a garantia também do acesso ao currículo, ao conhecimento”. A concepção de somente integrar o aluno em situação de deficiência na sala de aula da escola regular não se constitui como educação inclusiva, devem ser realizadas mudanças de práticas e flexibilização do currículo direcionado para o sucesso do processo de ensino e aprendizagem a fim de garantir á todos a oportunidade de participar do processo de ensino e aprendizagem desenvolvido nas instituições escolares. O presente trabalho tem como objetivo analisar as ações do subprojeto interdisciplinar do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID, que tem como tema: “Formação de Professores para uma Escola Inclusiva: Ações Colaborativas entre o Ensino Superior e a Educação Básica em Municípios Paraenses” da Universidade Federal do Pará – Campus Bragança, que conta com bolsistas estudantes dos cursos de licenciatura de Ciências Biológicas, História, Letras - Língua Inglesa, Letras – Língua Portuguesa, Matemática e Pedagogia, atuando em duas escolas do município de Bragança – Pará. O subprojeto tem como objetivo geral: “Promover, utilizando-se de estratégias da pesquisa colaborativa, experiências metodológicas e práticas docentes de caráter
- 76. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 7 67 inovador e/ou exitosas nos processos de ensino e aprendizagem dos futuros docentes, inclusive mediante implementação, utilização e adequação de espaços voltados para a formação de professores e de recursos didático-pedagógicos para atuação dos futuros professores” (Subprojeto PIBID, 2013). Tendo em vista que as universidades têm importante papel na formação de futuros docentes, principalmente, da educação básica, o subprojeto a partir do Grupo de Estudo e Pesquisa sobre currículo e formação de professores – INCLUDERE contribui com a formação dos alunos de licenciatura participantes, a partir de experiências em escolas públicas que vivenciam a educação inclusiva, ampliando o conhecimento de todos os envolvidos no processo a cerca do tema inclusão escolar, viabilizando propostas de melhoria neste processo. METODOLOGIA O projeto Interdisciplinar funciona em dois campi, Campus Belém- Sede e Campus Bragança, lócus deste trabalho. Na cidade de Bragança- Pará, o projeto desenvolve- se em duas escolas públicas da região, uma da rede municipal e outra da rede estadual de ensino, abrangendo assim os anos iniciais e finais do ensino fundamental. Desenvolve-se através do tripé ensino, pesquisa e extensão, proporcionando assim maior articulação entre teoria e prática, pactuando assim com Galiazzi (2003, p.55) ao argumentar que “é preciso que os futuros professores participem da pesquisa em todo o processo, que aprendam a tomar decisões, que passem a compreender a ciência como a busca pelo conhecimento nunca acabado, sempre político, que precisa de qualidade formal”. Diante disso, o projeto Interdisciplinar visa á priori conhecer o espaço e sua dinâmica e através de leituras, discussões, sessões de estudo, obter conhecimentos sobre a questão, viabilizando possíveis intervenções. Considerando que toda intervenção deve ser prescindida do reconhecimento contextual, assim dispomos de instrumentos de pesquisa, já elaborados, com questões referentes à escola, a sala de aula, a prática educativa e as especificidades dos alunos em situação de deficiência, utilizados para o recolhimento de informações e reconhecimento de problemáticas relevantes para abranger as proposições do projeto. Os bolsistas realizam o acompanhamento nas salas de aula da classe em geral, em especial dos alunos com deficiência, á fim de identificar as dificuldades e habilidades apresentadas, focando assim nesses aspectos. Após essa etapa de pesquisa, elaboram-se propostas de ações, através do trabalho conjunto com os professores das classes regulares, desenvolvendo-se metodologias de ensino que propiciem a dinamização das potencialidades a fim de promover a inclusão destes alunos durante as atividades educativas e garantindo a eles a acessibilidade ao currículo trabalhado pelos demais. Nas escolas parceiras são desenvolvidas diversas atividades educativas, além
- 77. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 7 68 das intervenções em sala, como formações com os professores e demais profissionais da educação, a fim de colaborar com a formação destes e assim contribuir com as escolas com o processo de inclusão de alunos em situação de deficiência. RESULTADOS E DISCUSSÕES A partir das atividades desenvolvidas no subprojeto, percebem-se diversos avanços no processo de ensino-aprendizagem dos alunos em situação de deficiência e demais alunos das turmas inclusivas, contribuições formativas para as escolas parceiras, através das intervenções realizadas, formações e oficinas desenvolvidas com os profissionais atuantes na escola. Tendo em vista que a inclusão em sala de aula só acontece quando se leva em consideração a totalidade e não somente as especificidades do aluno com deficiência assim, a partir dos acompanhamentos nas turmas inclusivas, viabilizaram- se metodologias e recursos didático-pedagógicos que propiciaram um processo mais significativo de ensino e aprendizagem aos envolvidos. Entender as dificuldades apresentadas por estes alunos e viabilizar metodologias que dinamizem essas problemáticas torna-se um desafio para o professor e algo ímpar para o processo de ensino- aprendizagem. Diante disso, os bolsistas em parceria com os professores das salas acompanhadas conseguiram articular a teoria com a prática, trocar experiências e desenvolver atividades que fortaleceram o processo educacional e propiciaram maior envolvimento dos alunos em situação de deficiência na realização das atividades e a interação destes com os demais. Mesquita (2016) entende que essas propostas pedagógicas inclusivas tendem a “valorizar o trabalho colaborativo e partilhado, o que acaba também sendo um aspecto muito importante para o desenvolvimento social e cognitivo dos alunos em situação de deficiência”. As formações e oficinas realizadas nas escolas parceiras (figura 03 e 04) foram bastante significativas no sentido em que possibilitaram aos participantes e mediadores o desenvolvimento de atividades, construção de materiais adaptados e estratégias que promovessem a inclusão de alunos em situação de deficiência, resultando em possíveis intervenções (figura 01 e 02). Construindo assim a cultura inclusiva nestes ambientes. Constatando-se o aumento da permanência de alguns alunos na escola, a interação social e o aumento na participação destes nas atividades escolares. Também foram desenvolvidas oficinas no Campus da Universidade, a partir da demanda apresentada na instituição que atende muitos alunos com deficiência, contribuindo com a formação dos graduandos em licenciatura participantes.
- 78. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 7 69 CONSIDERAÇÕES FINAIS Diante do exposto, pode-se afirmar que o subprojeto interdisciplinar tem contribuído de forma significativa para a formação de discentes de licenciatura, que colaboram com as escolas parceiras, profissionais da educação, alunos em situação de deficiência, e demais envolvidos no projeto.Avivência nas escolas que tem a cultura inclusiva suscitou nos bolsistas a busca por práticas e metodologias que pudessem contribuir com o processo de ensino e aprendizagem desenvolvido nas salas de aula regular, oportunizando aos alunos com deficiência o acesso ao currículo trabalhado, por meio dos recursos didáticos pedagógicos e metodologias. As formações de professores e oficinas, realizadas para e com os professores, proporcionaram momentos de reflexão sobre a práxis, permitindo mudança de práticas e concepções sobre a inclusão, contribuíram também com a partilha de saberes e experiências vivenciadas, fortalecendo assim a busca por melhorias no processo de inclusão escolar. REFERÊNCIAS BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Lei de Diretrizes e Bases da Educação-LDB. Brasília, DF, 1996.
- 79. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 7 70 GALIAZZI, Maria do Carmo. Educar pela pesquisa: ambiente de formação de professores de ciências. Ijuí: Ed. Unijuí, 2003. MESQUITA, A. M. A. Os elementos de inclusividade na prática curricular de uma professora: uma análise a partir da cultura escolar. 2013. 174 f. Tese de doutorado. MESQUITA, A. M. A. ET AL. Projeto interdisciplinar: contribuições formativas do PIBID para licenciandos da UFPA-campus universitário de Bragança. IV Encontro institucional do PIBID UFPA Belém-Pará. 2016. 15 f. Capítulo de livro
- 80. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 8 71 EDUCAÇÃO INDÍGENA: A IDEOLOGIA DO ÍNDIO NO LIVRO DIDÁTICO EM UMA ESCOLA INDÍGENA DA REDE PÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA CAPÍTULO 8 doi Rízia Maria Gomes Furtado Universidade Estadual de Roraima-UERR Boa Vista-RR Alex Arlen da Silva Oliveira Universidade Federal de Roraima-UFRR Boa Vista-RR RESUMO: Conhecer mais de perto o contexto histórico dos indígenas sempre foi um foco de atenção durante as leituras de livros que falavam sobre ideologia e currículo nas escolas. Assim pode-se observar que a imagem do índio sempre foi representada por meio de interesses políticos e sociais e pior do que isso elas em alguns casos permanecem impregnadas nos Livros Didáticos. A pesquisa então foi situada na análise de documentos, leis e referenciais que falam da questão indígena nas escolas e entrevistas realizadas com quatro professores que lecionam o ensino de história de uma comunidade indígena. Mas o foco principal foi a análise do Livro Didático do 6º ano do Ensino Fundamental de História utilizado pelas escolas estaduais do Estado de Roraima no ano de 2017 no que se refere a temática indígena. Posteriormente além da análise do livro buscou-se por meio de entrevistas com alguns professores que atuam no ensino de História em uma escola indígena, conhecer opiniões e experiências que serviram como fundamento para entender se de fato existe o preconceito e a discriminação dentro dos conceitos indígenas nos livros didáticos. Os resultados permitiram compreender que com todo esse processo histórico é importante, sendo essencial observar a leitura que é feita dentro dos livros didáticos que são selecionados para a utilização dentro das salas de aula e para isso é necessário que o professor possua saberes e critérios muito definidos sobre o tipo de material que considera adequado ao trabalho que deseja realizar com seus alunos e que venha ao encontro da realidade da comunidade escolar a que se destina. PALAVRAS-CHAVE: Ideologia. Currículo. Livro Didático. ABSTRACT: Knowing more closely the historical context of the natives has always been a focus of attention during the reading of books that talked about ideology and curriculum in schools. We can see that the image of the Indian has always been represented through political and social interests and worse than that they in some cases remain impregnated in the Didactic Books. The research was then based on the analysis of documents, laws and references that speak of the indigenous question in schools and interviews with four teachers who teach the history teaching of an indigenous community. But the main focus was the analysis of the
- 81. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 8 72 Didactic Book of the 6th year of the Elementary School of History used by the state schools of the State of Roraima in the year of 2017 regarding the indigenous theme. Subsequently, in addition to analyzing the book, we sought interviews with some teachers who teach history in an indigenous school, to know opinions and experiences that served as a basis for understanding if there is indeed prejudice and discrimination within indigenous concepts in books didactic The results allowed to understand that with all this historical process is important, being essential to observe the reading that is made within the textbooks that are selected for the use inside the classrooms and for this it is necessary that the teacher possesses very defined knowledge and criteria about the type of material that he considers appropriate to the work he wants to accomplish with his students and that meets the reality of the school community for which it is intended. KEYWORDS: Ideology. Curriculum. Textbook. 1 | INTRODUÇÃO Na sala de aula o livro didático é um recurso de apoio ao desenvolvimento da educação formal, utilizado por professores e alunos no processo de ensino aprendizagem. Na educação de Roraima não é diferente, o Livro Didático é uma ferramenta que é utilizada pelo professor como sendo uma fonte de informação na (re) construção do conhecimento. A história da educação Indígena representada no livro de História por sua vez, possibilita uma série de interpretações, e traz consigo uma quantidade de ideias, valores, crenças e representações, enfim, concebe uma visão de mundo e/ou de um grupo. Compreender essa realidade foi o foco dessa pesquisa e realizar sua análise se tornou algo relevante e necessária. Desse modo pesquisas revelam análises acerca dos livros didáticos no que se refere às questões indígenas, e estas apontam que existem muitas informações equivocadas, carregadas ainda de uma visão preconceituosa e com ideologias políticas e sociais. Assim podemos observar em alguns relatos de estudos e levantamentos feitos para a construção dessa pesquisa que estes requerem um olhar mais minucioso e debates dentro do contexto escolar sobre o assunto. O olhar voltado para as escolas públicas de Roraima teve a intenção de buscar quais seriam essas representações do índio dentro dos livros didáticos escolhidos pelas escolas para o estudo e ensino da História brasileira e mais especificamente no que tange a História Indígena. Assim com um olhar criterioso foi analisado além do conteúdo dos livros, as abordagens didáticas do professor frente a essa visão. A pesquisa se propôs em compreender e identificar melhor a abordagem do índio dentro do Livro Didático, sendo justificada por entender que é uma temática ainda presente nos dias atuais e que merece atenção no meio educacional. O objeto de estudo dessa pesquisa foi o Livro Didático utilizados nas escolas públicasdeRoraimaparaoensinodaHistóriaIndígenaeasexperiênciasdeprofessores
- 82. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 8 73 que atuam em uma escola indígena no Município de Cantá-RR com base no ensino da História Indígena. Assim também analisou-se a ideologia presente nesses livros e as experiências e relatos de professores que atuam no ensino de História. A presença dos índios no Estado de Roraima é algo comum para a sociedade roraimense, uma vez que, essa população é crescente na história e na zona urbana. No entanto, vemos a cultura desses índios um pouco fragmentada e diante do livro didático podemos observar outros aspectos relevantes, desse modo qual seria a imagem do índio representada hoje nos livros didáticos de história utilizados nas escolas estaduais da rede pública de Roraima? Como o índio é visto dentro do livro didático? Os professores utilizam mais de uma referência para o trabalho com esses alunos ou define o conteúdo do Livro Didático como verdade absoluta? 2 | CONTEXTO HISTÓRICO DE RORAIMA, O ÍNDIO E LIVRO DIDÁTICO Em Roraima vivem pelo menos nove povos indígenas distintos, os quais dialogam com diferentes propostas educacionais e, em conseqüência, estabelecem diversas alianças político-sociais na implementação do sistema escolar em suas comunidades. Talvez, por se tratar de um Estado que ostenta uma das maiores populações indígenas do Brasil, há em Roraima um forte preconceito e uma tradição de práticas de violência contra esses povos. Muitas são as forças sociais contrárias aos seus interesses e isto se reflete de forma clara na implantação histórica das políticas educacionais, como na ampliação da rede escolar. O sistema escolar em Roraima tem suas raízes profundas na ocupação européia, nos séculos XVII–XVIII, quando os processos de invasão, usurpação e colonização foram expropriando territórios e instaurando uma nova ordem, efetivada por meio do confinamento de povos e de comunidades, assim como, da utilização da ação missionária nos aldeamentos como mostra Farage (1991). Foram, em última instância, esses instrumentos que serviram como ante-sala ao sistema escolar propriamente dito. Neste contexto, de ação colonial sobre missões e missionados (Neves, 1978), a evangelização se utilizou, sobretudo, do ensino da Língua Portuguesa e da catequese para atingir seus objetivos. Paulatinamente, foram surgindo vilas, fazendas, missões, cidades e novos padrões de residência para as comunidades indígenas. No ano de 1987 o Núcleo de Educação Indígena era vinculado ao Departamento do Interior, em 1991, com uma nova estrutura de Divisão Educação Indígena (DEI) continuou vinculado ao Departamento do Interior. Em 2002 passou a se chamar de Coordenação de Educação Indígena (CEI), continuando vinculado ao Departamento Interior. Somente em 2004 o novo Departamento Gestão em Educação Indígena (DGEI) saiu do âmbito do interior e passou a ter um vínculo direto com a Secretária de Educação, sendo que em 2005 volta a ser Núcleo de Educação Indígena (NEI) vinculado desta vez ao Departamento de Ensino, retornando ao organograma de 1986.
- 83. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 8 74 As mudanças e continuidades acima apresentadas dão conta de que, na mesma proporção com que se fortalecia o movimento indígena, iam sendo definidas as demandas por educação escolar indígena específica e diferenciada, a estrutura governamental, timidamente, foi tentando acompanhar essas alterações e propiciando à criação de alternativas para elas. A partir de 1987, os professores indígenas de Roraima passaram a participar de vários encontros significativos, em Manaus (AM) e em outras regiões, juntamente com professores indígenas dos Estados do Amazonas, Acre e Rondônia, etc. Desses encontros, resultaram na criação da COPIAR – Comissão dos Professores Indígenas do Amazonas, Roraima e Acre, que em 2000 passou a chamar-se COPIAM – Conselho dos Professores Indígenas da Amazônia. Essas transformações foram paulatinamente ampliando a ação e a atuação dos professores indígenas de Roraima junto aos professores indígenas de toda a Amazônia brasileira (Silva, 1997). No contexto desses encontros e debates realizou-se uma assembléia de professores indígenas na missão Surumu, em outubro de 1990. Neste encontro nasceu a Organização dos Professores Indígenas de Roraima – OPIR. Criada com apoio dos tuxauas, das lideranças e das comunidades indígenas. A nova organização tinha a finalidade de viabilizar a realização de atividades necessárias ao processo de organização e de encaminhar as reivindicações por uma educação de qualidade para os povos indígenas. Desta forma, gradativamente foi-se moldando uma nova concepção de educação indígena, na qual a educação escolar é feita prioritariamente por indígenas. Agora se tratava, então, de cunhar uma educação dos indígenas, e não mais para os indígenas, como vinha ocorrendo até então. Com todo esse processo histórico é importante observar a leitura que é feita dentro dos livros didáticos que são selecionados para a utilização dentro das salas de aula. Assim a Secretaria de Educação de Roraima informou que a escolha dos livros enviados pelo MEC é realizada com à participação ativa e democrática do professor. Esta participação exige que o professor tenha uma boa preparação para proceder à escolha dos livros. Para isso é necessário que o professor possua saberes e critérios muito definidos sobre o tipo de material que considera adequado ao trabalho que deseja realizar com seus alunos a que venha ao encontro da realidade da comunidade escolar a que se destina. Alguns relatos de autores identificam que as abordagens feitas a partir destes livros muitas das vezes não sendo mediadas de forma correta pelo professor o qual podem desenvolver conceitos que excluem os povos indígenas da sociedade atual, ou seja, em muitos relatos históricos nos livros didáticos os índios aparecem apenas na época da chegada dos europeus ao Brasil, principalmente porque esse assunto aparece nos livros somente quando abordado este período específico da História do Brasil, posteriormente essa mesma população é esquecida nos anos posteriores, como na História do Império e República, e também nos dias atuais, como se a mesma não existisse mais. Esse fato também é destacado por Silva e Grupioni:
- 84. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 8 75 Nesta perspectiva, nos preocupamos ao constatar que a tendência da maioria dos materiais didáticos que chegam à sala de aula é generalizar a figura do índio colaborando para afirmar a não contemporaneidade dos mesmos, “como se fossem um todo homogêneo, iguais entre si, fazendo parte apenas do passado” (SILVA & GRUPIONI, 1995, p. 11). Assim o professor quando assume uma postura declinada e voltada totalmente para o livro didático percebe-se que se está reforçando a idéia difundida desde a época da chegada dos primeiros europeus ao Brasil, ou seja, aquela visão que concebe o índio como ingênuo, incapaz de compreender o mundo dos não índios e, portanto à mercê de sua tutela. Desse modo o índio pode ser visto como um ser invisível, que habita os livros didáticos. Quando ocorre a referência são “classificados” de maneira genérica sem identificação étnica, com suas línguas, em seus diferentes espaços, em suas formas sociais de organização e cultura. (LEMOS, 1999). Um aspecto interessante e bem conhecido são as literaturas estudadas nas escolas como os romances, crônicas e produções intelectuais da época, e que figuram até hoje nos materiais didáticos, em que escapam a dimensão histórica que é própria desses povos. De acordo com Cláudio Vicentino (1995, p. 123), “Vivendo num estágio semelhante ao dos homens do Período Paleolítico, os índios brasileiros eram nômades e dedicavam-se à caça e a pesca”. Assim acredita-se que a visão dos livros pode desenvolver ideologias e conceitos muitas das vezes subliminares onde, por exemplo, ao utilizar um livro em que o autor compara os índios aos homens do período Paleolítico, provavelmente os alunos irão associar todas as demais características deste período aos povos indígenas do Brasil do século XVI. Isso sem dúvida é errôneo e não está de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais, uma vez que o período da História é comprometido com visões absolutistas. Conforme Mario Furley Schimidt: Existem várias maneiras de se compreender as diferenças entre os povos indígenas da América. Por exemplo, podemos analisar a estrutura econômica desses povos, ou seja, o modo como cada um deles encontrou para trabalhar, produzir e sobreviver. (SCHMIDT, 2004, p.134) Outro aspecto que urge debate e reflexão é a discussão sobre as questões religiosas dos povos indígenas, por considerarmos esta tarefa extremamente complexa e delicada, pois são conhecimentos que certamente não dominamos. Para Vicentino (1995, p. 123) Quando o aluno lê em um livro que “o pajé é um chefe religioso, que trata dos doentes usando ervas e magias”, certamente irá associar aos índios o conceito de magia que conhece, ligado à fantasia e a algo que não é real, que não se acredita. Esse olhar errôneo e cheio de estereótipos e são deveras reais e proponentes a acontecer diante de leituras e Livros Didáticos com relatos mal elaborados.
- 85. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 8 76 Os livros didáticos produzem a mágica de fazer aparecer e desaparecer os índios na historia do Brasil. O que parece mais grave neste procedimento é que, ao jogar os índios no passado, os livros didáticos não preparam os alunos para entenderem a presença dos índios no presente e futuro. E isto acontece, muito embora as crianças sejam cotidianamente bombardeadas pelos meios de comunicação com informações sobre os índios hoje. Deste modo, elas não são preparadas para enfrentar uma sociedade pluriétnica, onde os índios parte de nosso presente e também de nosso futuro, enfrentam problemas que são vivenciados por outras parcelas da sociedade brasileira (GRUPIONI, 1996, p.425). Historicamente o Brasil tem tratado com muito preconceito e discriminação as diferenças étnicas e culturais presentes em seu território, apesar de fazer acreditar no contrário, sendo a escola um importante mecanismo reprodutor desta situação e por isso, pode ser um local privilegiado para debates e discussões. Nesse aspecto a tentativa de desqualificar a história e cultura indígena no século XIX acabou sendo o reflexo do conflito entre as elites e os grupos indígenas que apresentavam resistência à intervenção do Estado brasileiro. A esse respeito, Patrícia Melo Sampaio, em seu artigo destinado a analisar a legislação indigenista, do início do século XIX, escreve: (...) dizia respeito à contradição que iria marcar profundamente o pensamento brasileiro com referencia aos índios durante o Império. No mesmo momento em eu o Estado sancionava ‘guerras ofensivas’ contra os índios em diferentes cantos do país, reivindicava-se um passado comum, mestiço, para destacar a identidade dessa nova nação americana no contexto da separação política (SAMPAIO, 2009, p.178). Freire (2002), diz que a representação que cada brasileiro tem do índio é prioritariamente aquela que foi transmitida na sala de aula, com a ajuda do livro didático.Assim as aulas de histórias são as principais responsáveis pela representação indígena no Ensino Fundamental. 2.1 O Curriculo e a Educação Indígena Desenvolver a construção do Currículo Escolar deveras é uma tarefa que melhora a função do professor como mediador do processo educativo, uma vez que implica no fortalecimento das concepções de ensino, educação, conhecimento, homem e sociedade. Quando voltamos essa atitude para o Ensino da História Indígena esse papel revela a tomada de posição com mais propriedade, uma vez que será representada a valorização da cultura de povos diferenciados. O papel do Currículo é de excelência e precisa estar vinculado a prática pedagógica por meio das escolhas dos conteúdos, abordagens e metodologias de ensino utilizadas na condução da tarefa de ensinar. Ao se observar o currículo como proposta educacional e fundamentada com valores éticos e morais que evidenciam a identidade cultural de cada povo o professor
- 86. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 8 77 deve empenhar-se no exercício de sua função com autonomia, despertando a curiosidade e interesse dos alunos pelo conhecimento, pois, como ressaltou Freire (2000, p.95) o professor deve saber que, sem a curiosidade que o move, o inquieta e o insere na busca, não é possível aprender nem ensinar e o ensino de História Indígena requer um comportamento pesquisador por parte do professor. Compreender o Currículo voltado para a abordagem indígena é essencial, pois, a mesma se apresenta como grande desafio onde o educador desenvolver seu senso crítico e de pesquisador, uma vez que não pode ter como absoluto o uso do Livro Didático. A História Indígena não deve aparecer isolada em um período específico como acontece nos livros didáticos, mas o professor como pesquisador deve apresentar por meio de metodologias diferenciadas que esse mesmo índio da história antiga aparece nos dias atuais. Que não é só no dia 19 de abril, fazendo um cocar de cartolina e pintando o rosto dos alunos com guache, ou apresentar, a cosmogonia de alguns povos indígenas que se retrata a História Indígena. Trabalhar com a temática indígena apenas nas datas comemorativas resulta em reproduzir visões distorcidas e estereotipadas, o que não corresponde às necessidades dos educandos nos dias atuais e implica desrespeito para com as comunidade indígenas e o respeito a pluralidade cultural. Os PCNs definem o conceito de Pluralidade Cultural como sendo uma temática que se preocupa com o conhecimento e a valorização de características étnicas e culturais dos diferentes grupos sociais que convivem no território nacional, de modo que o aluno tenha a possibilidade de conhecer o Brasil como um país complexo, multifacetado e algumas vezes paradoxal (BRASIL, MEC). E no exercício de sua função, o professor deve salientar essa característica da sociedade brasileira, que é o multiculturalismo. É sob a égide dos estudos culturais, compreendidos como base teórica, que devem ser conduzidos os estudos sobre história indígena na escola. Como salienta a lei 11.645/08, esses estudos devem estar vinculados à compreensão do resgate da contribuição da cultura indígena – e africana – para a formação da sociedade brasileira. Nesse sentido, tratar de cultura indígena na escola implica reconhecer que não estamos falando de processos congelados no passado, mas de atividades humanas contemporâneas, presentes em nossa sociedade e que, por isso, sofreram transformações ao longo do processo histórico – um índio de calça jeans não perde sua identidade étnica pelo simples fato de apropriar-se da produção material contemporânea. Quando analisamos historicamente uma sociedade, realizamos recortes que ajudam na compreensão dos processos históricos. Nosso ponto de partida, contudo, deve ser sempre a sociedade do presente, objeto de questionamento e reflexão. A abordagem da história indígena deve seguir essa lógica, sendo contextualizada e inserida no tempo presente para que não se incorra no erro de considerar os indígenas como “um povo do passado” ou “ruínas de povos”, como outrora eram concebidos.
- 87. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 8 78 3 | METODOLOGIA Para proceder à análise à qual nos referimos, utilizamos o Livro de História do sexto ano do Ensino Fundamental adotado pela escola, onde há maior ocorrência da temática indígena. Assim nosso estudo foi desenvolvido a partir da análise de um livro didático de História recomendado pelo Programa Nacional do Livro Didático para o Ensino Fundamental– PNLD –2017, evidenciando o discurso sobre a abordagem textual e a difusão de imagens sobre as populações indígenas no Brasil. A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica, com intuito de verificar a discussão sobre a presença dos indígenas no livro didático. Além da análise do livro didático como fonte de informação documental. Além desta análise, realizou-se uma entrevista com quatro professores que atuam no Ensino de História para obtenção de dados pertinentes ao estudo. Desse modo tivemos o contato com o Manual do PNLD o qual realiza uma avaliação geral dos Livros Didáticos ajudando na escolha pelo professor nas escolas. Figura 1: Capa do Manual PNDL –Escolha do Livro Didático de História, 2017 Partindo dessas considerações iniciou-se a análise do Livro escolhido e adotado pela escola para o ensino da disciplina de História no ano de 2017 pela rede pública de ensino. E nesse processo não deixou-se de considerar a importância do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), instituído pelo Ministério da Educação desde 2001 para avaliar sistematicamente os livros didáticos produzidos pelas editoras, através de comissões constituídas especialmente para este trabalho. É importante ressaltar a análise do PNDL dos livros didáticos que ao final desta avaliação sempre é elaborado o Guia do Livro Didático, que contém a relação dos livros aprovados, bem como a resenha dos mesmos e os princípios e critérios que foram utilizados neste processo. Trata-se de uma excelente ferramenta para auxiliar o professor no processo de escolha dos livros, pois muitas vezes não são oportunizados momentos exclusivos para este trabalho na escola.
- 88. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 8 79 Assim com a finalidade de atingir os objetivos da pesquisa e para uma maior compreensão sobre a pesquisa a ser realizada, de forma a percorrer o caminho metodológico buscamos entender o processo da escolha do Livro Didático e analisar os Livros escolhidos para o uso no ano de 2017. A pesquisa foi realizada no 1º semestre de 2017 e optou-se pela abordagem qualitativa dada a relevância de sua aplicabilidade no campo educacional. Entre as técnicas da abordagem da pesquisa qualitativa foi utilizada a análise documental do Livro Didático e a entrevista com professores sobre o contexto escolar seguida da análise empírico-interpretativa para tratamento dos dados coletados. E quanto ao procedimento situou-se em uma pesquisa bibliográfica, que FONSECA diz que: (...) é feita a partir do levantamento de referências teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos, páginas de web sites. Qualquer trabalho científico inicia-se com uma pesquisa bibliográfica, que permite ao pesquisador conhecer o que já se estudou sobre o assunto. Existem, porém pesquisas científicas que se baseiam unicamente na pesquisa bibliográfica, procurando referências teóricas publicadas com o objetivo de recolher informações ou conhecimentos prévios sobre o problema a respeito do qual se procura a resposta (FONSECA, 2002, p. 32) A pesquisa foi organizada em etapas que envolveram o levantamento de referencial teórico; análise do Livro Didático; pesquisa de campo envolvendo a entrevista com os professores e após a análise dos dados. O primeiro momento foi para a realização de um levantamento sobre os professores que atuam lecionando história na escola campo. Na sequência buscamos identificar os Livros de História utilizados pela escola para análise dos mesmos. As entrevistas foram feitas a partir de um questionário com cerca de 5 perguntas abertas para os docentes. As perguntas tiveram a finalidade de perceber e poder analisar quais os desafios e dificuldades que os docentes tinham no Ensino de História relacionado ao uso do Livro Didático na abordagem da temática indígena. Segundo MARCONI “(...) a entrevista consiste no desenvolvimento de precisão, focalização, fidedignidade e validade de um certo ato social como a conversação”(MARCONI, 2009, p.81). A pesquisa foi mensurada por meio dos dados das entrevistas e análise do Livro Didático voltado pra questões indígenas. Ao final, a revisão da literatura foi comentada de acordo com os resultados da pesquisa. A aplicação da entrevista foi realizada mediante autorização da Secretaria de Educação e Desporto de Roraima e consentimento da gestão da escola. Desta forma os procedimentos metodológicos tiveram base e fundamentos para ser realizado com coesão e objetividade visando à compreensão do objeto de pesquisa para uma melhor qualidade de ensino na Educação Indígena.
- 89. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 8 80 4 | DISCUSSÃO E RESULTADOS Ao realizar o levantamento teórico e todo o suporte bibliográfico foi-se de encontro a realidade da escola visando identificar qual o Livro de História escolhido pela escola de campo. Assim o Livro a qual realizou-se a análise foi: PROJETO ARARIBÁ – HISTÓRIA, da Autora Maria Raquel Apolinário, da Editora Moderna, 2014, 4ª edição. Sob o olhar do Guia do PNDL 2017 pode-se destacar alguns conceitos relacionados a escolha do Livro Didático, lá em sua página 31 ele fala que o ano de 2008 demarcou a promulgação da Lei 11.645, que dispõe sobre a obrigatoriedade do tratamento da temática afro-brasileira e indígena em todo o sistema escolar brasileiro. Tal lei viria ampliar o sentido previamente constituído pela lei 10.639, do ano de 2003, que pela primeira vez na história do país tornava obrigatório o enfrentamento escolar da questão das relações étnico-raciais em todas as suas implicações curriculares e cotidianas. As duas leis representam um ponto importante de mudança numa estrutura de silenciamento e produção de muitos estereótipos que, ao longo de mais de um século, vem demarcando práticas e discursos escolares. De acordo com análise feita pelo PNLD embora compreendida comumente como uma dimensão correlata da temática africana e afro-brasileira em termos da estrutura legal que a sustenta, o tratamento da temática indígena ainda se coloca como o componente mais frágil no conjunto das obras didáticas aprovadas no PNLD, sendo o aspecto que merece maior grau de investimento por parte de autores, de editoras e de professores no uso das coleções. Com essa visão passou-se a analisar o Livro do Projeto Araribá de História do 6º Ano do Ensino Fundamental. Foi possível observar que os conteúdos estão organizados em torno de uma narrativa linear cronológica e integrada da História do Brasil. O Manual do Professor possui discussões aprofundadas sobre as fontes históricas e o uso de imagens em sala de aula. Em relação à abordagem da História, várias fontes são utilizadas na coleção, em propostas que objetivam a construção de conhecimento pelos estudantes. A obra tem como foco a leitura de textos, investindo no desenvolvimento da capacidade de compreensão e de análise das temáticas, estimulada por meio das atividades propostas. Motiva-se o trabalho com uma variedade de recursos textuais e não textuais, entre eles gráficos, fotografias, charges, quadrinhos, mapas, infográficos, cinema e mais, orientando para a noção de história enquanto construção. O Livro de História do 6º ano possui 224 páginas e está dividido em 9 Unidades: Aprender a fazer. Unidade I: Introdução ao estudo de história. II: As origens do ser humano. III: O povoamento da América. IV: Mesopotâmia, China e Índia. V: O Egito e os Reinos da Núbia. VI: Hebreus, fenícios e persas. VII: A civilização grega. VIII: As origens e a expansão de Roma. IX: A Roma imperial e o mundo bizantino.
- 90. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 8 81 Figura 2: Livro Didático de História, 2017 O Livro do Estudante organiza-se em nove unidades, subdivididas entre quatro ou cinco temas. Os volumes possuem seções fixas e outras que aparecem intercaladamente. São elas:Apresentação; Página deAbertura; De Olho no Infográfico, com informações complementares, imagens e questões sobre o tema; Em Foco, com texto e trechos de fontes acompanhados de exercícios; Sugestão de Trabalho, que pode ser de filme, leitura ou site; Atividades, divididas em Organizar o Conhecimento, Aplicar e Arte, para revisão de conteúdos; e Compreender um Texto, focando a competência leitora dos alunos. Ao final, há referências bibliográficas e a reprodução de mapas. O Manual do Professor é denominado como Guia e Recursos Didáticos – para uso exclusivo do Professor. Está estruturado em: Apresentação Geral, Referências Bibliográficas e Estrutura do Guia, comum a todos os volumes e, na parte diferenciada para cada volume, apresentam-se as Orientações específicas para cada ano, organizadas em Mapa de Conteúdos, que traz o esquema da unidade, o tema e sua relevância, os objetivos da unidade, o desenvolvimento didático, as leituras complementares, as sugestões de atividades extras e as sugestões de leituras, filmes e sites; Respostas das Sugestões de Atividades e Respostas e Comentários das Atividades do Livro do Aluno. O trabalho com os conceitos da disciplina História, como identidade, historiografia, memória, sujeito histórico está presente, articulado às discussões dos conteúdos. O conceito de tempo é abordado de forma mais direta no 6º ano e, na Proposta Didático- pedagógica, o aluno é orientado para o entendimento de que a História é formada por sujeitos comuns do passado e do presente. Em função desse entendimento, a obra valoriza as experiências e os conhecimentos prévios dos estudantes, capacitando-os para desenvolver a autonomia de pensamento e o raciocínio crítico, além de ampliar sua visão de mundo. Os temas são trazidos para a atualidade com o propósito de
- 91. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 8 82 dialogar com as experiências vividas, contribuindo com o processo de construção do conhecimento histórico dos alunos. A História da África, afrodescendentes e indígenas é abordada continuadamente no Livro e demonstra grande empenho na forma e na quantidade de recursos utilizados para problematizá-la, destacando contribuições atualizadas e levando à percepção das singularidades (sociais e culturais) e potencialidades dessas culturas e povos. Além de estimular os alunos à reflexão sobre racismo, preconceito e discriminação, levando-os a atitudes de respeito às diferenças culturais e sociais e de tolerância. Figura 3: Imagens do Livro Didático de História, 2017, Coleção Araribá. Para abordar os indígenas, a obra investe em textos e imagens que destacam aspectos positivos, evidenciando as cores e a beleza, levando à compreensão de que são cultural e politicamente exitosos e respeitados em suas sociedades. De modo geral o livro apresenta algumas características gerais dos grupos indígenas brasileiros. Mencionam que existem diferenças entre os grupos, mas, não avançam no sentido de apontar para algumas que sejam capazes de remeter o leitor às especificidades e singularidades dos grupos. Textos e recursos visuais contribuem para desconstruir a percepção desses povos como vítimas, realçando as singularidades
- 92. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 8 83 que marcam esses grupos sociais. Esta foi esta a análise resumida do Livro Didático de História do 6º ano utilizado pela escola campo. Agora passaremos para uma análise sublime das entrevistas realizadas. Durante as entrevistas realizou-se cinco perguntas básicas acerca do tema: A primeira foi saber como o professor analisava a imagem do índio representada hoje nos livros didáticos de história utilizados nas escolas estaduais da rede pública de Roraima? As respostas dos professores foram de encontro com o que se observou no Livro Didático, segundo eles entre outros livros já utilizados a Coleção Uraribá reconhece a identidade do índio em sua história e pela experiência de ensino dos mesmos o seu conteúdo difere das informações presentes na maioria dos livros didáticos que só informam coisas semelhantes e privilegiam os mesmos aspectos da sociedade tribal. No segundo questionamento relacionado ao primeiro buscou-se compreender como o índio era visto dentro do livro didático na percepção do Professor. Os mesmos que já atenderam a esse questionamento com a resposta anterior acrescentaram que aquela idéia de índio genérico que se tinha na Europa do século XVI, apontada em muitos livros, aparece diferenciada dentro dos conteúdos visualizados neste livro embora se perceba ainda um pouco de generalização correlacionada. No terceiro questionamento perguntou-se se os mesmos utilizavam mais de uma referência para o ensino de história ou se ficavam apenas com o conceito do livro didático como verdade absoluta. As respostas se sobressariam, 50% responderam que utilizam somente o livro didático e os outros 50% disseram que buscam outras fontes e até incentivam os alunos a pesquisarem a serem críticos. Posteriormente a pergunta foi sobre a escolha do livro didático de história, como ocorria dentro das escolas. Os entrevistados responderam que devido ao pouco tempo é feita uma reunião ou encontro com os professores de cada disciplina onde são analisados as opções de livros pra o ano letivo, o qual são válidos por três anos. De acordo com os mesmos é preciso mais rigor na escolha do livro, algo que não acontece devido ao tempo e isso acaba por muitas vezes atrapalhando na gerência e escolha do livro. No último questionamento buscou-se verificar se durante a formação acadêmica esse professor de história teve alguma disciplina que alertasse sobre o senso critico do Livro Didático como verdade absoluta. As respostas foram variadas, 25% respondeu que sim, 50% que não e 25% que houve uma referência mais bem longe do que se esperava. De modo geral evidenciou-se que ainda prevalece na historiografia didática, a idéia de uma história eurocêntrica onde o índio junto com o negro desempenha papel de ator coadjuvante (SILVA, 1995:481-526) numa história onde o branco é o protagonista. Assim, um outro aspecto bastante questionado pelos pesquisadores da temática indígena é que esta sempre aparece enfocada no passado, em função do colonizador e marcada por eventos.
- 93. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 8 84 5 | CONSIDERAÇÕES As considerações dessa pesquisa deixa evidenciado que não devemos ser ingênuos a ponto de acreditar que o livro didático deva corresponder a todos os nossos anseios e necessidades, dado o fato de que ele materializa o pensamento e a concepção de história, de mundo, de educação e de ensino de história dos autores que o conceberam, ou seja, uma leitura possível. Nesse sentido, analisar a abordagem dada à questão indígena no livro de Maria Raquel Apolinário, teve sobretudo o objetivo de buscar estabelecer um diálogo entre o que se produz para ser utilizado na sala de aula e a forma como esse produto é de fato utilizado. A análise de Coleção Araribá - História constitui-se num passo, ao nosso ver, importante e capaz de nos aproximar da realidade de sala de aula através do debate que estamos aqui iniciando. É com o professor que está no exercício do seu ofício todos os dias que queremos dialogar e contribuir para que o trabalho de desconstrução do texto seja uma etapa que preceda a escolha e o trabalho de preparação de suas aulas. Diante destas evidências essa pesquisa significa que mais do que nos propormos a elencar os problemas e lacunas que o texto em questão apresenta, entendemos como necessário a continuidade desse trabalho no sentido de criarmos situações que possam possibilitar o contato do professor com referenciais que afirmamos que Maria Raquel Apolinário não fornecem no livro e que os pesquisadores do tema aqui proposto têm a oferecer. No entanto, embora os dados adquiridos apontem pra uma melhora ideológica do índio no Livro Didático é importante ressaltar que na historiografia brasileira, a contribuição do índio foi bastante desconsiderada em prol, principalmente, do enaltecimento do colonizador europeu. Grande parte dos autores e obras clássicas de História do Brasil o qual perdurou por muito tempo a imagem do índio associada ao desprezo, como um derrotado ou então como alguém que teria se miscigenado cordialmente com o branco, descaracterizando-se para sempre. Essa mentalidade influenciou muito dos livros didáticos escolares, trazendo como consequências um conhecimento de História que ignora a trajetória e contemporaneidade do índio. Também obscurece as questões atuais sobre as tribos indígenas, sobretudo no campo dos direitos civis. Portanto, ao analisar a forma com que o índio é mencionado na educação, é necessário ponderar que essa sucessão de visões errôneas remonta séculos de transmissão de abordagens limitadoras e preconceituosas, consolidadas pelo tempo e tomadas como verdades absolutas. Doravante, a formação docente pode e deve ser repensada, conforme recomendam os Parâmetros Curriculares Nacionais, para que os professores, especialistas e generalistas, possam refletir melhor e repercutir essas novas perspectivas, visando formar educandos com mentalidade
- 94. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 8 85 mais aberta e igualitária. REFERÊNCIAS ALMEIDA, Doris Bittencourt; GRAZZIOTIN, Luciane. Uma obra referência para professores rurais: a escola primária rural. In Revista FAEEBA, v. 36, 2011. BARROS, Josemir Almeida; LIMA, Sandra Cristina Fagundes de. História das escolas públicas primárias em áreas rurais: ausência de políticas públicas (Minas Gerais 1899 - 1911). Revista HISTEDBR On-line, v. 13, 2013, pp. 251-263. BRASIL, Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Diário Oficial da União, Brasília; DF, 24 dez. 1996. _______ Conselho Nacional da Educação. Diretrizes operacionais para a educação básica das escolas do campo. Parecer n.º 36/2001 e Resolução 01/2002 do Conselho Nacional da Educação. Brasília, 2002. EAGLETON, Terry. A ideia de cultura. Trad. Sandra Castello Branco. São Paulo: UNESP, 2005. FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 43. ed., São Paulo: Paz e Terra, 2011. FONSECA, J. J. S. Metodologia da pesquisa científica. Fortaleza: UEC, 2002. GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4ed. São Paulo: Atlas, 2002 PINHEIRO, Maria do Socorro Dias. A concepção de educação do campo no cenário das políticas públicas da sociedade brasileira. 2011. Disponível em: http://br.monografias.com/trabalhos915/ educacao-campo-politicas/educacaocampo-politicas.shtml. Acesso em 5 de Julho de 2017. LEITE, S.C. Escola rural: urbanização e políticas educacionais. São Paulo: Cortez, 1999. MARCONI, Marina de Andrade. Técnicas de Pesquisa: Planejamento e execução de pesquisa, elaboração, análise e interpretação de dados. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2009. MOURA, Edinara Alves de. Lugar, saber social e educação no campo: o caso da Escola Municipal de Ensino Fundamental José Paim de Oliveira - distrito de São Valentim. 2009.198 f. Dissertação (Mestrado em Geografia) − Universidade Federal de Santa Maria, SantaMaria, 2009. MACHADO, Ilma Ferreira. Um projeto político‐pedagógico para a escola do campo. Caderno de Pesquisa: Pensamento Educacional, v. 4, nº 8, p. 191‐219. jul/dez. 2009. XIMENES-ROCHA, S. H.; COLARES, M.L.I.S. A organização do espaço e do tempo escolar em classes multisseriadas. Na contramão da legislação. Revista HISTEDBR On-line, v. 13, 2013. ZABALA, Antoni. A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre: 1998. NEVES, Luiz Felipe Baêta. O Combate dos Soldados de Cristo na Terra dos Papagaios. Colonialismo e repressão cultural. Forense-Univeritária. RJ, 1978. SILVA, Rosa Helena Dias da.Escolas indígenas: uma realidade em construção! A contribuição do movimento dos professores indígenas do Amazonas, Roraima e Acre. Em: Leitura e Escrita em Escola Indígenas. ALB / Mercado Letras. Brasil, 1997.
- 95. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 8 86 FARAGE, Nádia. Os Aldeamentos Indígenas no Rio Branco. Em: As Muralhas dos Sertões. Paz e Terra/ANPOCS, 1991. OPIR, Documento Final XIII Assembléia Geral da OPIR. Organização dos Professores Indígenas de Roraima. Comunidade Maturuca, 2006.
- 96. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 9 87 A (IN) EXISTÊNCIA DE UM PROJETO EDUCACIONAL PARA OS NEGROS QUILOMBOLAS NO PARANÁ: DO IMPÉRIO A REPÚBLICA CAPÍTULO 9 doi Lucia Mara de Lima Padilha Universidade Estadual de Ponta Grossa Departamento de Educação lupadilha5@yahoo.com.br RESUMO: O presente texto tem por objetivo apresentar os resultados parciais da pesquisa realizada sobre a (in) existência de um projeto educacional para os negros no Paraná, no período histórico delimitado entre o final do século XIX e início do século XX. Os objetivos da pesquisa foram: compreender o contexto histórico no qual os negros foram escravizados e a formação dos Quilombos no Paraná; investigar quando se deu o início das ideias liberais e do capitalismo no Paraná como um movimento antagônico à escravidão; Identificar a (in) existência de um projeto educacional para os negros no Paraná, no período histórico delimitado. As categorias de análise escolhidas para a realizaçao da pesquisa foram: Contradição; Luta de Classes; Mediação e Totalidade. O método teve como pressuposto teórico-metodológico o Materialismo Histórico e Dialético. A pesquisa teve caráter documental e bibliográfico e constituiu-se em quatro momentos: no primeiro foram abordadas questões sobre a escravidão do negro e a formação dos Quilombos no Paraná; no segundo, buscou-se investigar quando se deu o inicio das ideias liberais no Paraná; o terceiro momento consistiu em compreender como foi a integração do negro à sociedade republicana paranaense, no período pós-abolição, e, no quarto, tratou-se da análise sobre a educação pública e estatal republicana no Paraná e a (in) existência de um projeto educacional para os negros quilombolas nofinal do século XIXeinicio do século XX. Como conclusão, a tese defendida é a de que não houve um projeto educacional voltado para a formação das crianças negras, filhas de ex-escravos, nas primeiras décadas após a abolição da escravatura no Paraná. PALAVRAS-CHAVE: Negros, Quilombos, Educação, Paraná. INTRODUÇÃO O presente texto tem por objetivo apresentar os resultados da pesquisa de doutorado realizada, entre os anos de 2012 e 2016, no programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estadual de Ponta Grossa, na linha de pesquisa História e Políticas Educacionais. A referida tese de doutorado teve como propósito investigar, por meio de pesquisa bibliográfica e de análise de documentos oficiais, a (in) existência de um projeto educacional para os negros no Paraná no período histórico delimitado entre o final do século XIX e início do
- 97. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 9 88 século XX. Período este em que os discursos liberais republicanos propagaram a ideia de ‘liberdade’ e ‘igualdade’ e propuseram que a educação fosse oferecida pelo Estado e estivesse ao alcance de todos. A ESCRAVIDÃO NEGRA NO BRASIL E NO PARANÁ No início do período republicano, os discursos ideológicos enfatizavam a criação das escolas públicas, em forma de Grupos Escolares, que atenderiam a todas as crianças do Brasil. No período histórico delimitado para esta pesquisa, pouco se tem escrito sobre a educação para as crianças negras paranaenses e de que forma essa educação oferecida pelo Estado ocorreu. Deste modo, esta pesquisa se justificou pela necessidade de se analisarem os cenários de luta e enfrentamentos dos negros quilombolas no Paraná, assim como sua interação no interior da sociedade escravista que passava por uma mudança conjuntural, procurando discutir os ideais Republicanos de educação no País. O tráfico de escravos para o Brasil, exercido por três séculos e meio (do século XVI até meados do XIX), trouxe mais de três milhões de africanos, que foram distribuídos por várias regiões do País. A escravidão negra foi praticada e legitimada por meio de um discurso que, primeiramente, apoiado na religião que ideologicamente propagava a ideia de que Deus determinava, naturalmente, qual seria a condição de vida das pessoas na sociedade. De acordo com esse discurso, pela sua cor, os negros eram vistos como pecadores, sendo a escravidão a única condição para alcançarem a salvação divina. Posteriormente, pautada na Revolução Francesa (1879), a outra justificativa para a escravidão negra se deu com base no Positivismo de Comte. Para ele os negros, por não serem europeus, eram primitivos e bárbaros, pertencentes a uma civilização considerada atrasada perante a Europa, e, deste modo, deveriam ter a “oportunidade” de, por meio da escravidão, tornarem-se humanos ao entrarem em contato com outras civilizações. Essa justificativa teve como objetivo encobrir e mascarar as reais intenções dos europeus ao arrancarem os negros de sua terra natal para escravizá-los em terras distantes. Aexploração do trabalho do negro escravo no Brasil se deu em todas as instâncias econômicas do País, ou seja, na agricultura, na mineração, nos serviços domésticos e também nos centros urbanos. A escravatura influenciou, “[...] decisivamente o modo pelo qual se organizavam as diversas esferas da sociedade. Desde o começo da época colonial até fins do período monárquico, marcou não só a economia, mas também a política e a cultura” (IANNI, 1988, p. 11). A presença do negro foi notada nas plantações, nas roças, “[...] nas cidades e nos campos, os escravos constituíam a principal força de trabalho. Vendedores, ambulantes, artesãos, carregadores, empregados domésticos, carreiros, percorriam as ruas da cidade na sua incessante labuta” (COSTA, 2008, p.23).
- 98. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 9 89 O Brasil foi o último País do mundo a abolir a escravidão, mesmo com a criação das leis internacionais de 1831 e 1850 que proibiram o tráfico de escravos, o País continuou recebendo milhares de africanos. O comércio e o tráfico negreiro representavam a lucratividade e o acúmulo de enormes fortunas, e, em uma sociedade de classe, onde somente algumas “[...] poucas famílias de poderosos controlavam a política e a administração, era difícil fazê-las respeitar a lei, sobretudo quando esta feria seus interesses. Igualmente difícil era encontrar quem ousasse desafiá-los” (COSTA, 2008, p. 27). Desta forma, o tráfico de negros escravos para o Brasil continuou por mais de cinquenta anos após a criação da Lei de 1831. O negro escravo era considerado como sendo uma “coisa”, desumanizado não tendo direito a nada, nem a sua própria existência lhe pertencia. Como propriedade de seu senhor, sofreu muitas humilhações e castigos. Eram frequentes os açoites, os estupros, as mutilações e os espancamentos que, por muitas vezes, levavam a morte. No Paraná, província de São Paulo até o ano de 1853, a estrutura econômica concentrou-se, basicamente, na mineração (século XVII); na pecuária (século XVIII), e na extração da erva – mate (século XIX), ciclos esses que sucediam e coexistiam ao longo dos períodos históricos. Apesar de o número de negros escravizados na região paranaense não ser tão expressivo comparando-se com as regiões de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro eles estiveram presentes nos diversos trabalhos realizados no interior das fazendas e posteriormente nos centros urbanos, onde exerciam as “[...] ocupações menos qualificadas socialmente. Em atividades agropecuárias, no artesanato urbano, nos serviços domésticos, nos transportes locais e entre as vilas”. (IANNI, 1988, p.111). A presença da população negra escravizada no Paraná pode ser verificada por meio de vestígios presentes nas antigas fazendas que formaram a região. Dados levantados em 1884 apontaram um número de 6.721 escravos distribuídos nos municípios do Paraná. Município Número de escravos Antonina 733 Lapa 661 Curitiba 527 Palmeira 505 Castro 402 Guarapuava 371 São José dos Pinhais 359 Campo Largo 309 Palmas 301 Jaguariaíva 296 Paranaguá 284 São José da Boa Vista 279
- 99. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 9 90 Ponta Grossa 250 Morretes 242 Tibagi 217 Arraial Queimado 189 Votuverava 148 Conchas 142 Guaraqueçaba 117 Guaratuba 94 Porto de Cima 84 Santo Antonio do Imbituva 80 Piraí 77 Rio Negro 54 QUADRO 1 - População negra escravizada no Paraná em 1884 Fonte: Adaptado de: MARTINS, 1995, p. 385. Coisificados, os negros escravizados e seus descendentes não foram passivos e apáticos diante de tanta violência e às péssimas condições de vida, muitos reagiram e organizaram a resistência ao regime escravocrata, fugindo e se refugiando em terras afastadas, que receberam o nome de Quilombo. A resistência negra ocorreu de várias formas, sendo as reações coletivas as que mais se destacaram contra a escravidão sofrida pelos africanos no Brasil. O primeiro Quilombo, chamado de Palmares, foi formado no final do século XVI por escravos fugidos de engenhos de açúcar que se agruparam na Serra da Barriga, em Pernambuco, um local de densas florestas de palmeiras, com terreno acidentado, o que tornava o acesso mais difícil. A luta e a resistência se deu por meio dos suicídios, das fugas e da formação dos Quilombos até a extinção oficial da escravatura no País, em 1888. No Paraná não foi diferente, e assim como no restante do País, os Quilombos eram localizados em áreas distantes dos centros urbanos e abrigavam os negros que fugiam das fazendas. Aos negros escravizados, os direitos tão proclamados no Brasil pelo ideário republicano no início do século XX, foram negados, pois os incluía ideologicamente nos discursos, mas na prática o que se evidenciava eram desprezo e indiferença, demonstrados na hostilidade dos brancos para com eles, que eram vistos como vagabundos, baderneiros, pessoas com maus hábitos higiênicos e sem educação. Após a abolição da escravatura, houve um alijamento da população negra paranaense, e, consequentemente a existência dos Quilombos, foi invisibilizada. Propagou-se a informação, principalmente pelo Movimento Paranísta, de que os negros eram poucos na região. Entretanto, a existência de trinta e seis Comunidades Remanescente de Quilombos/Comunidade Negra Tradicional no Paraná, citadas no quadro abaixo, evidenciou a presença do negro e a intencionalidade da classe
- 100. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 9 91 dominante de promover ideologicamente o branqueamento da região por meio da negação e invisibilização da população negra paranaense. MICRORREGIÃO DE CERRO AZUL Comunidade Remanescente: Quilombola João Surá; Quilombola Praia Do Peixe; Quilombola Porto Velho; Quilombola Sete Barras ; Quilombola Córrego das Moças; Quilombola São João; Quilombola Corrego do Franco; Quilombola Estreitinho; Quilombola Três Canais; Comunidade Negra Tradicional do Bairro dos Roque; Comunidade Negra Tradicional de Tatupeva. MICRORREGIÃO DE CURITIBA Comunidade Remanescente Quilombola de Areia Branca; Quilombola Palmital dos Pretos; Comunidade Negra Tradicional Sete Saltos. MICRORREGIÃO DA LAPA Comunidade Remanescente Quilombola da Restinga; Quilombola do Feixo; Quilombola da Vila Esperança. MICRORREGIÃO DE PARANAGUÁ Comunidade Remanescente: Quilombola Rio Verde ; Quilombola de Batuva . MICRORREGIÃO DE PONTA GROSSA Comunidade Remanescente: Quilombola Da Serra do Apon; Quilombola de Mamãs ; Quilombola do Limitão ; Quilombola do Tronco ; Quilombola do Sutil ; Quilombola de Santa Cruz. MICRORREGIÃO DE GUARAPUAVA Comunidade Remanescente: Quilombola Despraiado; Quilombola Vila Tomé ; Quilombola Cavernoso 1; Quilombola Invernada Paiol de Telha; Quilombola AdelaideMariadaTrindadeBatista;QuilombolaCastorina Maria da Conceição - (Fortunato); Comunidade Negra Tradicional Tobias Ferreira – (Lagoão); Quilombola Campina dos Morenos. MICRORREGIÃO DE PRUDENTÓPOLIS Comunidade Remanescente: Quilombola São Roque; Quilombola Rio do Meio. MICRORREGIÃO DE TOLEDO Comunidade Remanescente: Quilombola Manoel Ciriaco dos Santos ; Quilombola Apepú. MICRORREGIÃO DE IBAITÍ Comunidade Remanescente: Quilombola Água Morna ; Quilombola Guajuvira. QUADRO 2 Comunidades Remanescentes Quilombolas/ Comunidades Negras TradicionaisFonte: Instituto de Terras, Cartografia e Geociências Terra e cidadania, CURITIBA, 2008. No período pós-abolição criou-se o Mito da Democracia Racial com o objetivo de mostrar que no Brasil não existia preconceito contra os negros e que todos eram cidadãos brasileiros. Entretanto, ser emancipado politicamente não representou para os negros a emancipação humana, pois, no pós-abolição os negros ex-escravos e seus descendentes foram impedidos do acesso aos bens e serviços, os direitos concedidos, teoricamente por meio da Constituição Brasileira de 1891, não se concretizaram na prática. Nesse contexto, [...] o negro cidadão é apenas o negro que não é mais juridicamente escravo. Ele foi posto na condição de trabalhador livre, mas nem é aceito plenamente do lado de outros trabalhadores livres, brancos. [...] É o escravo que ganhou a liberdade de não ter segurança; nem econômica, nem social, nem psíquica. É uma pessoa cujo estado alienado vai manifestar-se agora plenamente, pois é na liberdade
- 101. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 9 92 que ele compreenderá que foi e é espoliado. Ele se tornou o cidadão que deverá compreender que já não estará mais integrado, ainda que hierarquicamente na posição mais inferior, mas integrado. Livre, ele estará só escoteiro dos meios de subsistência, dos instrumentos de produção. E tomará consciência de que não tem meios de consegui-los, salvo pela venda da sua força de trabalho, operação essa para a qual não foi preparado (IANNI, 1972, p.49, 50). Em 1871, após a promulgação da Lei do Ventre Livre, discutiu-se pela primeira vez a questão da educação para os negros, pois, se acreditava que eles poderiam ser utilizados como mão de obra no novo sistema de trabalho, livre e assalariado. Nos Congressos Agrícolas, realizados no Rio de Janeiro e em Pernambuco, em 1878, também se cogitou a possibilidade de se criarem escolas técnicas para preparar os negros para o trabalho livre e assalariado, no entanto, [...] a crença de que a liberdade gradativa dos escravos deveria ser acompanhada da presença da escola para transformar os ingênuos e os homens livres, parasitas da grande propriedade e da natureza pródiga, em trabalhadores submetidos às regras do capital [...] não se efetivou e, surpreendentemente, essas discussões desapareceram (SCHELBAUER, 1998, p. 52). A educação voltada para a formação do negro deixou de ser colocada como necessária, pela classe dominante que estava preocupada com a abolição da escravatura, quando ocorreu a substituição do trabalho escravo pelo trabalhador livre e assalariado, e à medida “[...] que os imigrantes se integravam às fazendas de café garantindo a continuidade da produção, os apelos à criação de colônias agrícolas, fazendas-escolas e colônias orfanológicas deixaram de ecoar” (SAVIANI, 2008, p. 164). Com a abolição da escravatura e a transição do Império para a República, os discursos ideológicos sobre a educação foram utilizados para justificar e fortalecer o novo regime no País. Nestes discursos afirmava-se que a educação seria oferecida a todas as crianças, pois, por meio dela se daria a solução para os problemas existentes e o caminho para o progresso do Brasil. Na ideologia burguesa liberal a ascensão econômica e social era uma recompensa pelo mérito pessoal, ou seja, a ideia que se propagava era a de que por meio da educação, do trabalho e da dedicação todos teriam acesso à propriedade privada. Os discursos liberais republicanos propagaram ideologicamente que a educação oferecida pelo Estado seria ofertada a “todos”, inclusive aos negros, proibidos, até então, de frequentarem as escolas. Mas qual foi o real interesse nesse ideal, uma vez que, na sociedade de classes, o Estado, representa a organização política da classe dominante e serve como instrumento de dominação? Desta forma, considera- se fundamental a compreensão do projeto republicano para a educação no Brasil e de que forma os negros tiveram acesso, ou não, à instrução publica oferecida pelo Estado. Nesse contexto, final do século XIX e início do século XX, foram criados os
- 102. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 9 93 Grupos Escolares urbanos em algumas regiões brasileiras. Por se tratar de regiões onde se concentrava o comércio, foram matriculados os filhos da burguesia e alguns poucos filhos de empregados que moravam na região. Para atender as crianças pobres e negras que viviam distantes dos centros urbanos e também aquelas que viviam nas colônias de imigrantes, foram destinadas as precárias escolas Públicas Isoladas (PADILHA, 2010). Os grupos escolares republicanos foram construídos nos centros urbanos com toda imponência, diferentemente das escolas criadas no período imperial, considerado pelos republicanos como uma época atrasada. A proposta de educação apresentada pelos liberais colocava a escola e a educação como capazes de modernizar o País, assim, os prédios deveriam atender as necessidades higiênicas e pedagógicas tão enfatizadas pelos republicanos. A educação, no final do século XIX, foi colocada pelo Estado republicano como a responsável pela solução dos problemas nacionais. A construção dos Grupos Escolares representou a modernidade no País e os ideais nacionalistas se fizeram presentes na “construção” da nova sociedade, por meio da instrução. Entretanto, para as massas populares, a educação nas escolas primárias não foi prioridade, sendo que essa discussão iniciou somente com a Reforma Paulista em 1920, cujos objetivos foram o de problematizar a questão da gratuidade e obrigatoriedade da alfabetização de todas as crianças com idade escolar (SAVIANI, 2004). Durante as primeiras décadas da criação dos Grupos Escolares, estes atenderam apenas a alguns alunos oriundos das camadas pobres da sociedade brasileira, pois, neste período histórico a maioria das crianças pobres e negras viviam em locais distantes das áreas urbanas. Pela ausência do Estado em construir Grupos Escolares nas periferias das cidades, esse isentava a obrigatoriedade da matricula e frequência escolar das crianças oriundas dessas regiões. Para elas, restavam as poucas Escolas Isoladas e Escolas Subvencionadas, as quais não davam conta da demanda. No Paraná, as poucas crianças negras que conseguiram frequentar as escolas republicanas sofreram com a hostilidade e com o preconceito. Eram vistas como desinteressadas e mal educadas, o que acarretaria, segundo o discurso burguês, na transmissão desses maus hábitos para as crianças brancas que teriam que conviver e dividir os espaços escolares com essas crianças. Diante disso, surgiram então os seguintes questionamentos: no período histórico delimitado, final do século XIX e início do século XX, houve a preocupação, por parte do Estado, em se criar um projeto educacional para o atendimento dos negros no Paraná?; Para as crianças negras paranaenses, que moravam nas regiões periféricas dos centros urbanos e para aquelas que moravam nos Quilombos, qual foi a educação pública ofertada? METODOLOGIA DA PESQUISA Para a compreensão da realidade, em sua totalidade, fez-se necessário entender
- 103. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 9 94 as relações, econômicas, políticas e sociais, presentes no contexto analisado, pois, as transformações que ocorrem em uma determinada sociedade são frutos das contradições existentes no interior destas relações. Desta forma, o método para análise dessa pesquisa terá como pressuposto teórico o Materialismo Histórico e Dialético, pois, é na produção dos bens materiais da existência da sociedade que, [...] os homens estabelecem relações determinadas, necessárias, independentes da sua vontade, relações de produção que correspondem a um determinado grau de desenvolvimento das forças materiais. O conjunto destas relações de produção constitui a estrutura econômica da sociedade, a base concreta sobre a qual se eleva uma superestrutura jurídica e política e à qual correspondem determinadas formas de consciência social (MARX, 1977, p.23). Deste modo, a análise para se compreender o objeto em estudo, deve partir das condições materiais de existência dos homens. Analisar a forma como se deu a (in) existência de um projeto educacional para os negros no Paraná no final do século XIX e início do século XX pressupõe uma pesquisa dialética, que contemple as condições econômicas, políticas e sociais presentes na sociedade brasileira da época. Para tanto foram escolhidas como categorias de análise e investigação – Contradição; Luta de Classes e Totalidade - com as quais se procurou aproximar do objeto em estudo. A análise destas categorias, no âmbito das transformações da sociedade brasileira no final do século XIX e início do século XX, tratando especificamente dos ideais republicanos e processo educacional das crianças negras no Paraná, considerou que: [...] o conhecimento histórico-educacional configura um movimento que parte do todo caótico (síncrese) e atinge, por meio da abstração (análise), o todo concreto (síntese). Assim, o conhecimento que cabe à historiografia educacional produzir consiste em reconstruir, através das ferramentas conceituais (categorias) apropriadas, as relações reais que caracterizam a educação como um fenômeno concreto (SAVIANI, 2008, p. 3). Percorre-se um caminho em busca da essência da realidade, que não se dá imediatamente, mas de forma nebulosa e confusa, procurando desvelar o real apresentado na forma de fenômeno. A partir do conhecimento da totalidade é possível então retornar ao objeto de estudo compreendendo as conexões e a contextualização dos fatos reais. Trata-se então de reconstruir a trajetória do fenômeno à essência (SAVIANI, 2004). Os procedimentos metodológicos que foram adotados na pesquisa consistiram em: • Revisão bibliográfica: Esta etapa consistiu na realização de um levantamen- to bibliográfico sobre a temática da pesquisa; • Pesquisa documental: levantamento e catalogação de documentos sobre negros e sobre Quilombos/Comunidades Remanescentes Quilombolas, dis-
- 104. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 9 95 poníveis no Arquivo Público e Biblioteca Pública do Paraná em Curitiba; Bi- blioteca Pública, Museu do Tropeiro; Casa da Memória; Secretaria da Edu- cação e Prefeitura de Castro; Casa da Memória; Biblioteca Pública e Museu Campos Gerais em Ponta Grossa; • Análise da documentação levantada e catalogada, dentre elas, os relatórios dos inspetores de ensino do Paraná - 1922/1923/1924; • Recursos gráficos: foram utilizados os seguintes: “[...] “itálico” para as fontes primárias. “Sem itálico” para as fontes secundárias” (NASCIMENTO, 2008, p. 22). As citações de fontes primárias mantiveram a redação original, sem qualquer atualização ortográfica. O levantamento e a catalogação das fontes primárias e secundárias sobre os negros, bem como os dados levantados sobre as Comunidades Remanescentes Quilombolas do Paraná, não podem ser considerados como suficientes para a compreensão do objeto de estudo apresentado, ou seja, as fontes não puderam falar por si só, mas, fizeram parte da análise da totalidade da realidade. Narevisãobibliográfica,realizadanafaseinicialdapesquisa,fez-senecessárioum levantamento acerca das produções científicas existentes sobre os negros no Paraná. O levantamento dos trabalhos, na perspectiva da História da Educação, teve como critério de análise os seguintes questionamentos: Existem estudos sobre a educação dos negros e sobre os Quilombos do Paraná na área da História da Educação? O procedimento metodológico utilizado para a realização do estudo consistiu no levantamento de pesquisas de mestrado e doutorado, das instituições de Pós Graduação no País, disponíveis no banco de dados da CAPES até o mês de outubro de 2015, com as seguintes palavras chave: Negros no Paraná; Quilombos e Educação; Escravos no Paraná e Quilombos no Paraná. A partir do levantamento se verificou que as pesquisas acerca da escravidão negra no Brasil não são recentes, entretanto, no Paraná os estudos sobre a educação dos negros é um tema que ainda é pouco estudado. As pesquisas realizadas estão ligadas à Sociologia, à História, à Geografia, à Antropologia e à Educação. Pareceu pertinente citar aqui os trabalhos encontrados no levantamento realizado. Autor Titulo Local/Área Ano Andressa Lewandowski “Agentes e agências: o processo de construção do Paraná negro” (Dissertação). Universidade Federal do Paraná/Antropologia Social 2009 Maicon Silva Steuernagel “Entre margens e morros: a geografia narrativa dos filhos da Pedra Branca” (Dissertação). Universidade Federal do Paraná/Antropologia Social 2010 Jose Antonio Marcal Política de ação afirmativa na universidade federal do Paraná e a formação de intelectuais negros (as) (Dissertação) Universidade Federal do Paraná/ Educação 2011
- 105. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 9 96 Tania Mara Pacifico Relações raciais no livro didático público do Paraná. (Dissertação) Universidade Federal do Paraná/ Educação 2011 Juarez Jose Tuchinski dos Anjos Uma Trama Na História: A Criança No Processo De Escolarização Nas Últimas Décadas do Período Imperial, Lapa - Província do Paraná(1866-1886). (Dissertação) Universidade Federal do Paraná/ Educação 2011 Marcia de Campos Aspectos De Uma Trajetória Histórica Institucional E Discurso Educativo: Ideário e Formação De Professores em Palmas, Paraná. (Dissertação). Pontifícia Universidade Católica do Paraná/ Educação 2011 Filipe Germano Canavese O Testamento de Dona Balbina: Um Estudo de Caso Sobre Escravidão e Propriedade em Guarapuava (1851- 1865). Universidade Estadual Paulista Júlio De Mesquita Filho/Assis/ História 2011 Carlos Ricardo Grokorriski “Sutilezas entre ciência, política e v ida prática: alfabetização de adultos em uma comunidade remanescente quilombola” (Dissertação). Universidade Estadual de Ponta Grossa/ Educação 2012 Marcolino Gomes de Oliveira Neto Arte e Silêncio: A Arte Africana e Afro- Brasileira nas Diretrizes Curriculares Estaduais e no Livro Didático Público de Arte Do Paraná. (Dissertação) Universidade Estadual de Ponta Grossa/ Educação 2012 Miriam Furtado Hartung “A comunidade do Sutil: História e etnografia de um grupo negro na área rural do Paraná” (Tese). Universidade Federal do Rio de Janeiro / Antropologia 2000 Claudemira Vieira Gusmão Lopes “O etnoconhecimento e sua contribuição para o desenvolvimento rural sustentável: o caso da comunidade negra do Varzeão, Vale do Ribeira, PR” (Tese). Universidade Federal do Paraná / Ciências Agrárias 2010 Edimara Gonçalves Soares “Educação escolar quilombola: quando a política pública diferenciada é indiferente” (Tese). Universidade Federal do Paraná / Educação 2012 Ilton Cesar Martins Veredicto Culpado: A Pena de Morte Enquanto Instrumento De Regulação Social Em Castro - Pr (1853-1888) Universidade Federal do Paraná/História 2012 Noemi Santos da Silva O “Batismo na Instrução”: Projetos e Práticas de Instrução Formal de Escravos, Libertos e Ingênuos no Paraná Provincial. (Dissertação) Universidade Federal do Paraná/História 2014 QUADRO 3 Teses e Dissertações sobre a Educação dos negros no Paraná Fonte: elaborado pela autora com base no Banco de Dados da CAPES – outubro de 2015 A partir deste levantamento pode se verificar que apesar de o número de pesquisas, sobre o tema em questão, ter aumentado nos últimos anos no Brasil, no Paraná existe uma lacuna no que diz respeito a estudos que estejam voltados para a História da Educação dos negros, desta forma tornou-se necessária esta pesquisa. Ressalta-se, ainda, que o levantamento das pesquisas já realizadas é um procedimento necessário, pois permite ao pesquisador uma aproximação que possibilita o reconhecimento do estágio do conhecimento sobre o tema ou objeto a ser investigado. O processo de levantamento do que já foi publicado sobre o tema é de
- 106. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 9 97 fundamental importância para o pesquisador, pois, delimita “[...] o objeto da pesquisa e realizar a sua problematização de forma que situe e defina o estudo proposto. A elaboração do estado do conhecimento é, também, uma pesquisa para outra e que pode ser trabalhado de diversas formas” (NASCIMENTO, 2006, p 130). Assim, a presente pesquisa foi organizada em quatro capítulos: No primeiro capítulo buscou-se contextualizar o período histórico no qual os negros foram escravizados no Brasil. Abordou-se também a existência da escravidão no Paraná e a utilização da força de trabalho do negro escravo na mineração, na agricultura de subsistência, na pecuária, nos trabalhos domésticos, nos ofícios rurais e urbanos da região, bem como, a compreensão da formação dos Quilombos paranaenses como movimento de resistência à escravidão. No segundo capítulo procurou-se identificar os movimentos abolicionistas no Paraná em defesa da abolição gradual da escravatura.Abordaram-se também as ideias liberais sobre a propriedade privada e o trabalho livre e assalariado. Os princípios do liberalismo, liberdade, igualdade e fraternidade, que se apresentaram juntamente com o capitalismo, quando o Brasil passou a incorporar as ideias de liberdade de comércio e derepresentaçãopolíticaparaaclassedominante.Aentradadetrabalhadoreseuropeus no Paraná, incentivada pelos abolicionistas, que, ideologicamente, enfatizaram a superioridade do imigrante branco, considerado “dotado” de uma inteligência e força espiritual elevada, perante o negro. No terceiro capítulo buscou-se compreender como se deu a integração dos negros à sociedade paranaense pós-abolição da escravatura. Foram abordados os discursos ideológicos da classe dominante que, por meio do Mito da Democracia Racial, procurou transmitir a ideia de que no Brasil não existia o racismo e que todos os cidadãos brasileiros eram “iguais”, portanto, “todos tinham direitos iguais”. Assim, como se procurou evidenciar o movimento da classe dominante no qual se propagou a inexistência e, consequentemente, a invisibilidade do negro quilombola no Paraná republicano. No quarto capítulo tratou-se da análise sobre a educação pública e estatal republicana e a (in) existência de um projeto educacional para os negros no Paraná no final do século XIX e início do século XX, a partir da documentação oficial. Com a criação dos Grupos Escolares e a modernização do Paraná a educação foi colocada como a responsável pela ascensão social da população. O acesso a esses Grupos Escolares deveria ser garantido a “todas as crianças”, entretanto, era restrito de negros nestes espaços, e, os poucos que neles tiveram acesso sofreram com a discriminação presente na sociedade. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES A trajetória percorrida para a construção dessa pesquisa se deu em busca de compreender e identificar a existência, ou não, de um projeto educacional para os
- 107. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 9 98 negros no período pós-abolição da escravatura no Paraná. A partir desse objetivo geral foi necessário fazer algumas considerações a respeito das lacunas e inverdades existentes sobre a história dos negros no Paraná. Intencionalmente foi disseminado, por meio de bibliografias existentes sobre a história do Paraná, que não mais existiam negros na região paranaense no período pós- abolição da escravatura. A justificativa para tal ideia foi pautada em relatos de autores, já citados, que afirmavam ter havido um elevado número de óbitos da população negra e também a migração interna de escravos no País, que se deslocavam de um local para o outro. Desta forma, o Paraná foi apresentado como um Estado predominantemente europeu, fortalecendo assim a negação da população negra. A compreensão do contexto histórico no qual os negros foram escravizados e a formação dos Quilombos como um movimento de resistência se fez necessária para evidenciar a presença deles no Paraná e sua contribuição para o desenvolvimento da região. Para tanto, o resgate histórico se deu com a busca, muitas vezes sem êxito, nos arquivos públicos e museus à procura de documentos oficiais e imagens que pudessem retratar a história dos negros no Paraná. E também, de um exaustivo trabalho de cruzamento de dados históricos sobre: as fazendas, as minas de ouro e as famílias proprietárias de escravos, existentes no período em que ocorreu a escravidão e a formação dos Quilombos. Foi na falta dessas fontes, da história não contada, dos inúmeros “não ditos” que foi possível depreender como ocorreu a invisibilização dos negros no Paraná. Com o movimento abolicionista no Paraná, a favor das ideias liberais de liberdade, igualdade e fraternidade foi possível compreender o contexto no qual ocorreu a abolição da escravatura. Nesse contexto, o trabalho livre e assalariado foi colocado pela classe dominante, como aquele que, por meio do qual, o homem seria capaz de conquistar seus bens materiais. Assim, cada ser humano seria responsável pela sua ascensão ou decadência, pois, a partir do seu trabalho, teria, ou não, condições econômicas de ascensão social. Com o incentivo a imigração europeia e a ênfase no branqueamento do Paraná, por meio de um discurso da classe dominante, consolidou-se a ideia da superioridade do imigrante branco frente ao ex-escravo negro que foi excluído do mercado de trabalho livre e assalariado, devido a sua “incapacidade”. A discriminação e o racismo foram camuflados pelo Mito da Democracia racial que ideologicamente propagou que existia igualdade entre todos os cidadãos e uma convivência harmônica entre os diferentes grupos étnicos que formavam o País. No entanto, as teorias racistas, que associaram o negro ao mendigo, ao assassino, ao baderneiro, entre outros, reforçaram ainda mais as desigualdades sociais. Após a abolição da escravatura, os negros paranaenses, apesar do discurso de igualdade presente na Constituição Brasileira republicana, foram abandonados à própria sorte. A campanha abolicionista no Paraná, durante o século XIX, salientava a necessidade de emancipar os negros escravizados, entretanto, após essa
- 108. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 9 99 “emancipação” não houve o interesse da classe dominante em integrá-los a sociedade moderna da época. Pelo contrário, o projeto republicano de modernização das cidades acentuou as diferenças sociais e o racismo, agora não mais pela posição social de escravo, mas pelo estigma da cor da pele. Os republicanos colocaram o Estado acima das classes, dando ênfase em sua neutralidade diante às desigualdades sociais. No entanto, em uma sociedade repleta de contradições, na qual se criam “direitos” e propaga-se a “democracia”, a classe menos favorecida economicamente é oprimida pela classe dominante. Os princípios liberais de igualdade, liberdade e fraternidade não se efetivaram na prática e a estrutura da sociedade paranaense, baseada na divisão de classes, manteve-se. Continuou sendo uma sociedade na qual aquele que detinha o poder econômico, político e social determinaria quais seriam as condições de vida da classe explorada. As discussões sobre a educação para as crianças negras foram iniciadas a partir da criação da Lei do Ventre Livre (1871), na qual o Estado direcionou qual seria o destino dos ingênuos. Todavia, a real intenção foi a de criar mecanismos para que a gradual transição do trabalho escravo para o livre e assalariado acontecesse da melhor maneira possível. Com a criação de asilos, escolas agrícolas e orfanatos, para atender os ingênuos, a classe dominante paranaense visava manter as hierarquias e as desigualdades sociais. A educação oferecida nessas instituições de longe representou a emancipação humana e a transformação da realidade dessas crianças. Pelo contrário, as práticas educativas oferecidas nas instituições para as quais os ingênuos foram encaminhados pelo Estado paranaense visaram manter a posição social inferior. Ou seja, era preciso manter a população negra sob o domínio do Estado por meio do ensino da moral e dos bons costumes, para que eles não se rebelassem além de oferecer uma formação para o trabalho visando garantir mão-de-obra barata para o mercado. Compreender a existência, ou não, de um projeto educacional para atender os negros no Paraná, na transição do império para a República se apresentou como um desafio, pois, após a abolição da escravatura, o negro que no Império era citado em jornais, documentos de compra e venda, nos testamentos, entre outros, deixou de ser mencionado nos documentos oficiais. As únicas informações possíveis de serem analisadas são referentes aos dados populacionais descritos em alguns relatórios de governo. Com relação à educação, o que se verificou nos Relatórios de Ensino foram informações sobre a matrícula e frequência nas escolas, entretanto, esses dados apontam apenas a porcentagem dos alunos alfabetizados com relação aos não alfabetizados, não trazendo informações sobre a cor e a origem das crianças. Na análise desses documentos, o objetivo foi o de identificar algumas pistas que evidenciassem a presença das crianças negras em escolas públicas. Mas, o que se constatou sobre a educação foram apenas relatos dos inspetores de ensino sobre: a falta de frequência dos alunos, associando, mesmo que implicitamente, a população negra e pobre à
- 109. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 9 100 preguiça e a falta de amor pelo trabalho, fato esse que seria a justificava pela miséria na qual eles se encontravam. É de suma importância retomar as questões iniciais desta pesquisa: Houve a preocupação, por parte do Estado, em se criar um projeto educacional para o atendimento dos negros no Paraná após a abolição da escravatura? Para as crianças negras paranaenses, que moravam nas regiões periféricas dos centros urbanos e para aquelas que moravam nos Quilombos, qual foi a educação pública ofertada? A tese aqui defendida é a de que não houve um projeto educacional voltado para a formação das crianças negras, quilombolas ou não, nas primeiras décadas após a abolição da escravatura no Paraná. É possível afirmar que todo o discurso liberal de liberdade, igualdade e fraternidade de longe representou a realidade da população negra. As escolas públicas do Estado, no modelo de Grupo Escolar, Escola Isolada ou Escola Subvencionada, na maioria das vezes não foram frequentadas por essas crianças. A escola republicana não incorporou um projeto de emancipação humana para os negros no Paraná, pelo contrário, o racismo e a discriminação foram praticados contra as poucas crianças que conseguiram ter acesso a ela. Não se pode negar que algumas crianças negras tiveram acesso às escolas públicas paranaenses, no entanto, cabe aqui ressaltar que a presença delas nessas escolas não significou que todas tiveram o direito de acesso a elas, as exceções não podem ser colocadas como regra geral. A finalização dessa pesquisa se fez acompanhada de grande angústia, pois, se verificou que o ponto de chegada é também o ponto de partida, o percurso percorrido até aqui foi apenas um passo inicial na busca pela compreensão de uma história que foi silenciada, pois, existe ainda uma lacuna na história da educação do negro paranaense, um longo caminho para que, efetivamente, ele possa estar presente na história do Paraná. Entretanto, que a reflexão incitada nessa pesquisa possa ser um estímulo para que novos estudos sejam realizados, que o ponto de chegada deste trabalho possa ser fomentador de inquietações e conduza a novos pontos de partidas de pesquisadores que enveredem por este caminho, o da história ainda não contada, do povo negro invisibilizado que ainda clama por direitos e justiça social. REFERÊNCIAS BOTTOMORE, T. (coord). Dicionário do Pensamento Marxista, Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2012. CURITIBA. Instituto de Terras, Cartografia e Geociências Terra e cidadania. Curitiba: ITCG, 2008. COSTA, E. V. A abolição. 8ª. ed. ver.e ampl. – São Paulo: Editora UNESP, 2008. FERNANDES, F. A Integração do negro na sociedade de classes: o legado da “raça branca”, v.1. 5. ed. São Paulo: Globo, 2008.
- 110. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 9 101 IANNI, O. Raças e classes sociais no Brasil. 2. ed. Rio de Janeiro, Ed. Civilização Brasileira S.A, 1972. ____________. A metamorfose do escravo: apogeu e crise da escravatura no Brasil. ed., São Paulo: Hucitec, Curitiba: Scientia et labor, 1988. MARX, K. Prefácio à Contribuição Crítica da Economia Política. In: Marx, K. e Engels. , F. Textos. Vol3 São Paulo: Alfa-Omega, 1977. MARTINS, R. História do Paraná. Curitiba: Travessa dos editores, 1995. __________. Paranismo. In: A divulgação . Curitiba. Fev-mar. 1946, p.91. NASCIMENTO, M.I.M. A primeira Escola de Professores dos Campos Gerais – PR. 225f. Tese (Doutorado em Filosofia e História). Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP, Campinas, 2004. _________.In: Diana Gonçalves Vidal, (org.). Grupos Escolares: cultura escolar primária e escolarização da infância no Brasil (1893 – 1971). Campinas, SP: Mercado de Letras, 2006. PADILHA, L.M.L. “Ideário Republicano Nos Campos Gerais: A Criação Do Grupo Escolar Conselheiro Jesuíno Marcondes (1907)”. Dissertação defendida em 2010. Programa Pós Graduação em Educação – Universidade Estadual de Ponta Grossa. PONCE, A. Educação e Luta de Classes. / Aníbal Ponce; Traduzido do original em espanhol/ publicado por J. Hector Matera – Buenos Aires, 1957. Tradução para a língua portuguesa de José Severo de Camargo Pereira – São Paulo: Fulgor, 1963. REIS, J. J; GOMES, F. S. Liberdade por um fio: história dos quilombos no Brasil. São Paulo: Companhia das letras, 2008. SAVIANI, D. O Legado Educacional do Século XX no Brasil. São Paulo: Autores Associados Ltda., 2004. __________. História das idéias pedagógicas no Brasil / Dermeval Saviani. – 2. Ed. Ver. E ampl. – Campinas, SP: Autores Associados: 2008. – (Coleção memória da educação). SCHELBAUER, A. R. Idéias que não se realizam: o debate sobre a educação do povo no Brasil de 1870 a 1914/ Analete Regina Schelbauer. Maringá: EDUEM, 1998.
- 111. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 10 102 O EMPODERAMENTO DA MULHER À PROFISSÃO DE MOTOTAXISTA NO MUNICIPIO DE ABAETETUBA/PA CAPÍTULO 10 doi Davi Corrêa Gomes FAM- Faculdade de Educação e Tecnologia da Amazônia, Abaetetuba, Pará. Tatiane do Socorro Correa Teixeira FAM- Faculdade de Educação e Tecnologia da Amazônia, Abaetetuba, Pará RESUMO: O presente trabalho visa abordar as lutas das mulheres mototaxistas da cidade de Abaetetuba/PA , além disso, compreender como surgiu a profissão de mototaxista e como estas mulheres estão se inserido no mercado de trabalho.Para este intento utilizou-se métodos e técnicas da investigação histórica privilegiando o trabalho de campo, com observação participante, mediante técnicas da História Oral. Além, da memória oral, cruzou-se outros documentos,estabelecendodiálogoscomfontes escritas (registros, históricos) e imagéticas (imagens fotográficas e documentários em vídeos). Essa profissão durante muito tempo foi constituída apenas por pessoas do sexo masculino, mas atualmente as mulheres vêm reivindicando e conquistando seus direitos. Portanto, abordamos a passagem da prática de taxiclista, para o mototaxista focalizando o papel desempenhado por mulheres na profissão de mototaxista e os desafios enfrentado por elas. PALAVRAS-CHAVE: Empoderamento. Mulher. Relações de gênero. ABSTRACT: The present work aims to address the struggles of the women's mototaxistas of the city ofAbaetetuba / PA, in addition, to understand how the profession of mototaxista appeared and how these women are inserted in the labor market. For this intent was used methods and techniques of the investigation with emphasis on fieldwork, with participant observation, using Oral History techniques. In addition, from the oral memory, other documents were crossed, establishing dialogues with written sources (records, historical) and images (photographic images and documentaries in videos). This profession for a long time was made up only of males, but today women have been claiming and conquering their rights. Therefore, we approach the passage from the practice of taxicab, to the mototaxista focusing on the role played by women in the profession of mototaxista and the challenges faced by them. KEYWORDS: Empowerment. Woman. Gender relations. INTRODUÇÃO A presente pesquisa foi realizada no município deAbaetetuba-PAvisa compreender a inserção da mulher na profissão de moto taxista entre os anos de 2016 e 2017, período em que a presença feminina tornou-se mais visível na profissão. Nosso objetivo é analisar como a
- 112. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 10 103 mulher vem sendo inserida nessa categoria de moto taxi e quais suas implicações em termos de aceitação e resistência. Para esse intuito foram realizadas pesquisa de campo na qual vivenciamos o cotidiano das mulheres inseridas na profissão de moto taxista. Nessa abordagem histórica revisamos a trajetória da mulher no mercado de trabalho, fazendo um apanhado da transição de taxiclista à moto taxista, sintetizando a inserção e aceitação do gênero feminino nesta profissão. A MULHER NO MERCADO DE TRABALHO Por séculos de história no ocidente as mulheres ficaram a margem da sociedade, no período medieval (476-1500), por exemplo, estas ficavam totalmente subordinadas ao homem devido à concepção bíblica um tanto da igreja católica, elas chegaram a ser caçadas pelos crimes de bruxaria e feitiçaria. Com o advento do tempo moderno (1500-1789), o enfraquecimento do poder ideológico da igreja devido ao Iluminismo e com um novo sistema socioeconômico em questão, o capitalismo, e que de fato situação começou a mudar, mas foi pelo final do século XIX que as lutas organizadas começaram. Mas foi a partir da segunda década do século XX que as mulheres começaram a adentrar no mercado de trabalho, em virtude da I e II Guerras Mundiais, onde muitos homens convocados para a guerra ao não retornarem para suas casas deixavam suas famílias aos cuidados da esposa, que foi começando a ocupar o lugar do homem em varias profissões, por dois motivos: para manter o sustento da família (porque era o homem que trazia a comida para casa) e as vagas de trabalho de centenas de homens mortos na guerra. Isso começou de fato com as I e II Guerras Mundiais (1914 – 1918 e 1939 – 1945, respectivamente), quando os homens iam para as frentes de batalha e as mulheres passavam a assumir os negócios da família e a posição dos homens no mercado de trabalho. (PROBST, 2007, P.2) Segundo Probst (2007, p.03) a pesquisa da Gazeta Mercantil mostra que em 1990 as mulheres eram 41% da força de trabalho no Brasil, mas que só 24% nos cargos de gerência, e isso têm mostrado que as mulheres avançaram e muito nos números no mercado de trabalho. DE TAXICLISTA À MOTO TAXISTA Mas como surgiu a profissão de moto taxista? Os primeiros mototaxistas no Brasil surgiram no ano de 1990 em Cratéus, cidade localizada na região Norte do Ceará (COELHO, 1997 Apud PARÁ, 2012, p.7). No município de Abaetetuba segundo pesquisa realizada com o presidente dessa categoria à profissão surgiu no ano de
- 113. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 10 104 1999. Entretanto, ante do surgimento dessa categoria, outra já fazia parte do cotidiano da cidade, o taxiclista, sendo posteriormente substituídos paulatinamente pelo mototaxista. É interessante buscar as lembranças desses taxiclista que existiram em Abaetetuba e que foram substituídos pelo mototaxista. Lembrar não é reviver, mas é refazer, reconstruir e repensar com ideias de hoje as experiências do passado. Assim trabalhar com a memoria dos batalhadores do município é reconstruir o passado da cidade, uma reconstrução marcada pelas especificidades de gênero, de geração, e da própria profissão que ensinou a esses homens e a enxergarem a cidade a parti do selim de suas bicicletas; (SILVA, H. et al. 2007, p.1). Anos antes de 1999, nas ruas da cidade de Abaetetuba, um grupo de homens trafegava transportando pessoas e carga de todo tipo, eram os chamados “batalhadores”. Segundo SILVA (H. et al), esse tipo de serviço não existia em outros municípios. O oficio surgiu a parti dos anos 70 com o fim das antigas agencias de bicicletas. Mais como funcionavam essas agencias? Nas primeiras agencias, as pessoas alugavam as bicicletas pelo período de uma hora. Quando a devolução acontecia antes de completar o prazo acordado, os usuários solicitavam ao dono da agencia que alguém os levasse até suas respectivas casas- a titulo de compensação. Este transporte da agencia ate a casa do cliente era conhecido como “deixada” o aluguel de bicicletas na época era bastante rentável já que havia poucas bicicletas circulando na cidade. Pagavam- se os alugueis por hora e o locador deixava um documento, geralmente a carteira de identidade como prova que devolveria a bicicleta. (SILVA, H. et al. 2007, p.02) É interessante notarmos que as “deixadas” surgem no retorno quando, o cliente ainda estava dentro do horário estabelecido. A partir disso inicia-se o transporte direto de cargas e pessoas, mas a palavra especifica “batalhador” surge por volta da década de 80, nome empregado por pessoas que vinham de fabricas dos municípios vizinhos, que ao chegar à cidade de Abaetetuba pegavam esse meio de transporte para chegar até as suas casas. A INSERÇÃO DA MULHER NA PROFISSÃO DE MOTO TAXISTA A partir do final da década de 1990 um grupo de abaetetubenses assolados pelo desemprego a qual estava inserido o município,buscaram no transporte alternativa um meio de sobrevivência, um transporte alternativo, diferenciado pela sua rápida locomoção e facilidade de embarque e desembarque, chamados de moto taxistas. Na ocasião um grupo aderiu a idéia conforme observamos na fala de Nunes; O trabalho de moto taxi na verdade ele começou em 1999 nos começamos a nos agrupar foi aqui im abaeitetuba nos começamos já aa, nesse caso nos eu trabalhava na AABB aqui do Banco do Brasil ai tinha um companheiro meu que
- 114. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 10 105 trabalhava na imater ai um grupo mais ou menos de quinze pessoas né começamos a nos organizarmos ai cinco desistiu, nos ficamos só dez, dessas dez pessoas que agente começou, hoje muitos deles não estão lá, mas muitos estão ainda os dez que começaram mesmo e eu era o número dez. (Djarino P. Nunes, 52 anos). De acordo com Nunes o início da formação dos primeiros grupos de mototaxistas ocorreu na década de 90, dentro da crescente onda de desemprego no município de Abaetetuba, nesse processo as mulheres não ficaram de fora, participando e sendo um agente atuante como moto taxista, conquistando e se firmando, não como uma atividade esporádica, mas como profissão. Apesar de já estarem inseridas nesta profissão desde a regularização da categoria, as mesmas passam despercebidas, são invisibilizadas pelo número menos expressivo de mulheres na profissão, mas mesmo em menor número são atuantes e contribuem para o desenvolvimento do meio econômico e social do município, como afirma o presidente da associação, “Elas já são legalizadas desde o começo do sindicato, do começo foi criado o sindicato, elas já são legalizadas mesmo, Osvaldina e Regina Paraiso.” (Djarino P. Nunes, 52 anos). As mulheres já estavam inseridas como mototaxista dentro dos parâmetros da regularização da categoria desde 1999, mas só agora nos idos de 2016 e 2017 que se tem uma visualização de um contingente maior de mulheres atuando nessa profissão, umas utilizam como uma complementação de renda, outras têm essa profissão com única fonte de renda financeira para o sustento familiar. E nesse contexto do desenvolvimento da profissão, surgi outros grupos de mulheres que não são “legalizadas”, que estão no mercado de trabalho informal em virtude da falta de emprego ou da necessidade de complementação da renda, ambas compartilham dos mesmos desafios todos os dias. Isso fica evidente na fala das entrevistadas, como da ex-mototaxista Antoniele negrão; “Olha esse tempo quando eu trabalhava eu saia quatro horas, quatro e meia da madrugada a parti do momento que eu comecei a trabalhar naa—profissão de moto taxi não tive tempo.” (Antoniele Negrão, 25 anos). As palavras de Antoniele evidencia a rotina de trabalho da mesma, tendo que acordar às quatro horas da manhã e mesmo depois de um dia de cansaço ainda cursava licenciatura em pedagogia, o que evidencia os desafios e a resistência das mulheres que se lançam a profissão. Essa dificuldade relacionada ao fator tempo é também encontrado na mesma profissão por outras mulheres em outras localidades como na capitalAcreana, no relato da mototaxista Maria Souza de Azevedo, 42 anos, mãe de dois jovens. Maria, que atua como mototaxista há dois anos, diz que a rotina de trabalho é puxado, Chego em casa geralmente as 19:29h. Mas já teve dia em que cheguei às 22h, isso trabalhando direto, sem nem vir em casa almoçar. ² A inserção da Mulher na profissão de mototaxista segundo o presidente do
- 115. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 10 106 sindicato só veio contribuir para a melhoria da categoria, ele ainda afirma que seria muito melhor se houvesse mais mulheres atuando na profissão. “Eu na minha visão precisaria de mais mulheres, mais mulheres porque eu tenho certeza que muitas pessoas ai, muitas madamis que gostam de rodar com mulher.” (Djarino P. Nunes, 52 anos). O fator segurança é algo indispensável em qualquer ambiente de trabalho, varias mulheres sentem-se mais seguras e confortáveis quando são conduzidas por mototaxistas mulheres. Pesquisas realizadas em outros estados também afirmam essa ideia, como ressalta o resultado de uma pesquisa do G1 (2014) realizada no estado do Acre, a estudante Carolina Alcântara, de 18 anos, conta que já pegou mototaxi varias vezes com mulheres e que a sensação de segurança é maior. “As mulheres sempre são mais cautelosas no trânsito, elas não furam sinal, não ultrapassam em velocidade, em enfim, são mais cuidadosas no volante”, afirma. Dessa forma, as mototaxistas são aceitas, principalmente por outras mulheres que nelas vêem mais segurança e cuidado no trânsito. Entretanto, o fato de transitarem por ruas centrais ou em bairros periféricos a colocam em situações perigosas principalmente no que tange a violência. Concomitante a isso é verificável a presença de vários tipos de preconceito como é possível identificar nas palavras de Antoniele Negrão; E tipo assim, muitas pessoas assim, o que eles me falavam em questão de eu sendo mulher trabaia, a que tu é sapatona. Uma vez aconteceu, ele pegou, me agarrou assim por traz, ai eu peguei, licença é meu trabalho, to trabaiando num to, ai depois apareceu uma outra na feira me ofereceu dinheiro pra nos ir prum motel. (Antonielle Negrão, 25anos). Como evidenciamos nas palavras de Antoniele o preconceito se faz presente, muitas são apontadas como lésbicas apenas pelo fato de assumirem uma profissão considerada eminentemente masculina. Outras sofrem assédio por homens que não compreendem que mototaxista também pode ser uma profissão para as mulheres. No entanto, elas persistem e resistem empoderando-se mesmo diante das dificuldades impostas. CONCLUSÃO Portanto, a profissão de mototaxista na cidade de Abaetetuba é marcada por lutas, na qual as mulheres se reafirmam, resistem, lutam, a pesar das dificuldades. São mulheres mototaxistas que vêm mostrando a importância de sua profissão e a relevância de sua participação para a luta por direitos e igualdade de gênero.
- 116. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 10 107 REFERENCIAL TEÓRICO Portal G1 Acre. Profissão de mototaxista ganha espaço entre as mulheres no AC. jan. 2014. Disponível em:< http://g1.globo.com/ac/acre/noticia/2014/01/profissao-de-mototaxista-ganha-espaco- entre-mulheres-no-ac.html>. Acesso em: 30/05/2017. PARÁ (Estado). Departamento de Trânsito do Estado do Pará/DETRAN-PA. PERFIL SÓCIO- ECONOMICO E COMPORTAMENTAL DOS MOTOTAXISTAS NOS PRINCIPAIS MUNICÍPIOS PARAENSES EM 2011. Belém/PA, 2012. PEREIRA, R. et al. A MULHER NO MERCADO DE TRABALHO, II Jornada Internacional de Políticas Públicas, 2005, São Luís/MA. PROBST, Elisiana Renata. EVOLUÇÃO DA MULHER NO MERCADO DE TRABALHO. 2007 (Pós Graduação em Gestão Estratégica de Recursos humanos) – Instituto Catarinense de Pós Graduação, Santa Catarina, 2007. Disponível em: <http://www.posuniasselvi.com.br/artigos/rev02-05.pdf>. Acesso em 29052017. ROCHA, A. et al. A EVOLUÇÃO DOS DIREITOS TRABALHISTA DA MULHER AO LONGO DOS TEMPOS, Cadernos de Graduação - Ciências Humanas e Sociais | Aracaju/PE | v. 1 | n.17 | p. 77- 84 | out. 2013. Disponível em: <https://periodicos.set.edu.br/index.php/cadernohumanas/article/ download/950/504>. Acesso em 29/05/2017. SILVA, H. et al. Periódicos UFPA, Revista Margens Interdisciplinar. MEMÓRIA DO OFICIO: O BATALHO EM ABAETETUBA. Capa v. 1, n. 1, 2004. Disponível em: <http://periodicos.ufpa.br/index. php/revistamargens/article/view/2834>. Acesso em 29/05/2017.
- 117. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 11 108 REVISÃO SISTEMÁTICA EM ANAIS DE EVENTOS SOBRE A TEMÁTICA EDUCAÇÃO SEXUAL E SEXUALIDADE CAPÍTULO 11 doi Caroline Alfieri Massan Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) Cornélio Procópio – Paraná. Priscila Caroza Frasson Costa Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) Bandeirantes – Paraná. RESUMO: Este artigo apresenta um estudo de Revisão Sistemática da Literatura em anais de três eventos, sendo eles Congresso Internacional de Ensino – CONIEN, Encontro Nacional de Pesquisas em Educação e Ciências – ENPEC e Simpósio Nacional de Ensino de Ciências e Tecnologia – SINECT, acerca da temática Educação Sexual e Sexualidade. O trabalho buscou identificar nesses eventos o que foi publicado em suas edições, e que contemplem a temática referenciada, sendo trabalhadas nas escolas por meio de oficinas. O objetivofoievidenciarainvestigaçãoquantitativa e qualitativa abordada no levantamento dos trabalhos. Indicamos que dos 10312 (dez mil trezentos e doze) artigos analisados, apenas 53 (cinquenta e três) se referem ao ensino de Educação Sexual e Sexualidade e destes, 1(um) artigo faz referência ao uso de oficinas nas escolas como forma de apresentar a temática aos alunos. Constatamos assim, a carência em pesquisas na área no âmbito educacional. PALAVRAS-CHAVE: Educação Sexual, Sexualidade, Oficinas, Escolas. SYSTEMATIC SURVEY IN ANALYSIS OF EVENTS ABOUT THE THEME SEXUAL EDUCATION AND SEXUALITY ABSTRACT: This article presents a systematic review of the literature in annals of three events, being them: International Congress of Education - CONIEN, National Meeting of Research in Education and Sciences - ENPEC and National SymposiumofScienceandTechnologyTeaching - SINECT, about Sexuality and Sexuality. The work seeks to identify in these events what was published in their issues that contemplates the referred subject, which is being worked in schools through workshops. The objective was to highlight the quantitative and qualitative research approached in the systematic review. We indicate that of the 10,312 articles analyzed, only 53 refer to the teaching of Sexual Education and Sexuality and of these, an article refers to the use of workshops in schools as a way of presenting the subject to the students. Thus, we found the lack of research in this area in the educational field. KEYWORDS: Sexual Education, Sexuality, Workshops, Schools.
- 118. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 11 109 1 | INTRODUÇÃO O seguinte trabalho faz parte de um projeto de pesquisa de dissertação do Programa de Pós Graduação Profissional em Ensino da Universidade Estadual do Norte do Paraná, campus Cornélio Procópio-PR e irá versar sobre a temática da Sexualidade e Educação Sexual (ES). Ribeiro (2005) nos apresenta uma definição de sexualidade a partir do trecho que segue: É um conjunto de fatos, sentimentos e percepções vinculados ao sexo ou à vida sexual. É um conceito amplo, que envolve a manifestação do impulso sexual e o que dela é decorrente: o desejo, a busca de um objeto sexual, a representação do desejo, a elaboração mental para realizar o desejo, a influência da cultura, da sociedade e da família, a moral, os valores, a religião, a sublimação, a repressão (RIBEIRO, 2005, p. 18). Inúmeros são os tabus e crenças relacionados à sexualidade. Muitas vezes, estão ligados a mensagens negativas que nos são transmitidas desde a infância, e que são assimilados gerando ansiedade e insegurança. Portanto, a temática desperta interesse entre os adolescentes, conforme pode ser analisada no trabalho de Brêtas e Silva (2002), intitulado “Interesses de escolares e adolescentes sobre corpo e sexualidade”. Na obra, baseados em seus dados, os autores puderam perceber que o interesse pela temática está relacionado pelas mudanças ocorridas em seu próprio corpo e no corpo do seu oposto. Afirmam que as mudanças irão propiciar uma série de eventos psicológicos entre os adolescentes, que culminarão na aquisição da identidade sexual, e sobre os interesses relacionados ao corpo humano. Quanto aos interesses relacionados à fisiologia e anatomia, relacionam aos cuidados com o corpo, aos aspectos estéticos, preventivos e de higiene íntima, além de questões sobre os órgãos sexuais feminino e masculino, práticas sexuais e de comportamento sexual (BRÊTAS & SILVA, 2002, p. 151). Nessa perspectiva e corroborado por diversos autores (ALTMANN, 2001; BRÊTAS & SILVA, 2002; FRASSON-COSTA, 2012; SILVA, 2015), é de grande relevância trabalhar a sexualidade dentro do ambiente escolar, pois as questões que envolvem a sexualidade estão presentes nos diversos espaços da escola, como por exemplo nas conversas entre os jovens, nas disciplinas, nos capítulos dos livros trabalhados, nas danças, brincadeiras, entre outros, como destacou com ênfase a autora Altmann (2001). Temos na escola, então, um meio oportuno de vincular as informações, promover discussões e reflexões, além de ser um local em que os jovens passam a maior parte do seu tempo (SILVA, 2015). Embora haja a necessidade de se promover discussões referentes ao tema, pais e educadores ainda apresentam certa resistência e dificuldade em abordar a sexualidade com os jovens (ALENCAR et al, 2008). A autora Frasson-Costa (2012) escreveu que é papel da escola contribuir para
- 119. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 11 110 uma visão positiva da sexualidade, pois ao promover a ES na escola, os alunos poderão repensar seus valores pessoais e sociais, partilhando suas preocupações e emoções (FRASSON-COSTA, 2012). Assim, julgamos necessário fazer uma Revisão Sistemática acerca da temática Sexualidade e ES a fim de perceber como estão sendo trabalhadas no âmbito escolar, de modo a fundamentar futuramente nossas pesquisas e a aplicabilidade do nosso produto educacional. Para tanto, este trabalho buscou conhecer as produções relacionadas ao ensino de Sexualidade e ES, com enfoque nas abordagens que trouxessem o desenvolvimento de oficinas em instituições de ensino da rede estadual, nos anais do Encontro Nacional de Pesquisas em Educação e Ciências - ENPEC, no Simpósio Nacional de Ensino de Ciências e Tecnologia - SINECT e no Congresso Internacional de Ensino - CONIEN, buscando artigos que tratassem das temáticas já mencionadas, por meio de oficinas nas escolas. 2 | APORTE TEÓRICO Segundo a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, em seu Art. 2° “Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade” (BRASIL, 1990) (grifo das autoras). Ressaltamos neste estudo tal trecho do ECA, para explicar o uso da terminologia “adolescência”, em concordância com o modo empregado por outros autores em seus trabalhos (SPOSITO, 2002; ABRAMOVAY, 2004; GULO, 2011). Entendemos a adolescência como um período da vida caracterizado pela estruturação da identidade e demarcação de gêneros (ABROMAVAY, 2004), e também como resultado de um conjunto de transformações psicológicas relacionados à maturação sexual (ABROMAVAY, 2004; GULO, 2011). Gostaríamos de destacar que alguns referenciais tratarão a ES com mesmo rigor que a Orientação Sexual (OS). Por exemplo, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) tratam a questão vinculada à OS, incluindo-a aos temas transversais nas diversas áreas do conhecimento. Ainda faz menção como finalidade ou propósito da abordagem, a orientação dos alunos por meio de práticas educativas (BRASIL, 1998). No que tange sobre a sexualidade, os PCN, nos temas transversais sobre Orientação Sexual, indicaram que: A sexualidade tem grande importância no desenvolvimento e na vida psíquica das pessoas, pois, além da sua potencialidade reprodutiva, relaciona-se com a busca do prazer, necessidade fundamental das pessoas. Manifesta-se desde o momento do nascimento até a morte, de formas diferentes a cada etapa do desenvolvimento humano, sendo construída ao longo da vida (BRASIL, 1998, p. 295). Embora sabido sobre a necessidade em promover discussões acerca das
- 120. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 11 111 questões referentes a sexualidade, muitos educadores e pais, ainda apresentam certa dificuldade em abordar e discutir o tema com os adolescentes. Aproveitamos os escritos de Gulo (2011) com o enfoque de que ser humano, diferente dos animais que tem o sexo como finalidade única de reprodução (no contexto biológico), envolve questões relacionadas a sentimentos, emoções e prazeres, quando relacionados com o tema da sexualidade. A sexualidade humana, como descrita por Frasson-Costa, Villani e Queiroz (2018), é um assunto que gera interesse, curiosidade e fascínio. Os autores ainda completam a ideia ao escrever que ninguém é capaz de deixar de lado as questões que envolvem a sexualidade humana, pois ela faz parte do ciclo vital de todos nós, seja para, no seu sentido biológico, reprodução das espécies, ou ainda no sentido de compor a história de cada um dos indivíduos (FRASSON-COSTA, VILLANI e QUEIROZ, 2018). Com a chegada da puberdade e ativação hormonal trazida por ela, a sexualidade passa a assumir características na vida dos adolescentes. Adquire um caráter urgente e dominante, seja nos grupinhos, na escola, bilhetinhos, piadinhas, apelidos malicioso, em todo lugar. Observamos assim, o papel da escola, com o objetivo de canalizar toda essa energia e produzir conhecimento, além de respeito aos outros e a si mesmo (BRASIL, 1998). Aautora Frasson-Costa (2016), em “Educação Sexual: uma metodologia inspirada nos Patamares de Adesão”, apresenta uma abordagem sobre o papel da escola e do educador na temática ES. Citando a autora, trazemos o trecho: “(...) a escola tem o papel essencial de inserir o individuo na sociedade, por meio da construção neste do saber cientifico relativo às diferentes áreas do conhecimento humano, (...)” (FRASSON- COSTA, 2016, p. 37). No que diz respeito ao papel dos pais e da família em relação ao diálogo sobre a ES, a pesquisadora Werebe (1998) salienta o diálogo sobre a ES informal é de grande importância no desenvolvimento desses adolescentes no que diz respeito a sua formação, tanto de ideias, quanto em relação ao amor e a sexualidade. Em contrapartida, os autores Frasson-Costa, Villani e Queiroz (2018) contribuem dizendo que nem sempre os pais conversam com seus filhos sobre a sexualidade, devido a inúmeros fatores, sejam por falta de conhecimento ou por não se sentirem a vontade em tratar o assunto. E então, a escola precisa desempenhar o papel de dar informações sobre a ES oferecendo aos adolescentes momentos para tirarem suas dúvidas (FRASSON-COSTA, VILLANI e QUEIROZ, 2018). Para tanto, o objetivo deste trabalho parte da proposta de elaboração de uma sequênciadeoficinasdeensino,quesejamtrabalhadascomalunosdonívelfundamental II, após pesquisas e discussões, como uma forma pertinente e adequada para abordar a temática com uma maior naturalidade, proporcionando então, um ambiente acolhedor para discussões com os adolescentes. O autor Pimentel (2009) também escreveu que as oficinas são entendidas como um espaço/ambiente “de aprendizado de saberes,
- 121. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 11 112 de experimentação de práticas, de reprodução de informações – e, também, como um espaço de descoberta e de autodescoberta; de invenção, de contato com o novo, de inovação (...)” (PIMENTEL, 2009, p.72). Outros autores também confirmam a metodologia de trabalho no formato de oficinas para temas da sexualidade, é comprovadamente uma estratégia eficaz para o ensino e a abordagem das questões relacionadas, configurando programas efetivos de ES na escola básica (MAHEIRIE et al, 2005; FRASSON-COSTA, 2012; FRASSON- COSTA, 2016, FIGUEIRÊDO et al, 2016). Figueirêdo e colaboradores (2016) veêm nas oficinas momentos de interação e troca de saberes, desenvolvidos por dinâmicas e atividades, tanto individuais quanto coletivas, que irão proporcionar aos jovens a exposição de suas ideias sobre o tema em questão, e que assimilem os novos conhecimentos acrescidos pelo educador/ mediador (FIGUEIRÊDO et al, 2016). Por fim, os autores Maheirie e colaboradores (2005) relataram uma experiência com oficinas em seu trabalho “Oficinas de Sexualidade com Adolescentes: um relato de experiência”, citando que as oficinas precisam ser dinâmicas, participativas e reflexivas, repletas de criatividade, sensibilidade, amorosidade e alegria (MAHEIRIE et al, 2005). Em nossa proposta metodológica de sequência de oficinas, iremos inserir estas noções, que oportunizarão momentos significativos de relacionamento entre professores, escola e alunos. 3 | PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS O artigo trata de uma pesquisa qualitativa, pois buscamos considerar o que foi publicado sobre o ensino de ES e Sexualidade e quantitativa, pois visa identificar a quantidade de trabalhos que foram publicados (FLICK, 2009). A seguir, serão descritas as etapas realizadas na revisão sistemática da literatura a partir das análises dos trabalhos publicados em anais de três eventos, bem como os resultados encontrados. Para dar sequência ao nosso artigo é importante salientarmos que se trata de uma revisão sistemática, indicando a importância para compor referencial teórico em qualquer pesquisa que aborde a temática da ES. Galvão e Pereira (2014) afirmaram que a revisão sistemática da literatura é um caminho para esclarecer resultados contraditórios e se apoiar nos estudos de melhor qualidade sobre o assunto. A este respeito, os autores ainda escreveram que: “trata-se de um tipo de investigação focada em questão bem definida, que visa identificar, selecionar, avaliar e sintetizar as evidências relevantes disponíveis” (GALVÃO & PEREIRA, 2014, p. 183). A autora Kitchenham (2004) contribui com esta noção, afirmando que as revisões sistemáticas objetivam apresentar uma avaliação justa de um tópico de pesquisa metodológica confiável e rigorosa.
- 122. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 11 113 É importante que antes da elaboração de uma revisão seja realizado um protocolo/ planejamento a fim de otimização dos dados (KITCHENHAM, 2004; SAMPAIO & MANCINI, 2007; MEDINA & PALAQUILÉN, 2010; RAMOS, FARIA e FARIA, 2014). Sendo assim, avançaremos no artigo apresentando o nosso planejamento. 3.1 Metodologia Vale ressaltar que este trabalho se trata de uma Revisão Sistemática da Literatura, evidenciando a sua importância para compor referencial teórico em quaisquer pesquisas que abordem a ES e Sexualidade. Utilizamos a busca manual em todas as edições dos eventos ENPEC, SINECT e CONIEN. Foi realizada a inclusão e exclusão dos trabalhos seguindo os descritores visualizados nos títulos dos trabalhos, seguindo para as palavras-chave e por fim o resumo, e quando pertinente, a leitura do trabalho na íntegra, de forma a responder nossa questão geradora (Q): Q1: Há publicações acerca da temática de Sexualidade e ES nas escolas? Q2: Estão sendo realizadas por meio de oficinas? O quadro de planejamento segue abaixo: Qual o objetivo dessa revisão? O objetivo da revisão é: realizar um levantamento sistemático nos anais de eventos que foram publicados em relação ao ensino de Sexualidade e ES nas escolas, com o apoio metodológico de oficinas. Quais fontes foram pesquisadas para fazer os estudos primários? Anais de congresso do: - ENPEC – Encontro Nacional de Pesquisas em Educação em Ciências; - SINECT - Simpósio Nacional de Ensino de Ciência e Tecnologia; e, - CONIEN – Congresso Internacional de Ensino. Quais foram os critérios de inclusão e exclusão e como foram aplicados? Foram pesquisados artigos, em todas as edições dos eventos mencionados que envolvessem as questões relacionadas à Sexualidade e ES, e nas escolas por meio de oficinas. A forma de busca foi manual e foram utilizados critérios de inclusão e exclusão descritos em títulos de artigos que atendessem aos nossos objetivos.
- 123. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 11 114 Como os dados foram sistematizados? Após analisados os artigos, publicados nos anais dos eventos pelo título, os resultados foram sintetizados de forma qualitativa, ou seja, relevante ao tema dos pesquisadores. Com relação a análise quantitativa, por meio de tabulação com: total de artigos, total de artigos sobre o tema Sexualidade e ES, bem como o total de artigos que envolvessem as temáticas, desenvolvidos por meio de oficinas nas escolas. Tabela 1: Planejamento Fonte: Elaborado pelas autoras (2018). 3.2 Dos eventos 3.2.1 Conien O Conien – Congresso Internacional de Ensino é um congresso promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Ensino (PPGEN) da Universidade Estadual do Norte do Paraná – campus de Cornélio Procópio (UENP CCP), e realizou o I Congresso Internacional de Ensino (CONIEN), em junho de 2017, no campus de Cornélio Procópio, Paraná – Brasil. O evento visa a promover uma aproximação entre a academia e o contexto profissional da docência, cujas necessidades didático-pedagógicas enfrentam constantes transformações, visando à qualificação de profissionais que possam contribuir para a melhoria dos processos de ensino e de aprendizagem nos diferentes níveis educacionais (CONIEN, 2018). 3.2.2 Enpec O Encontro Nacional de Pesquisa em Educação é um evento desenvolvido pela Associação Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências – ABRAPEC e tem por finalidade: Promover, divulgar e socializar a pesquisa em Educação em Ciências, por meio da realização de encontros de pesquisa e de escolas de formação de pesquisadores, da publicação de boletins, anais e revistas científicas, bem como atuar como órgão representante da comunidade de pesquisadores em Educação em Ciências junto a entidades nacionais e internacionais de educação, pesquisa e fomento (ABRAPEC, 2018). O Enpec já realizou várias edições, no ano de 1997, com sua primeira edição. Foram realizadas 11 edições nos anos de: 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017. 3.2.3 Sinect O Simpósio Nacional de Educação de Ciências e Tecnologia teve sua primeira
- 124. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 11 115 edição em 2009, sendo vinculado ao Programa de Mestrado Profissional em Ensino de Ciência e Tecnologia da Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR. O SINECT tem como objetivo: Criar um espaço para estudo, reflexão, troca de experiências, intercâmbio de pesquisas, debates e outras interações dialógicas que visem analisar o contexto de sala de aula como objeto de investigação/ação, tendo como suporte teórico as contribuições da ciência e da tecnologia (SINECT, 2018). O Sinect já está na sua 6ª edição, constando disponíveis os anais de: 2009, 2010, 2012, 2014, 2016 e atualmente está com edital aberto para 2018. 4 | RESULTADOS Para as escolhas dos eventos, optamos por aqueles relacionados ao Ensino de Ciências, a fim de realizarmos um levantamento para investigação de pesquisas que vem sendo publicadas até o presente momento a respeito da Sexualidade e ES nas escolas. Inicialmente, fizemos a contagem do total de artigos publicados em cada um dos anais desses eventos e posteriormente fizemos a seleção, com base no título desses artigos, incluindo todos os que continham, em seus títulos, os descritores “Educação Sexual” e/ou “Sexualidade”. Posteriormente, seguimos com a leitura de suas respectivas palavras-chave e de seus resumos, para fazermos a inclusão ou exclusão dos trabalhos analisados, realizamos o escopo já apresentado anteriormente. Fazendo referência às análises dos anais do Conien, Enpec e Sinect, foram observados 10312 (dez mil, trezentos e doze) artigos, destes, 53 (cinquenta e três) artigos faziam referência à temática da Sexualidade e ES, porém, apenas 1 (um) trabalho referiu-se ao objetivo do presente levantamento sistemático, investigando sobre a abordagem metodológica em forma de oficinas nas escolas. ANAIS DE CONGRESSOS Evento Total de artigos Sobre o tema: sexualidade e educação sexual Sobre o tema por meio de oficinas nas escola SINECT – Simpósio Nacional de Ensino de Ciências e Tecnologia (I, II, III, IV e V) 1190 6 0
- 125. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 11 116 ENPEC – Encontro Nacional de Pesquisas em Educação em Ciências (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XI) 9045 46 0 I CONIEN – Congresso Internacional em Ensino 77 1 1 TOTAL 10312 53 1 Tabela 2: Informações quantitativas dos anais de eventos pesquisados, na área de Ensino/ Educação em Ciências. Fonte: Elaborado pelas autoras (2018). Analisado o levantamento no Congresso Internacional de Ensino – Conien, podemos conferir que dos 77 artigos publicados em sua primeira edição, que ocorreu no ano de 2017, apenas um artigo referência o objetivo deste levantamento. Nas análises dos anais de Congresso do Simpósio Nacional de Ensino de Ciências e Tecnologia - Sinect, dos quais foram analisadas as I, II, III, IV e V edições, num total de 1.190 artigos, apenas 6 se referiam à nossa temática de pesquisa e nenhum deles se enquadrava no objetivo traçado nesta revisão sistemática. No Encontro Nacional de Pesquisas em Educação em Ciências - Enpec, analisamos as edições: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XI, com um total de 9.045 artigos, observamos que 46 se referiam ao tema de Sexualidade e/ou ES e destes, nenhum se enquadrava ao objetivo dessa revisão. O único trabalho encontrado que se enquadra no escopo desta revisão é intitulado “Sexualidade, verdades e mentiras: temática do PIBID Biologia”, cuja pesquisa foi desenvolvida pela Universidade Estadual de Londrina – UEL, de autoria de Marinho, Cruz e Oliveira (2017). Esse artigo foi publicado e apresentado no I Conien no ano de 2017. O artigo foi desenvolvido em três escolas da região de Londrina – PR, sendo uma escola na região central de Londrina, outra escola na região periurbana de Cambé e a última na região rural de Primeiro de Maio. Fizeram parte da pesquisa 206 estudantes do 7º ano do fundamental ao 3º ano do Ensino Médio dos períodos matutino e vespertino, os quais responderam um questionário contendo nove afirmativas a serem julgadas pelos participantes em verdadeira ou falsa.As autoras, Marinho, Cruz e Oliveira (2017), trazem nas considerações finais que: As oficinas tiveram a finalidade de levar informação, ampliar os conhecimentos na temática, dar oportunidade de esclarecer aspectos básicos do desenvolvimento e equilíbrio emocional para viver uma sexualidade segura e sem tabus, livre de preconceitos ainda presente em muitos espaços da sociedade (MARINHO, CRUZ e OLIVERIRA, 2017, p. 707).
- 126. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 11 117 E finalizam o artigo dizendo “As pesquisas nos mostra que há ainda uma gama de informações a ser trabalhada em sala de aula, oficinas e afins para transformar nossos estudantes em seres pensantes e criteriosos, que buscam a informação e também utilizem para seu cotidiano” (MARINHO, CRUZ e OLIVEIRA, 2017, p. 707). Respondendo as nossas questões geradoras: Q1: Há publicações acerca da temática de Sexualidade e ES nas escolas? Q2: Estão sendo realizadas por meio de oficinas?, podemos observar que dos 10312 artigos publicados nos anais dos três eventos, 53 fazem referência a ES e sexualidade, o que podemos verificar que poucos são os trabalhos desenvolvidos e publicados referentes a temática. E desses 53 artigos, apenas um foi realizado no ambiente escolar por meio da metodologia de oficinas. Consolidando nossas investigações, a autora Figueiró (2009), contribui quando aborda suas considerações a respeito da ES. Ela afirma que a ES é toda a ação de ensinoaprendizagem sobre a sexualidade humana, seja em nível de conhecimento de informações básicas, seja em nível de conhecimento e/ou discussões e reflexões sobre valores, normas, sentimentos, emoções e atitudes relacionados à vida sexual (FIGUEIRÓ, 2009). Concordamos, também, com Frasson-Costa (2012; 2016) quando confirma que é papel da escola contribuir para uma visão positiva da sexualidade, como fonte de prazer e realização do ser humano, assim como de aumentar a consciência das responsabilidades. Podendo então os alunos repensar seus valores pessoais e sociais, partilhando suas preocupações e emoções. Mas, para que sejam otimizadas essas discussões no ambiente escolar, é necessário que seja estabelecido um ambiente acolhedor, que proporcione condições para que as discussões com os adolescentes aconteça de forma descontraída. Para tanto, o educador/mediador dessas atividades precisa ser descontraído e livre de preconceitos, como indica a autora Frasson-Costa (FRASSON-COSTA, 2012, p. 49; FRASSON-COSTA, 2016, p. 41). Diante dessas considerações e concordando com Figueiró (2009) em seu trabalho, “Educação Sexual: como ensinar no espaço escola”, entendemos que a sexualidade não pode se limitar as aulas expositivas, embora haja momentos em que ela se faz necessária, pois há conteúdos que requerem uma abordagem mais teórica por parte do professor. E salientamos a importância dessas intervenções serem realizadas por meio da metodologia de oficinas, que como comentam alguns pesquisadores que é comprovadamente uma estratégia eficaz para o ensino e a abordagem das questões relacionadas, configurando programas efetivos de ES na escola básica (MAHEIRIE et al, 2005; FRASSON-COSTA, 2012; FRASSON-COSTA, 2016, FIGUEIRÊDO et al, 2016).
- 127. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 11 118 5 | CONSIDERAÇÕES FINAIS No decorrer das pesquisas para alcançar nossas respostas, somos cônscios de que os procedimentos metodológicos utilizados para a coleta de dados possam, porventura, ter excluídos alguns trabalhos, todavia, o levantamento realizado é parte de uma Revisão Sistemática da Literatura que ainda está em andamento. Por meio dos resultados encontrados nas análises realizadas nos três eventos de Ensino/Educação em Ciências, verificamos a necessidade de estudos relacionados á temática, uma vez que a quantidade de artigos sobre nossa temática de pesquisa é muito baixa, aproximadamente 0,5%. Constatamos ainda que dos artigos incluídos na amostra, apenas 1,8% é referente a utilização de oficinas como intervenção pedagógica nas instituições de ensino. Frente a essa carência de trabalhos publicados sobre o tema, ressaltamos que há um campo fértil ainda a ser explorado, visando futuras contribuições e melhorias em relação à temática e suas dificuldades. Assim, reafirmamos a necessidade de estudos relacionados ao tema de Sexualidade e ES, principalmente no ambiente escolar. Desta forma justificamos a escolha da temática para desenvolvimento, tanto do artigo em questão, quanto do trabalho de dissertação já mencionado, e insistimos no propósito das nossas pesquisas a fim de, futuramente, auxiliar na condução dos assuntos ligados à sexualidade dos adolescentes. REFERÊNCIAS ABRAMOVAY, M. et al. Juventudes e sexualidade. Brasília: UNESCO Brasil, 2004. ABRAPEC – Associação Brasileira de Pesquisas em Educação em Ciências. Disponível em: <http://abrapecnet.org.br/wordpress/pt/enpecs-anteriores/>. Acesso em: 20 de maio de 2018. ALENCAR, R. A.; SILVA, L.; SILVA, F. A.; SILVA DINIZ, R. E. Desenvolvimento de uma proposta de educação sexual para adolescentes. Ciência & Educação (Bauru), vol. 14, núm. 1, pp. 159-168. Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho São Paulo, Brasil. 2008. ALTMANN, H. Orientação Sexual nos Parêmetros Curriculares Nacionais. Revista de Estudos Feministas. v. 9, n. 2. 2001. BRASIL. Estatuto da Criança e do Adolescente, Câmera dos Deputados, Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990. DOU de 16/07/1990 – ECA. Brasília, DF. BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs). Introdução. Ensino Fundamental. Brasília: MEC/SEF, 1998. BRASIL. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. Parâmetros Curriculares Nacionais: temas transversais. Brasília: MEC/SEF, v. 10.5, p. 285-336, 2007. BRÊTAS, J. R. da S.; SILVA, C. V. da. Interesse de escolares e adolescentes sobre corpo e sexualidade. Revista Brasileira de Enfermagem. Brasília, v. 55, n. 5, p. 528-534, set./out. 2002. CONIEN. Disponível em: < http://eventos.uenp.edu.br/conien/index.php/anais/>. Acesso em: 11 de
- 128. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 11 119 junho de 2018. FIGUEIRÓ, M. N. D. Educação sexual : múltiplos temas, compromisso comum/ Mary Neide Dâmico Figueiró (org.). – Londrina : UEL, 2009. 190p. FIGUEIRÊDO, M. A. C.; SILVA, J. R.; NASCIMENTO, E. S.; SOUZA, V. Metodologia de oficina pedagógica: uma experiência de extensão com crianças e adolescentes. Revista Eletrônica Extensão Cidadã 2, 2016. FLICK, U. Introdução à pesquisa qualitativa. 3. Ed. – Porto Alegre: Artmed, 2009. 405p. FRASSON-COSTA, P. C. Os patamares de adesão das escolas à Educação Sexual. 2012. 305 p. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade São Paulo. São Paulo, 2012. __________. Educação Sexual: uma metodologia inspirada nos patamares de adesão. 1 ed. – Curitiba: Appris, 2016. 250 p. FRASSON-COSTA, P. C.; VILLANI, A.; QUEIROZ, E. F. C. Adesão das escolas à educação sexual: uma metodologia de análise. Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias Vol. 17, Nº 2, 337- 358, 2018. GALVAO, T. F; PEREIRA, M. G. Revisões sistemáticas da literatura: passos para sua elaboração. Epidemiol. Serv. Saúde, Brasília , v. 23, n. 1, p. 183-184, Mar. 2014 . GULO, F. H. Educação sexual na escola e juventude: um estudo das pesquisas acadêmicas no Brasil (2000-2004). 2010. 289 f. Dissertação (Mestrado). Universidade Estadual Paulista. Presidente Prudente, 2011. KITCHENHAM, B. Procedures for Performing Systematic Reviews. Keele UK Keele University- Publisher: Citesser, 33(TR/SE-0401), 28, 2004. MAHEIRIE, K.; URNAU, L.C.; VAVASSORI, M. B.; ORLANDI, R.; BAIERLE, R. E. Oficinas sobre sexualidade com adolescentes: um relato de experiência. Revista Psicologia em Estudo, Maringá, v. 10, n. 3, p. 537-542, set./dez. 2005. MARINHO, J. B.; CRUZ, C. G.; OLIVEIRA, V. L. B. Sexualidade, verdades e mentiras: temática do PIBID Biologia. In: Congresso Internacional de Ensino – CONIEN, 1, 2017, Cornélio Procópio, Anais... Cornélio Procópio: 2017, p. 698-607. MEDINA, E. U.; PAILAQUILÉN, R. M. B. A revisão sistemática e a sua relação com a prática baseada na evidência em saúde. Rev. Latino-Am. Enfermagem, jul-ago, 2010. PIMENTEL, G. Oficinas Culturais. Brasília: Universidade de Brasília, 2009. RAMOS, A.; FARIA, P. M., FARIA, A. Revisão sistemática de literatura: contributo para a inovação na investigação em Ciências da Educação. Rev. Diálogo Educ., Curitiba, v. 14, n. 41, p. 17-36, jan./ abr. 2014. RIBEIRO, P. R. M. Sexualidade também tem história: comportamentos e atitudes sexuais através dos tempos. In: Maia, A.C.B.; Maia, A.F. (ORG). Sexualidade e Infância. Cadernos CECEMCA (1) (pp.17-32). Bauru, Faculdade de Ciências: Cecemca; Brasília: MEC/SEF. 2005. SAMPAIO, R. F.; MANCINI M. C. Estudos de revisão sistemática: um guia para síntese criteriosa da evidência científica. Rev. bras. Fisioter., São Carlos, v. 11, n. 1, p. 83-89, jan./fev. 2007. SILVA, C. A. da. Abordando sexualidade na escola. Trabalho de Conclusão de Curso
- 129. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 11 120 (Especialização). Curso de Especialização em Estratégia da Saúde da Família, Universidade Federal de Minas Gerais, Maceió - Alagoas, 2015. SINECT – Simpósio Nacional de Ensino de Ciências e Tecnologia. Disponível em: <http://www.sinect. com.br/2018/index.php?id=260>. Acesso em: 31 de maio de 2018. SPOSITO, M. P. Estudos sobre juventude em educação: notas preliminares. In: SPOSITO, M. P. e PERALVA, A. (org.) – Revista Brasileira de Educação. Número especial: juventude e contemporaneidade. São Paulo: ANPED, n. 5/6, p. 37-52, 2002. WEREBE, M. J. G. Sexualidade, Política, Educação. Campinas: Autores Associados, 1998.
- 130. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 12 121 A MITOPOÉTICA CULTURAL AMAZÔNICA COMO ELEMENTO EDUCATIVO SOCIALIZADOR CAPÍTULO 12 doi Riceli da Natividade Silva Universidade Federal do Pará (UFPA), Faculdade de Pedagogia/Campus Castanhal – Pará Jefferson da Silva Alves Universidade Federal do Pará (UFPA), Faculdade de Pedagogia/Campus Castanhal – Pará Luiz Carlos de Carvalho Dias Universidade Federal do Pará (UFPA), Faculdade de Psicologia/Campus Belém - Pará RESUMO: Em muitas comunidades rurais/ ribeirinhas/ assentados/ comunidades da floresta da Amazônia/Pará, a educação escolar pouco articula as vivências das crianças e de seu cotidiano, principalmente no que se referem às narrativas do cotidiano de visagens, assombrações e encantarias narradas por moradores do lugar, muitos desses, entes, seres encantados são narrados pelas crianças /alunos em sala de aula. Essas narrativas podem ser articuladas enredando aos campos da “Cultura do Lugar” nas suas diversas manifestações e ocasiões, e a Educação em territórios curriculares pedagógicos. Observa-se na cultura das narrativas orais o diálogo possível entre os dois campos para a salvaguarda desse patrimônio imaterial, e como educação socializadora à memória coletiva do lugar. Entendemos que a criança se socializa e se constitui como sujeito social, interpretando o que os adultos dizem. Nesse sentido nossos estudos balizam-se nas reflexões dos autores como Gaston Bachelard, Maurice Halbwachs, João de Jesus Paes Loureiro e outros. PALAVRAS-CHAVE: Educação e Cultura. Imaginário Infantil. Patrimônio Imaterial. ABSTRACT: In many rural communities/ riverside/settlements/communities from the forest of Amazônia/Pará, the scholar education does not articulate the living of the children within their routine, specifically in terms of the narratives of everyday visages, hauntings and enchantments told by local residents, a lot of those, beings, are reproduced by the children/ students in the classroom. These narratives can be articulated binding the fields of “Local Culture” in its many manifestations and occasions, and the Education in the curricular education territory. It can be observed in the culture of oral narratives the possible dialogue between two fields to safeguard the immaterial patrimony, and as socializing education to the collective memory of the place. It is understood that the children socializes and is established as social being, interpreting what the adults say. In this sense, this study emphasize the reflections of authors such as Gaston Bachelard, Maurice Halbwachs, João de Jesus Paes Loureiro, among others. KEYWORDS: Education and Culture, Children
- 131. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 12 122 Imagination, Immaterial Patrimony. 1 | INTRODUÇÃO Esta apresentação descreve as atividades desenvolvidas no projeto de extensão “Encantados – A Mitopoética Cultural Amazônica como Elemento Educativo Socializador”, e se efetiva na busca por apresentar e evidenciar uma posição ética estética sobre a educação socializadora junto da tradição oral inclinada aos enredamentos da mitopoética amazônica, visando construir reflexões educativas e pedagógicas ampliadas para a intervenção teórico metodológicas sobre as vivências dessas pessoas com as narrativas míticas e o cotidiano. Muitos contextos do cotidiano se apresentam relacionadas às encantarias, assombrações e ou visagens que tanto os indivíduos adultos contam, como também as crianças que estão inseridas nesse ambiente – mítico, mágico e anímico; as vivências infantis se expressam por meio do desenho, pintura, contação de histórias. Colocam-se como protagonistas na posição de sujeitos narradores que criam e evidenciam uma estrutura narrativa imaginária para evidenciar e mostrar como se apresentam tais seres sobrenaturais, utilizando arquétipos ancestrais e traduções desses para movimentar ações. Essas narrativas podem ser articuladas entre os campos da Cultura nas suas diversas manifestações e ocasiões, e a Educação em seus mais específicos e heterônomos espaços. Observa-se na cultura das narrativas orais o diálogo possível entre os dois campos para a salvaguarda desse patrimônio imaterial e como educação socializadora à memória coletiva do lugar. Mitos e lendas sobre seres encantados apresentam-se de forma bastante significativa no imaginário das crianças, são narrativas simples, primitivas, mas de grande simbolismo. Entende-se que a criança se socializa e se constitui como sujeito social, interpretando o que dizem os adultos. Elas, escutando as histórias, criam e participam dessa aventura como personagens das narrativas. Ressalta-se que nos currículos escolares reais é dada pouca ênfase a esse patrimônio imaterial, e os procedimentos pedagógicos privilegiados pelas instituições governamentais ainda seguem um modelo que marginaliza essas expressões culturais e a criatividade da criança sobre essas narrativas ou as trata como elemento cultural menor, ainda que, escolas, comunidades e professores estejam “encharcados” nesse imaginário e convivam no seu cotidiano escolar e comunitário com essas narrativas. Nesse sentido, o projeto tem em seus objetivos gerais construir intervenções e inter-versões ativas e reflexivas, educativas e pedagógicas, históricas e socioculturais com base nas narrativas como propulsoras do imaginário infantil, visando seu reconhecimento como campo da memória coletiva e sua salvaguarda como Patrimônio Imaterial do lugar.
- 132. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 12 123 2 | ENREDANDO TEORIA E VIDA Esse projeto apresenta uma posição ética estética sobre uma educação socializadora com a tradição oral inclinada à mitopoética amazônica, e se endereça a ir construindo reflexões pedagógicas e teórico metodológicas junto as emergências e vivências das narrativas míticas e ou cotidianas sobre encantarias, visagens e assombrações contadas por crianças da educação infantil e fundamental das escolas da Cidade de Colares, Estado do Pará/Brasil – Vilas de Jenipauba, Mocajatuba e Juçarateua. Devido às dificuldades financeiras da universidade e o acesso às referidas localidades, não foi mais possível realizar tais atividades nas mesmas. Nesse sentido, procurou-se outro ambiente para realizar as atividades do referido projeto nas localidades mais próxima onde se situa o campus, proposto a partir de um questionamento num evento realizado na universidade. Após várias reuniões foi decidido que a localidade mais próxima para se realizar o projeto seria a agrovila de São Raimundo, distante à 3 km do município de Castanhal/PA. Ainda hoje, muitas comunidades “interioranas” ainda mantêm bem viva a sua cultura ancestral e isso está muito presente no cotidiano de seus habitantes, principalmente em alguns momentos de seus afazeres, como na pescaria, na casa de farinha, nas atividades agrícolas, nas conversas de vizinhos à porta de casa. São momentos mágicos em que a mitopoética amazônica reaparece nas narrativas orais com muita força. O mito é vivido como verdade pelo povo dessas comunidades. Assim, todos na região têm uma estória para contar, sempre afirmando que viram ou ouviram personagens encantados. Loureiro (2001) nos serve de bússola, pois escutamos de suas palavras não um conceito definitivo para a expressão “mitopoética”, mas posicionalidades polissêmicas da experiência estética com a narrativa mítica que se entrelaça com a história da ocupação da Amazônia e sua população tradicional e o imaginário construído a partir desse “hibridismo cultural”. Escreve assim Loureiro (p. 93-94), na seção c. A vocação mitológica do imaginário: [...] Verdadeiramente, a experiência estética representa uma forma sui generes de experiência humana. Uma experiência íntima, ampla e profunda, rica de sensibilidade e emoção, que testemunha uma vivência singular e que revela uma capacidade intensa de criação de formas. Uma experiência por dentro, acima e superadora do cotidiano, que é marcada por vaga e contemplativa atitude de prazer em face da realidade. Na Amazônia seus mitos, suas invenções no âmbito da visualidade, sua produção artística são verdades de crença coletiva, são objetos estéticos legitimados socialmente, cujos significados reforçam a poetização da cultura da qual são originados. A própria cultura amazônica os legitima e os institui enquanto fantasias aceitas como verdades. Assim, nesse mundo, os homens, por meio da cultura, passam a usufruir a confiança de estar em seu mundo, expressando uma linguagem poética que vem diretamente da alma, que faz a alma se extravasar como uma fonte incessante, que permite a essa alma nativa se descobrir em um mundo que é seu e no qual funda a compreensão da vida e da natureza nas quais ela está inserida.
- 133. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 12 124 Com base nos estudos feitos após o trabalho de conclusão do curso de pedagogia em duas escolas rurais com crianças de três a dez anos, podemos afirmar que os narradores infantis possuem uma eloquência bem definida, acreditam no mítico e fazem dos personagens das histórias aliados na defesa ou no medo que eles possam transmitir. “Teve um dia a Matinta Pereira nova estava subiando fiti-fiti-fiti, perto da casa tia Geni e a outra subiando perto da casa da vovó, eram duas irmãs novas e elas ficam com o cabelo na cara para ninguém conhecer e falar quem é só dizer: - vem tomar café de manhã! Que ela aparece” (Emily Vitória, 5 anos, Educação Infantil). Ao ouvirmos a criança sentimos na sua narração uma verdade: nessa experiência de vida da criança-narrador, observamos processos de socialização e interação cultural entre as gerações e com o lugar, em seu desenvolvimento sociolinguístico, um desenvolvimento intelectual que passa pelo pensamento mágico e anímico, explicações indutivas míticas que sinalizam saberes históricos, uma trajetória para as explicações científicas que em suas palavras duvida do fato ocorrido sem desqualificá- lo enquanto uma verdade absoluta, mas noutra possibilidade de explicação natural. Alves (2007) nos diz: As crianças amazônidas, em particular, vivem em um meio social carregado de significações, ideologias, histórias e em uma cultura muito singular, cercada de narradores que transmite toda a poética da Amazônia, ouvindo histórias desde o nascimento tem um repertório narrativo carregado de elementos típicos do imaginário do amazônida (p. 140). AAmazônia ainda preserva em suas comunidades rurais e ribeirinhas o costume de contar/ouvir e participar como protagonistas das histórias. Na Amazônia, um “berço” das encantarias brasileiras, não é e nem será diferente, mesmo que o futuro se empenhe para mudar essa realidade. Apesar de suas complexidades como escreve Loureiro (2001) “[...] A Amazônia não é, contudo, uma região fácil de definir [...]”. Nestesentido,oprojetodeextensãovisacontribuirparaaeducaçãoporintermédio da cultura, numa relação dialógica com a comunidade, através de mecanismos de valorização da cultura rural amazônica, objetivando o conhecimento mútuo e a descoberta de elementos de comunhão, desenvolvendo nas crianças o respeito pela região, tendo em perspectiva a melhoria da aprendizagem com a participação social da universidade pública. Dentro do campo educacional, a pedagogia a princípio, o reconhece em plena atividade no brinquedo imaginativo, no faz de conta. Na psicologia, o imaginário estaria imbrincado ao sintoma quando estudamos o campo da psicopatologia. Qual seria nosso campo de interesse nesse imaginário num primeiro momento? Por conta do projeto de extensão várias “janelas” foram abertas e começamos a tentar articular os campos que poderiam ser pensados como trabalhos acadêmicos, um deles diz
- 134. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 12 125 respeito a relação entre memória coletiva, imaginário infantil e patrimônio imaterial. Quanto ao imaginário infantil, Bachelard (2009) nos pontua a potencialidade deste nas suas mais variadas expressões. Mas, observando sujeitos adultos contando experiências com as narrativas de encantarias, visagens e assombrações, observamos que esse imaginário parece vir à tona com uma força do presente que chegamos a perguntar: O infantil na criança é ponto de partida para pensarmos a memória coletiva nas gerações ancestrais? Seriam os mais velhos o ponto de apoio para entendermos a lembrança, o esquecimento e a ressignificação da memória? Essa pergunta nos remete a um campo que trata exclusivamente de um “infantil” como parte do imaginário. Então precisamos considerar a criança, a infância e o infantil em nossas análises – como nos inspira a psicanálise? Seriam dois contextos históricos, culturais e geracionais a serem considerados a princípio? Essas perguntas estão pulsando cotidianamente em nossos estudos, observações e escutas. 3 | A MITOPOÉTICA COMO EXPRESSÃO DO IMAGINÁRIO INFANTIL Reconhece-se nas narrativas míticas, campo de elaboração e subjetivação das identidades e “diferenças” culturais; essa incursão observada por nós, educadores, demarca uma preocupação com a criança enquanto sujeito de resistências culturais, nestas e outras imagens culturais reconhecemos nossa cidadania amazônida. É através da expressividade da oralidade que as crianças constroem imagens de sua cultura – afetos, valores, paixões etc. As narrativas ouvidas pelas crianças são feitos heroicos de pessoas reais que ficaram expostas a situações do encantamento ou assombração. Estes feitos as colocam em situações especiais frente à comunidade. Essas narrativas nos remetem ao que diz Bachelard (2009) sobre a percepção dos educadores ao lidar com as histórias e com as imagens infantis que as produções de nossa cultura são capazes de mostrar: [...] as sínteses me encantam, me fazem pensar e sonhar ao mesmo tempo. São totalidades de pensamento e de imagens. Abrem o pensamento pela imagem, estabilizam a imagem pelo pensamento (p. 81). Atentar para a criatividade e o resgate produzido pela memória, em sala de aula se apresenta bastante rico, é tarefa do educador, ciente de sua responsabilidade, utilizá-las como elemento educativo e a interação entre a Comunidade e Escola, possibilitando uma maior proximidade entre as crianças e a sua Cultura. [...] Muito mais do que metodologias e métodos, o acontecimento poético – que pode emergir entre a criança e o adulto, criança e criança, entre corpo e mundo – exige de docentes e educadores a coragem de reinvenção que passa pela experiência de imaginar-se e fazer-se (FRANCKOWIAK & RICHTER, 2005). Esses sujeitos, heróis ou sobreviventes, passam a ser os entes culturais humanos vivos; suas histórias se inscrevem nas memórias coletivas como “resistência cultural”,
- 135. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 12 126 pois suas histórias serão contadas e recontadas por muitas gerações. Segundo pais, professores e comunitários que vivem no cotidiano com as histórias de visagens, encantamentos e assombrações, essas vão mais além do que uma simples narrativa. A criança, sendo ouvinte e narradora desse cotidiano, torna- se ponto central dessa memória ancestral, capaz de envolver a imaginação de seus ouvintes. E, nessa experiência de vida da criança-narrador, se observam processos de socialização e interação cultural entre as gerações e o lugar, numa sintonia entre mitopoética e desenvolvimento cognitivo e significações afetivas, passando pelo pensamento mágico: anímico e antropomórfico. Vygotsky (1996) enfatiza a necessidade de ampliar as experiências das crianças com o intuito de proporcionar bases suficientemente sólidas para seu ato de imaginar, pois quanto mais elementos reais advindos de suas experiências a criança dispor, maior será sua capacidade de imaginar e criar, sendo que essas possibilidades favorecem o desenvolvimento do seu imaginário. De acordo com esse pensamento de Vygotsky, é importante que nós, educadores, desenvolvamos atividades que envolvam situações oriundas da realidade das crianças e o uso dos nossos mitos com a finalidade de desenvolver na criança maior número de imagens e ideias, que ela agrupará em um conjunto harmônico, utilizando de narrativas infantis e composições poéticas imaginárias como material para sua criação. “Era uma vez uma bruxa e uma sereia que estava embaixo da água do rio do Maruruá, ela foi encantada e mundiada pelo tubarão, junto com bruxa e levaram e comeram a sereia e a bruxa pulou na água para ir embora pra casa dela embaixo da areia do rio do Mararuá” (Mateus, 4 anos, Educação Infantil). Ao narrar, a criança movimenta-se em busca de parceria e na exploração de objetos imaginativos. Como um brinquedo de linguagem, comunica-se com seus pares, expressa-se através de múltiplas linguagens, descobre regras e toma decisões. As ideias presumidas por Vygotsky (1988), de que a Cultura forma a inteligência e que a brincadeira favorece a criação de situações imaginárias e reorganiza experiências vividas, abre as portas da escola para a entrada da Cultura e condiciona o saber a um fazer. Esse aprendizado começa com brincadeiras, nas quais as crianças criam significações, comunicam-se com outros, tomam decisões de codificar regras, expressam a linguagem e socializam. 4 | SOBRE O PATRIMÔNIO IMATERIAL Em seu sentido original ou mais restrito, “patrimônio” significa “herança familiar” ou “conjunto de bens familiares”, que são transmitidos a seus membros de geração em geração. Este significado tornou-se mais amplo quando passou a referir a um conjunto de bens culturais pertencentes a comunidades maiores que a família, como o povo de uma região ou de um país. Ou melhor, quando se passou a considerar como “bens”,
- 136. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 12 127 como algo que tem valor – de uso, de gozo ou de troca – e que deve ser preservado para poder ser transmitido às gerações futuras. E, de maneira geral, as bases de entendimento para as ações cooperativas deste tema entre as nações estão no documento da Unesco, “Recomendações sobre a salvaguarda do folclore e da cultura popular”, de 1989 e a Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial, Paris, 17 de outubro de 2003. Nos artigos da Convenção de 2003 Artigo 1º: Finalidades da Convenção; Artigo 2º: Definições; Artigo 14º: Educação, sensibilização e reforço das capacidades; Artigo 15º: Participação das comunidades, grupos e indivíduos, identificamos justificativas ao nosso projeto No caso do Brasil, a legislação que trata da proteção do patrimônio cultural tem seguido as recomendações da Unesco. Nos artigos 215 e 216 da Constituição Federal promulgada em 1988, o conceito de Patrimônio Cultural abarca tanto nas obras arquitetônicas, urbanísticas e artísticas de grande valor; o patrimônio material quanto manifestações de natureza “imaterial”, relacionadas à cultura no sentido antropológico: visões de mundo, memórias, relações sociais e simbólicas, saberes e práticas; experiências diferenciadas nos grupos humanos, chaves das identidades sociais. Incluem-se aí as celebrações e saberes da cultura popular, as festas, a religiosidade, a musicalidade e as danças, as comidas e bebidas, as artes e artesanatos, os mistérios e mitos, a literatura oral e expressões diferentes que fazem nosso país culturalmente tão diverso e rico; em relações às suas regiões encontramos uma grande riqueza de culturas. Em particular, destacamos aqui, a Região Amazônica pela história de seus primeiros habitantes contadas, ainda hoje, através das narrativas orais, principalmente pelos habitantes das comunidades mais distantes dos centros urbanos. A legislação para o patrimônio imaterial, entretanto, é recente. No Decreto no. 3.551 de 04 de agosto de 2000, os principais instrumentos de salvaguarda desse patrimônio, até hoje instituídos, são o inventário permanente, o registro em livros análogos aos livros de tombo e as políticas de preservação e fomento que devem ser estabelecidas. Há muito se diz que o Brasil é um país rico em diversidade cultural, plural em suas etnicidades: indígena, negro, imigrante, urbano, sertanejo, caiçara, caipira, caboco... Contudo, ao longo de nossa história, têm existido preconceitos, relações de discriminação e exclusão social que impedem muitos brasileiros de ter uma vivência plena de sua cidadania na diferença. Por isso, apenas a legislação não basta para garantir a salvaguarda dessas diferenças que se materializa em bens culturais materiais e imateriais. De fato, muitas expressões culturais da maior importância se perderam por falta de legislação eficiente, mas também existem muitos bens culturais que se conservaram por séculos e séculos sob nenhuma ou apenas incipiente legislação de proteção. As leis, sem
- 137. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 12 128 dúvida, podem favorecer as condições para a preservação do patrimônio cultural, mas ele só é efetivamente preservado por meio de vivências e experiências objetivas e subjetivas das pessoas. Assim, a nova legislação de preservação do patrimônio cultural só será eficaz na medida em que seja amplamente conhecida pelos diferentes segmentos da sociedade e que as comunidades locais e a sociedade abrangente tenham condições de estar mobilizadas para a prática permanente, para a transmissão e aprendizado e troca de saberes, a pesquisa, documentação, apoio e reconhecimento da riqueza cultural brasileira, de maneira crítica e participativa. Um dos principais desafios da política de salvaguarda do patrimônio cultural imaterial é, sem dúvida, sua articulação com as políticas públicas nas áreas da educação, do trabalho, da ciência e tecnologia, do meio ambiente, e outras, estratégia fundamental para a melhoria e fortalecimento das condições sociais, ambientais e econômicas que permitem a transmissão e a continuidade dos bens culturais imateriais. Não menos importante é também sua ampliação por meio do envolvimento e da integração com as esferas estadual e municipal, assim como a sensibilização da sociedade para o desempenho do seu papel fundamental nessa tarefa[...] (MinC/IPHAN, p. 41, 2010). O que torna os espaços educativos, entre eles, a escola e as comunidades como lócus privilegiados de valorização da diversidade cultural, daí a importância de projetos culturais e educacionais para a motivação permanente às culturas e as identidades tradicionais das comunidades, divulgando-as e utilizando-as como parâmetros socioeducativos para o processo de construção de sujeitos históricos desse saber, que sejam conhecidas e reconhecidas na própria comunidade e na sociedade abrangente. Alguns currículos buscam em outras posturas éticas-estéticas, práticas educativas que reconheçam não somente as transformações sociais, mas a tradição e as suas traduções contemporâneas. Algumas práticas pedagógicas, como Lopes (2001) observa e se assemelham a sintomas históricos na formação de professores e fazem eco nas suas ações educacionais, muitas vezes são interpretadas como compensação e reparação de uma ilusão pedagógica; a incessante busca da superação das falhas históricas possivelmente imprimidas pelo excesso de um discurso racional técnico. Não é o caso aqui neste artigo, não se trata de uma intervenção pedagógica, mas das inter-versões de sujeitos situados em questão, por conta de uma escuta estética de pesquisa de um “possível” cotidiano comunitário educacional e escolar cultural socializador que utilize a mitopoética amazônica como pulsora de resistências culturais afirmativas de diferenças e identidades. 5 | SOBRE O IMAGINÁRIO E A MITOPOÉTICA AMAZÔNICA Elegemos duas composições conceituais teóricas como bússola para pensarmos a articulação ao projeto e pesquisa a priori. Não iniciaremos uma reflexão que tente
- 138. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 12 129 enredar essas posições teóricas, mas pensamentos que podem parecer esparsos, mas que se entrecruzam, a princípio balizam, demarcam nossos escritos nesse projeto. Preferimos pontuações da obra de Paes Loureiro (2001) que nos fizeram pensar a cultura amazônica em sua exuberância cultural, dispersão em manifestações materiais e imateriais. A cultura amazônica parece nos dizer que somos dotados de uma cultura ímpar, singular, por isso própria, que tem sua dinâmica distinta por ser formada ontologicamente de três culturas distintas: a portuguesa, a indígena e a negra. Hoje é preciso ficar atento porque outras culturas brasileiras e estrangeiras adentraram na Amazônia, inclusive no Pará que nos mostra que, esse Estado é também multicultural por isso o pensamento de Loureiro (2001) se faz atual quando diz: “Nada está totalmente organizado em compêndios (ou territórios) na cultura amazônica. É preciso errar pelos rios, tatear no escuro das noites da floresta, procurar os vestígios e os sinais perdidos pela várzea, vagar pelas ruas das cidades ribeirinhas, enfim, procurar na vertigem de um momento que se evapora em banalidades, a rara experiência...” (grifos nossos) Hoje se observa na Amazônia espaços sociais de cultura, urbana, rural e ribeirinha, entrelaçados em decorrência de procedimentos e acessos próprios ao desenvolvimento regional, mas apresentando ambas cada qual características bem definidas, marcados por uma forte articulação mútua, podemos observar no uso das tecnologias digitais. Ainda que a cultura urbana se expressa na vida urbanas das cidades e das cidades do interior, principalmente naquelas de porte médio observamos nos movimentos migratórios da cidade para o interior, e interior para a cidade em momentos de trocas e afirmações tal como pontua Rodrigues (2008, p. 03): Considerando as identidades como identificações em curso (SANTOS, 1993, p. 31-32) e os processos de identificação como fundamentais para a “construção, negociação e afirmação da identidade” (BAUMAN, 2001, p. 129), procuramos perceber como os migrantes ribeirinhos no bairro do Jurunas se apresentam/ representam, tendo como referência um conjunto de experiências e vivências que interligam os lugares de origem e a localidade do bairro. A velocidade com que a cultura urbana se movimenta e muda é por conta dos acessos às trocas simbólicas serem mais intensos no meio urbano, pelo desejo de fazer parte de um cenário mais globalizado e atualizado em termos de linguagens. Muitas trocas simbólicas são mediatistas. Existe uma contraposição de grupos em produzir a partir desse cenário cultural mais global, uma produção localizada na Amazônia, mas isso é uma outra discussão. No entanto, nas comunidades rurais e ribeirinhas esses movimentos de mudança e apropriação parecem ser mais lentos, mas suas marcas ficam inscritas nesse imaginário.
- 139. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 12 130 6 | FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓGICO Escolher um referencial teórico metodológico que possa orientar os caminhos das intervenções ou inter-versões e pesquisa requer um trabalho delicado e ao mesmo tempo respeitoso com o lugar. Para nós, a Etnografia é posição teórico metodológico que vem como um quantum dos objetivos gerais desse projeto de extensão/pesquisa. Oliveira (2013) nos alerta sobre os debates teóricos e a produção exaustiva da teoria Etnografia e sua íntima relação com os debates teóricos antropológicos, e que sem essa compreensão as pesquisas e seus resultados nos campos educacionais podem se fazer estéreis: “Ressalta-se que há uma íntima relação entre a Etnografia e a Antropologia, de modo que não se pode propor uma pesquisa etnográfica sem se debruçar sobre o desenvolvimento da etnografia na própria história da ciência antropológica, buscando, portanto, conhecer profundamente os avanços, embates e desdobramentos desse método no terreno no qual ele foi forjado. Muitas confusões na apropriação da Etnografia, sobretudo por pesquisadores da Educação, originam-se em razão da ausência desse exercício, pois, em muitos casos, os pesquisadores que afirmam se utilizar de tal metodologia desconhecem o vasto debate nesse campo” (OLIVEIRA, 2013, p. 179). Cabe aqui ressaltar que a Etnografia, como qualquer outra metodologia de pesquisa apresenta limites, aqui nesse plano de extensão/pesquisa que se coloca na perspectiva de ter crianças como participantes residentes na comunidade em relações e intersubjetivas escolares, familiares e moradores da comunidade e nos, estabelece entre os sujeitos o encontro etnográfico. Como nos pontua Oliveira (2013): “Ao contrário de outras metodologias que nos possibilitam tornar a experiência social um objeto de reflexão, a Etnografia transforma tal experiência em meio para a delimitação e investigação do objeto, o que se mostra bastante complexo quando envolve a realidade educacional” (OLIVEIRA, 2013, p. 179). Por se tratar de crianças que escutam narrativas míticas, nos pareceu oportuno nos posicionarmos, a princípio, como observadores ativos, conversando informalmente com as crianças e pais, professores moradores do lugar e moradores que nos dão pistas sobre as “ocorrências/narrativas míticas” na comunidade e histórias de outros lugares. A partir de então, de posse dessas pistas, construímos uma ação pedagógica com as crianças em forma de oficina. Usamos o contexto de contação de história (narrativa), para nomear a ação: “Teve um dia...!” Esse marcador linguístico abri um campo para as narrativas; é uma expressão muito usada pelos narradores adultos, esse seria nosso disparador temático para iniciarmos nossas Oficinas de contação de histórias, representações – pinturas, desenhos, dramatizações. Esse espaço nos possibilitaria observação, ação/reflexão/ação e registros.
- 140. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 12 131 Nesse sentido, utilizamos para análise as produções narrativas espontâneas e recriadas nas oficinas, os desenhos e pinturas das crianças nas atividades de representação. As entrevistas abertas (conversas espontâneas) com as crianças sobre o lugar nos possibilitam uma compreensão do seu cotidiano social e familiar no que diz respeito às narrativas ouvidas por estas. Leituras bibliográficas – teses dissertações, artigos, ensaios, relatos de experiência, orientação de Tcc’s (Trabalho de Conclusão de Curso) nos levam a ir repensando nossas intervenções e compreensões dos objetos, sujeitos e contextos a serem investigados. A oficina teve dois movimentos: (1) acolher e ser acolhido pela criança: caminhar com ela, ser apresentado aos lugares que esta escolhe como sendo aqueles propiciadores à imaginação delas, ao mesmo tempo em que nos contam histórias sobre o lugar. Apresentar para as pessoas da comunidade que estas reconhecem como importantes da cultura imaterial do lugar – benzedeiras, parteiras, erveiras, mestres artesãos, músicos, poetas ou outras pessoas e seus feitos. Esse momento pode ser feito pela manhã e pela tarde; (2) Contar histórias e criar estória para rememorar o que há nesses indivíduos de contextos sócio culturais em suas trajetórias de vida com a cultura amazônica. Depois fazer representação em desenho e pintura e conversar sobre atividade realizada. No decorrer das nossas visitas as comunidades e nos nossos estudos sobre Bachelard (2009), Loureiro (2001), Vygotsky (1988), Halbwachs (1990) e relatórios do IPHAN sobre Patrimônio Imaterial (2010), pensamos em ir construindo e refazendo compreensões sobre as relações e aproximações entre educação e cultura na possibilidade de articular imaginário infantil, mitopoética amazônica, memória coletiva e patrimônio imaterial. Das nossas incursões temos como resultados dois vídeos documentários, acesso https://www.youtube.com/watch?v=flbtJmwmFuQ e https:// www.youtube.com/watch?v=MEaQSNrGuPo. Esse trabalho é resultado de nosso projeto de extensão nas comunidades de Colares/PA e agrovila São Raimundo em Castanhal/PA, sob o nome “A Mitopoética Cultural Amazônica como Elemento Educativo Socializador”. 7 | CONSIDERAÇÕES FINAIS O grupo de estudo, pesquisa e extensão “Encantados: A Mitopoética Cultural Amazônica como Elemento Educativo Socializador”, inclina-se em afirmar que narrativas míticas são elementos de socialização para as crianças amazônicas, por meio de práticas pedagógicas que valorizam a cultura da oralidade nas comunidades. Em trabalho conjunto – Universidade, Comunidade e Escola – o processo grupal, possibilitou que fosse realizado momentos de rememoração e resgate das histórias que se destacam como propulsoras de potencial da salvaguarda do patrimônio imaterial e consequentemente ajudam na identificação com a cultura do lugar no qual estão
- 141. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 12 132 inseridos e acabam por evidenciar as características da região em que os sujeitos vivem. Assim, a mitopoética amazônica, possibilita construção de significados para os alunos e moradores do lugar que vivem sua realidade imbricada a natureza e na interação com os referidos assuntos cotidianos, aquecendo e movimentando a interdisciplinaridade da vida. REFERÊNCIAS ALVES, Laura Maria Silva Araújo (org.). Educação infantil e estudos da infância na Amazônia? A constituição do discurso narrativo polifônico da criança: traços da Mitopoética Amazônica, 2007. BACHELARD, Gaston. A poética do devaneio. São Paulo: Martins Fontes, 3ª ed. 2009. BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal, 1988. BRASIL. Ministério da Cultura/IPHAN. Os Sambas, As Rodas, Os Bumbas, Os Meus e os Bois – princípios, ações e resultados da política de Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial no Brasil. Brasília. 2ª edição, 2010. FRANCKOWIAK, Ângela Cogo & RICHTER, Sandra. A poética do devaneio e da imaginação criadora em Gaston Bachelard. Anais do I Seminário Educação, Imaginação e as Linguagens Artístico – Cultural: Criciúma - UNESC, 2005. HALBWACHS, Maurice. A memória coletiva. São Paulo: Vértice, 1990. LOPES, Amélia. Professoras e identidade - um estudo sobre a identidade social de professoras portuguesas. Porto: Asa, 2001. LOUREIRO, João de Jesus Paes. Cultura Amazônica - a poética do imaginário. Obras reunidas: Poesia I. São Paulo: Escrituras Editora, 2001. OLIVEIRA, Amurabi. Algumas pistas (e armadilhas) na utilização da Etnografia na Educação. Ano 16 - n. 22 - dezembro 2013 - p. 163-183. Acesso em:16 de Jan. 2019. Disponível em: < http:// revista.uemg.br/index.php/educacaoemfoco/article/viewFile/322/312 > RODRIGUES, Carmem Izabel. Ribeirinhos no bairro do Jurunas, Belém-Pará. Seminário Internacional - Amazônia e Fronteiras do Conhecimento. NAEA - Núcleo de Altos Estudos Amazônicos - 35 ANOS. Universidade Federal do Pará - 9 a 11 de dezembro de 2008. Belém - Pará – Brasil. UNESCO. Convenção para a Salvaguarda do Património Cultural Imaterial. Paris, 2003. VYGOTSKY, Lev Semenovitch. A formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes, 2. ed., 1988. VIGOTSKY, Lev Semenvich. La imaginación Y el arte em la infância. (ensaio Psicológico) 3. Ed. Madrid, Espanha: Akal, 1996.
- 142. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 13 133 COMO ALINHAR UMA FERRAMENTA DE GAMIFICAÇÃO EM UM CURSO DE COMPUTAÇÃO NO ENSINO SUPERIOR? CAPÍTULO 13 doi Rodrigo Alves Costa Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) Patos - PB André Luiz Henriques Bernardo Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) Patos - PB Ingrid Morgane Medeiros de Lucena Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) Patos – PB RESUMO: Este trabalho trata-se da aplicação de um simulador do microprocessador Z-80 na disciplina de Arquitetura de Computadores no curso de Computação da Universidade Estadual da Paraíba, sob a hipótese que a mesma proporcionaria uma maior compreensão sobre o assunto de processadores aos alunos. Para aferir a melhoria na aprendizagem, foram aplicadas duas avaliações de mesmo nível, uma antes da explicação e execução de rotinas no simulador, e outra depois. Elas foram aplicadas utilizando o ambiente qualificador de aprendizagem Kahoot!, baseado em gamificação, motivador para os estudantes durante o processo avaliativo. Verificou-se um aumento de 8,3% na média de acertos e altos índices de satisfação com a experiência. PALAVRAS-CHAVE: microprocessador, Z-80, simulador. ABSTRACT: This paper describes the application of a Z-80 microprocessor simulator in the discipline of Computer Architecture in the Computer Science course of the State University of Paraiba, under the hypothesis that it would provide better understanding on the subject of Processors to the students. To assess the improvement in learning, two evaluations were applied, one prior to the explanation and execution of routines in the simulator, and another one afterwards. These were applied using the Kahoot! learning environment, based on gamification, which served as a motivator for the students during the evaluation process. There was an increase of 8.3% in the average number of hits and high satisfaction rates with the overall experience. KEYWORDS: microprocessor, Z-80, simlator. 1 | INTRODUÇÃO De acordo com a ementa do curso de Computação do Campus VII da Universidade Estadual da Paraíba [Costa et al. 2016], o componente curricular de Arquitetura de Computadores está associado ao ensino de toda a estrutura básica de hardware de computadores. Um dos assuntos mais importantes nessa disciplina é o de Processadores. Devido à complexidade no
- 143. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 13 134 processamento de instruções e na construção do mesmo, muitas vezes docentes se limitam a teorizar sobre arquiteturas e funcionalidades básicas. Este trabalho surge da hipótese que, através da explanação e execução de rotinas de simuladores de Processadores em turmas cujo conteúdo é abordado, a sua aprendizagem será otimizada. Para verificação dessa hipótese e, consequentemente, a manutenção de um grau satisfatório de envolvimento dos estudantes ao longo da experiência, decidiu-se utilizar uma ferramenta de gamificação, o Kahoot! [Dellos 2015]. A gamificação é uma abordagem que pode auxiliar o problema da motivação no contexto educacional, através de elementos de jogos, proporcionando engajamento no processo de ensino-aprendizagem [da Rocha Seixas et al. 2016]. Nesse sentido, o Kahoot! é um ambiente que possibilita a realização de avaliações e questionários através de um sistema de pontuação em jogos pré-concebidos, criando um ambiente gamificado, no qual se busca acertar questões que são propostas como desafios [Dellos 2015]. Por sua vez, para Monteiro (2012), uma boa estratégia para o ensino de Processadores consiste em mostrar uma arquitetura simplificada de um processador, para servir como apoio aos fundamentos sobre seus componentes internos, funções e integração de procedimentos de instrução individual e em bloco, como um programa. Em meados de 1973, foi concebido o Z-80, um processador de 8 bits que, devido à sua simplicidade e seu baixo custo, se tornou popular, sendo o mais vendido da história. Versões modernizadas (conservando o mesmo projeto básico, mas produzidos com técnicas modernas, trabalhando com frequências mais altas) são utilizados em eletrônicos até hoje, como calculadoras, MP3 Players e impressoras. Devido à sua simplicidade, além de possuir de baixo custo, também é de fácil implementação [Stallings 2010]. Comefeito,existemdiversosprocessadoresquepoderiamterversõessimuladoras desenvolvidas, tais como: 8080a, 8088 e 4040 da Intel e o 64000 da Motorola [Stallings 2010]. No entanto, com a alta disponibilidade e interfaces simplificadas do Z-80, por ele apresentar uma arquitetura eficaz, por essa conter todos os componentes típicos de processadores e por ele ser muito usado como metodologia de ensino [Mudge e Buzzard 1983], o Z-80 tornou-se uma escolha natural para a aplicação como escolha metodológica da intervenção descrita neste artigo. 2 | PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS De acordo com Gil (2011), o objetivo fundamental de um trabalho científico é descobrir respostas para problemas mediante o emprego de procedimentos.Aprofundar um conhecimento extenso e detalhado sobre um objeto, a fim de realizar um estudo profundo caracteriza um estudo de caso [Gil 2011].. Neste sentido, Gil (2011), aponta que trabalhos descritivos propõem definições de características de populações definidas, como as que estudam características de um
- 144. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 13 135 grupo. A saber, ao fim da atividade, foi aplicado um questionário de satisfação, no qual se utilizou a escala de “Questionário de Experiência com o Usuário” (QEU) [Falavigna 2015], buscando medir a atratividade em relação ao simulador do Z-80. De acordo com Triviños (1987), na pesquisa quantitativa descreve-se principalmente, do conceito da medida e comparação de dados de maneira elementar, discreta. Este trabalho abordou uma turma do curso de Computação, grupo que caracteriza um estudo de caso. A avaliação da experiência com questionários determina o caráter descritivo do estudo, comparativo e quantitativo, levando em consideração os dados obtidos nas avaliações realizadas antes e depois da explanação do conteúdo. Assim, este trabalho trata-se de um estudo de caso descritivo com abordagem quantitativa discreta. 2.1 Preparação Para A Intervenção O primeiro passo do trabalho foi pesquisar e obter uma implementação satisfatória do microprocessador Z-80. Após pesquisa inicial, observou-se implementações com basenas aplicações de Diab e Demashkieh (1991) e Mudge e Buzzard (1983). Como a segunda implementação estava pronta para aplicação e o código disponível para uso, enquanto a primeiro estava parcialmente em pseudo-código, sua implementação foi escolhida. Uma parte significativa do código, para os propósitos da aplicação em sala de aula, precisou ser alterado. A principal modificação necessária foi adicionar instruções para mostrar a quantidade de ciclos por instrução da linguagem Assembly. As alterações podem ser encontradas nas linhas 47, 54 e 60 na Figura 1, que possui a nova versão do código, em linguagem Java. Para realizar a apresentação e aplicação do simulador do microprocessador Z-80 em sala de aula, foi realizada uma revisão sobre o tema de microprocessadores e temas tais como unidade central de processamento, instrução, memória de instrução.
- 145. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 13 136 Figura 1: Código modificado do simulador do microprocessador Z-80 Com base em Cypriano (1984), Monteiro (2012) e Stallings (2010), adotados na ementa da disciplina, foram elaboradas 20 questões sobre processadores, das quais 10 foram aplicadas antes da apresentação do simulador e 10 depois. O método de avaliação foi o Kahoot! (ver Figura 2), de fácil identificação e organização dos dados gerados, e 16 alunos participaram. Figura 2: Possibilidades de interação com o Kahoot! Como os alunos não estavam recebendo nenhuma pontuação extra na disciplina para participar da atividade, uma estratégia para envolvê-los foi utilizar a plataforma, que acaba motivando através da estrutura baseada em jogos. Não se trata de um aplicativo: os estudantes não precisam de um Kahoot!, precisam apenas de qualquer dispositivo com navegador da Web [Dellos 2015]. Assim,últimopasso daintervenção foia portabilidadedas questõese apreparação do QEU, para medição de satisfação com a experiência, para o Kahoot!. O questionário conteve questões que buscavam entender se: i) os alunos gostaram da experiência, ii) já haviam tido alguma experiência com simuladores de hardware, iii) consideravam que
- 146. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 13 137 a experiência tinha melhorado a compreensão do assunto visto em sala de aula, e iv) gostariam de outras experiências como essa em componentes curriculares similares, conforme recomendado por Falavigna (2015) para avaliações dessa natureza. 3 | RESULTADOS Percebe-se que a atividade se demonstrou proveitosa. Pela escala QEU, pode- se medir que 87,5% dos alunos nunca haviam tido acesso a um simulador de hardware antes, mesmo na universidade. A experiência recebeu uma nota de 9,2 (escala de 0 a 10) como sendo “muito útil” para a formação acadêmica dos estudantes. Por viabilizar aos alunos um método de avaliação que media o conhecimento sobre o assunto, a utilização do Kahoot como método de consideração mostrou-se satisfatório, pois não interferiu diretamente no resultado das avaliações e permitiu, da parte dos estudantes, um comprometimento significativo com a experiência. A primeira avaliação foi realizada antes de qualquer explicação sobre o assunto ou o simulador, muito embora o conteúdo já houvesse sido ministrado pela professora. É importante ressaltar que as questões possuíam um nível de dificuldade progressivo em ambas as avaliações e abordavam assuntos semelhantes em cada questão, para possibilitar uma margem comparativa confiável. A diferença na quantidade de acertos por questão e a média total pode ser observada no Gráfico 1. Gráfico 1: Diferença da quantidade acertos entre a primeira e a segunda avaliação por questão e na média total de acertos Na primeira avaliação, houve uma média total de 64,9% de acertos. Após a explanação do simulador e a execução de rotinas no mesmo, foi aplicada a segunda avaliação, que obteve uma média total de 75%, um aumento significativo de 8,3%.
- 147. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 13 138 4 | CONSIDERAÇÕES FINAIS Devido ao fato de possibilitar uma motivação com base em gamificação, o uso do Kahoot!foiadequadoparaaexperiência,jáquenãohouvenenhumamotivaçãoadicional para os alunos participarem das atividades envolvidas na intervenção descrita neste trabalho. Conforme verificado pelo QEU, a alta taxa de satisfação de 9,2 demonstra a necessidade de trabalhar conteúdos práticos no contexto dessa disciplina e de outras do curso. Com efeito, foi perceptível que a aplicação do simulador do microprocessador Z- 80 e a revisão de conteúdos associada à mesma foi relevante para a aprendizagem, tendo promovido uma maior assimilação nos acadêmicos acerca do conteúdo que havia sido previamente abordado. Como trabalhos futuros, parece ser positivo estender essa experiência para turmas maiores, ampliar o universo da pesquisa e vislumbrar a possibilidade de tornar a aplicação de simuladores como uma atividade fixa na disciplina. Planejar atividades semelhantes em outras disciplinas foi uma sugestão realizada ao corpo docente e núcleo docente estruturante do curso, dados os resultados obtidos deste trabalho. REFERÊNCIAS COSTA, R. A., et al. (2016), Projeto Pedagógico de Curso: Computação. Universidade Estadual da Paraíba. CYPRIANO, L. B. (1983), Multiprocessador Z80 Hardware. 1. ed. São Paulo: Livros Érica Editora. da ROCHA SEIXAS, L., GOMES, A. S., e de MELO FILHO, I. J. (2016). Effectiveness of gamification in the engagement of students. Computers in Human Behavior, 58:48– 63. DELLOS, R. (2015), “Kahoot! A digital game resource for learning”. In: International Journal of Instructional Technology and Distance Learning, 12(4), p. 49-52. DIAB, H B., DEMASHKIEH, I., (1991), A Computer-Aided Teaching Package for Microprocessor Systems Education. 5 p. FALAVIGNA, V. D. (2015), “Experiência do Usuário: Análise e Aplicação de Métodos de Avaliação”. Dissertação de Mestrado, Universidade de Caxias do Sul. GIL, A. C. (2011), Métodos e técnicas de pesquisa social. 5 ed. São Paulo: Atlas. MONTEIRO, R. (2012), Introdução à Organização de Computadores, 5. ed. Edição, LTC. MUDGE, T. N., BUZZARD, G. D, (1983), “Teaching Assembly Language Programming with ZIP, a Z80 Assembly Language Interpreter Program”. Univ Illinois, New England. STALLINGS, W. (2010), Arquitetura e Organização de Computadores. 8. ed. São Paulo: Pearson Pratice Hall. TRIVIÑOS, A. N. S. (1987), Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa qualitativa em educação. São Paulo: Atlas.
- 148. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 14 139 CRIAÇÃO DE INSTRUMENTO PARA AVALIAÇÃO DA ALFABETIZAÇÃO COMPUTACIONAL: VALIDAÇÃO COM O GRUPO FOCAL CAPÍTULO 14 doi Williane Rodrigues de Almeida Silva Universidade de São Paulo (USP), Programa de Pós-graduação em Sistemas de Informação (PPgSI) São Paulo – São Paulo Edmir Parada Vasques Prado Universidade de São Paulo (USP), Programa de Pós-graduação em Sistemas de Informação (PPgSI) São Paulo – São Paulo RESUMO: Este capítulo tem como objetivo criar um instrumento que avalie o nível de conhecimentos e habilidades relacionados à Alfabetização Computacional (AC). A carência de conhecimentos de AC prejudica o desempenho profissional e sua integração na sociedade digital. Conhecer o nível de conhecimento de AC possibilita identificar pontos de melhoria necessários na educação de informáticanoensinofundamentalemédio.Para o desenvolvimento desse instrumento o projeto partiu de quinze aspectos de conhecimentos de AC identificados na literatura. Com base nesses aspectos de conhecimentos e habilidades, foi possível criar o instrumento e validá-lo por meio de grupo focal. PALAVRAS-CHAVE: Alfabetização Computacional, Tecnologia da Informação, Inclusão Digital. ABSTRACT: This chapter aims to create an instrument an instrument that evaluates the level of knowledge and skills related to Computational Literacy (CL).The lack of knowledge at CLharms the professional performance and its integration in the digital society. Knowing the level of CL’s knowledge makes it possible to identify improving points needed in computer education in elementary and middle school education. For the development of this instrument the project started from fifteen aspects of CL’s knowledge, which were identified in the literature. Based on these aspects of knowledge and skills, it was possible to create the instrument and validate it through a focus group. KEYWORDS: Computational Literacy, Information Technology, Digital Inclusion. 1 | INTRODUÇÃO O mundo está se tornando cada vez mais caracterizado por uma comunicação orientada para a tecnologia, que o transformou em uma grande comunidade conectada globalmente com o alcance cada vez maior das tecnologias da informação e comunicação (TICs).AsTICs se referemàgamadetecnologiasquesãoaplicadas no processo de coleta, armazenamento, edição, recuperação e transferência de informações de várias formas (Danner e Pessu, 2013).
- 149. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 14 140 Em vista disso, o uso diário dos computadores e o acesso à internet é algo comum nos dias atuais. Empresas e órgãos governamentais de diversos países estão cada vez mais dependentes da TIC (Wang e Prado, 2015). Como consequência, o cidadão tem que usar os mais variados recursos disponibilizados pelas TICs, visando melhorar o seu desempenho pessoal e profissional (Coutinho e Lisbôa, 2011). Aprender conceitos relacionados a TIC, desenvolvendo habilidades e conhecimentos a respeito do uso de computadores tem se tornado importante na sociedade (Silva e Prado, 2017). Liao e Pope (2008) consideram que o conhecimento e as competências computacionais têm grande influência sobre uma nação, justificando que o impacto dos computadores na sociedade é amplo. Cutts, Esper e Simon (2011) enfatizam que muitos cursos no primeiro ano de graduação assumem que os alunos possuem habilidades em Alfabetização Computacional (AC) as quais serão utilizadas para escrever seus trabalhos, realizar apresentações,pesquisaresecomunicar.Comisso,todososestudantesdegraduação, independentemente da disciplina a ser cursada, devem ser tecnologicamente alfabetizados; além disso, devem ser capazes de usar computadores de forma eficaz e possuir uma compreensão rudimentar da teoria e prática (Hoar, 2014). AACéoacessoàinfraestruturamínimanoquedizrespeitoaousodecomputadores, englobando hardware e software, associado a um grau de conhecimento mínimo que os indivíduos devem ter em relação ao uso das TICs que tem sido destacado na literatura como uma condição essencial para a inclusão digital (Moura, 2010). Com isso, Filatro (2004) menciona que um processo de aquisição de habilidades básicas para o uso de computadores, redes e serviços de internet são ações da AC. A maioria das pesquisas e trabalhos a respeito da avaliação de conhecimentos e habilidades de AC é anterior a 2010. Isto porque, a AC evolui ao longo do tempo, acompanhando o progresso da tecnologia, a exemplo de: Willoughby (1983), Goldweber, Barr e Leska (1994), e Hoffman e Vance (2005). No entanto, a dimensão dos conhecimentos relacionados à definição da AC evolui ao longo do tempo, seguindo o avanço da tecnologia (Mason e Morrow, 2006). Dentro desse contexto, percebeu-se a necessidade de avaliar as dificuldades de indivíduos a respeito do conjunto de conhecimentos e habilidades mínimas da AC, especialmente em alunos ingressantes da graduação, visto que terão que usar esses conhecimentos e habilidades no decorrer do curso. Com isso, o objetivo deste capítulo é elaborar um instrumento para avaliar esse nível de conhecimentos e habilidades relacionados a AC de alunos ingressantes no ensino superior em universidade pública de São Paulo. A fim de documentar os procedimentos executados e os resultados obtidos na criação do instrumento de AC, este capítulo está organizado da seguinte forma: na seção 2 menciona-se os métodos utilizados na elaboração e validação do instrumento; na seção 3 apresenta-se as características da aplicação do grupo focal; na seção 4 os resultados do grupo focal e a análise por instrumento são discutidos; e finalmente,
- 150. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 14 141 na seção 5 as conclusões são apresentadas seguidas das referências bibliográficas. 2 | MÉTODOS Esta seção descreve as etapas utilizadas para atingir o objetivo do trabalho. No desenvolvimento inicial desta pesquisa foram definidos os seguintes objetivos específicos:(i)identificaredescreverinstrumentosqueavaliamoníveldeconhecimentos e habilidades da AC, e o conteúdo e a forma de avaliação desses instrumentos, a partir de uma revisão da literatura (2.1); (ii) elaborar um instrumento que avalie a AC de alunos ingressantes do ensino superior (2.2); e (iii) validar o instrumento junto à comunidade discente de uma universidade pública de São Paulo (2.3). 2.1 Revisão da literatura A revisão da literatura utilizada foi a sistemática. Segundo Kitchenham (2007), a Revisão Sistemática da Literatura (RSL) se destina a identificar, avaliar e interpretar as pesquisas disponíveis realizadas a um tema específico. Para a realização da RSL utilizada neste trabalho, foi necessário criar uma versão mais elaborada da RSL descrita por Silva e Prado (2017), dispondo de 528 estudos presentes em duas bases distintas (Scopus e ERIC), a partir dos quais foram analisados os recursos e os instrumentos utilizados para medir a AC de indivíduos. Dentre os estudos analisados, foram selecionados 32 artigos, os quais antederam aos critérios especificados na RSL. Dentro da RSL, dos instrumentos existentes na literatura utilizados para avaliar a AC, é notório que em sua grande maioria a forma mais utilizada para fazer essa medição é por meio de questionários (online ou impresso), a exemplo de: Heerwegh, Wit e Verhoeven (2016); Ncube et al. (2016); Top e Yilmaz (2015); e Alavi, Borzabadi e Dashtestani (2016). Com os resultados desse estudo sistemático foi possível nortear o direcionamento desta pesquisa. A partir dos artigos encontrados percebeu-se a importância da elaboração de um instrumento que pudesse avaliar a AC a partir do uso efetivo dos recursos por parte dos alunos ingressantes em cursos de graduação. Isto porque, utilizando questionários os indivíduos apenas relatam o seu conhecimento o que torna difícil constatar a veracidade de suas respostas. 2.2 Implementação do instrumento A elaboração do instrumento deu-se da seguinte forma: (i) tomou-se como base os aspectos levantados por Wang e Prado (2015); (ii) foram elaborados instrumentos por alunos de graduação em Sistemas de Informação (SI) de uma universidade pública por meio de uma atividade proposta a eles, os quais serviram de insights para a elaboração do instrumento; e (iii) elaboração da primeira versão do instrumento (2.3). No trabalho de Wang e Prado (2015) coletou-se ações correspondentes e dimensões da AC que foram validadas por especialistas com atuação em empresas,
- 151. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 14 142 escolas técnicas e por instrutor de informática. Os autores mencionam sete dimensões consideradas como relevantes: (i) comunicação; (ii) aplicativos; (iii) internet; (iv) dispositivos; (v) limites; (vi) riscos; e (vii) outros. A partir dessas sete dimensões, os autores fizeram a decomposição dos aspectos, os quais são considerados importantes para que indivíduos sejam incluídos na sociedade digital, são eles: (i) e-mail; (ii) mensagem instantânea; (iii) editor de texto; (iv) planilhas eletrônicas; (v) ferramenta de busca; (vi) critérios de busca; (vii) Sistema Operacional; (viii) ética; (ix) vírus; (x) segurança; (xi) privacidade; (xii) boas práticas; (xiii) arquivos PDF; (xiv) protocolos; e (xv) apresentação. Na fase de elaboração de instrumentos por alunos de graduação em SI, as sete dimensões e os quinze aspectos foram apresentados aos alunos, dividindo- os em quinze grupos, cada um com aproximadamente quatro membros, os quais elaboraram os instrumentos. Dentre os instrumentos elaborados foram utilizados os seguintes recursos: (i) programa baseado em Java com um banco de dados MySQL, disposto de questões de múltipla escolha; (ii) questionários online; (iii) questionário com simulações genéricas, aplicados pela plataforma SurveyMonkey; (iv) Quiz em Android; (v) roteiros; e (vi) questões de múltipla escolha seguida de avaliação prática. Os trabalhos foram conduzidos no primeiro semestre de 2017 e os resultados serviram como contribuição de insights para a elaboração da primeira versão do instrumento proposto nesta pesquisa de mestrado. A partir dos insights atribuídos dos alunos da graduação em SI, iniciou-se a primeira versão do instrumento. Dos quinze aspectos mencionados anteriormente, cinco deles foram considerados como sendo pouco relevantes para avaliar a AC de indivíduos, uma vez que nenhuma das três unidades (empresa, escola técnica e instrutor de informática) atribuíram relevância destacada a estes: “privacidade”, “boas práticas”, “arquivos PDF”, “protocolos” e “apresentação”. Com isso, na elaboração do instrumento esses cinco aspectos com baixa relevância não foram considerados, ficando os dez mais relevantes. O instrumento de AC foi composto inicialmente por nove testes específicos: (i) editor de texto; (ii) planilhas eletrônicas; (iii) mensagem instantânea; (iv) e-mail; (v) ferramenta e critérios de busca: foi possível unir esses dois aspectos (ferramenta de busca e critério de busca), uma vez que critérios de busca estão dentro de ferramentas de busca; (vi) Sistema Operacional; (vii) ética; (viii) segurança; e (ix) vírus. Cada teste é composto por quatro partes: (i) Parte 1: descrição do instrumento, requisitos e procedimentos do aplicador; (ii) Parte 2: especificação do ambiente; (iii) Parte 3: atividade; e (iv) Parte 4: ficha e critérios de avaliação. As partes 1, 2 e 4, são de uso do aplicador; a parte 3 é de uso do candidato, é nessa parte que contém as atividades, essas atividades são compostas de passos a serem realizados de forma efetiva.
- 152. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 14 143 2.3 Validação do instrumento Para realizar a validação, o instrumento foi aplicado a alunos de pós-graduação em Sistemas de Informação por meio da técnica de grupo focal. Aplicou-se a esse público por serem alunos da área de SI e por conhecerem a Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), bem como suas aplicações, limitações, e por portarem o conhecimento mínimo que se deve ter para estar inserido digitalmente na sociedade. A técnica de grupo focal é aplicada com finalidades diversas, em contextos múltiplos e para análise de diversas questões na dependência do problema que cada pesquisador propõe. Além de consistir no elemento central de uma investigação, é útil em outras condições, podendo ser usada em estudos exploratórios, ou nas fases preliminares de uma pesquisa, apoiando a construção de outros instrumentos, a exemplo de questionários, roteiros de entrevista ou observação; para fundamentar hipóteses ou a verificação de tendências; para testar ideias, planos, materiais, propostas (Gatti, 2005). Segundo Gatti (2005), o número de participantes de cada grupo focal não pode ser grande, mas também não pode ser excessivamente pequeno, ficando sua dimensão preferencialmente entre cinco a doze participantes. A quantidade de participantes deve ser escolhida de acordo com a dimensão do trabalho, pois grupos com grandes quantidades podem limitar a participação, as oportunidades de trocas de ideias, o aprofundamento do tratamento do tema e, também, os registros por parte do moderador. Foram selecionados dez alunos de pós-graduação em Sistemas de Informação, os quais foram divididos em dois grupos focais, cada um com cinco participantes. Os dois grupos tiveram reuniões em locais e dias distintos. A interação de ambos os grupos foi gravada com o consentimento de todos, onde foi possível assinar um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo. 3 | APLICAÇÃO DO GRUPO FOCAL A aplicação foi feita em dois grupos distintos no primeiro semestre de 2018. O primeiro foi realizado na Universidade de São Paulo, campus Butantã, e o segundo na Universidade de São Paulo, campus Leste. Os participantes eram alunos de pós-graduação stricto sensu em Sistemas de Informação e no quadro 1 tem-se um resumo da formação e atuação profissional de cada um deles. Cada grupo teve cinco participantes. A seguir estão descritas, para cada grupo, a interação entre eles e a forma de aplicação.
- 153. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 14 144 Quadro 1. Formação e atuação profissional dos participantes 3.1 Primeiro grupo A aplicação durou três horas e apresentou as seguintes características: • Interação entre os participantes. A aplicação demandou bastante tempo devido à grande interação entre os participantes, que discutiram em pro- fundidade cada um dos instrumentos. Os participantes desse grupo tiveram uma quantidade de contribuições maior que o segundo grupo. • Forma de aplicação. O instrumento foi aplicado de forma sequencial se- guindo a ordem dos testes, a saber: editor de texto, e-mail, mensagem ins- tantânea, planilha eletrônica, sistema operacional, ferramenta de busca, se- gurança, vírus e ética. • 3.2 Segundo grupo A aplicação durou duas horas e apresentou as seguintes características: • Interação entre os participantes. Neste grupo os instrumentos foram dis- cutidos em ordem inversa ao do primeiro grupo para que a sequência de apresentação não ficasse viciada. A duração da reunião foi menor, pois a interação entre os participantes foi mais objetiva. A quantidade de contribui- ção foi menor do que o primeiro grupo. • Forma de aplicação. O instrumento foi aplicado de forma inversa, a saber: ética, vírus, segurança, ferramenta de busca, sistema operacional, planilha eletrônica, mensagem instantânea, e-mail e editor de texto. Como a quanti- dade de contribuições diminui conforme o tempo em que a reunião avança, a aplicação em ordem inversa permitiu compensar os resultados do primeiro grupo. 4 | RESULTADOS E DISCUSSÃO Em cada grupo focal os instrumentos foram entregues de forma impressa a cada um dos participantes, para que eles pudessem analisar item a item e posteriormente
- 154. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 14 145 iniciar a discussão sobre cada teste de forma individual, mediada pelo moderador do grupo, para que os integrantes não fugissem do tema no momento da troca de informação entre eles. Nesse momento, os participantes tiveram a oportunidade de mencionar sobre o que eles estavam de acordo ou não, pontos positivos, pontos negativos, o que deveria ser removido, discutindo entre eles e mostrando se estava de acordo com a opinião do outro. Ao final da interação do último teste apresentado aos grupos, o moderador fez o fechamento da reunião, fazendo um comentário geral e agradeceu a participação voluntária de todos. Após cada reunião, realizou-se as seguintes atividades: (i) escuta das gravações; (ii) transcrição do conteúdo gravado: essa fase demandou bastante tempo, uma vez que fazer transcrição de grupos não é tão simples, pois requer uma atenção maior para não perder informações; (iii) leitura dos registros; (iv) e análise. A partir dos registros e dados transcritos realizou-se a criação de tabelas para melhor compreensão dos resultados. Para realizar a análise dos resultados das transcrições foi necessário utilizar a técnica de análise de conteúdo (Moraes, 1999; Bardin, 2006); em seguida realizaram-se as modificações dos testes de acordo com o conteúdo debatido e extraído da análise de conteúdo, elaborando assim a versão final do instrumento de AC e a análise dos dados. 4.1 Resultado do grupo focal De acordo com as discussões atribuídas dos grupos focais tem-se o resultado obtido para cada teste. Esse resultado encontra-se no quadro 2. GF1 GF2 GF1 GF2 GF1 GF2 GF1 GF2 GF1 GF2 GF1 GF2 GF1 GF2 GF1 GF2 GF1 GF2 Cabeçalho 2 1 1 Descrição 4 1 5 Aplicador 3 1 Texto 14 7 8 5 5 1 1 5 5 7 2 1 10 1 Especificação 10 5 1 13 8 2 1 1 6 3 1 2 1 5 Configuração 2 10 1 1 1 1 2 3 2 3 Etapas do teste 16 3 16 4 6 14 3 11 6 14 3 12 4 6 4 15 9 Avaliação 12 2 2 2 1 1 2 4 4 6 1 Pontuação 1 2 1 3 Formatação 1 Requisitos mínimos 3 Instruções 6 1 2 1 Não considerou válido 2 5 1 5 3 4 T otal de sugestões 64 16 42 13 24 9 23 8 13 19 27 18 28 12 12 11 29 31 ST 6 ST 7 ST 8 ST 9 T ipos de sugestão ST 1 ST 2 ST 3 ST 4 ST 5 Quadro 2. Quantidade de sugestões por grupo focal Legenda: SI1 - Sugestão do Teste 1; GF1 - Grupo Focal 1. 4.2 Análise dos testes do instrumento Para realizar a categorização por teste (Quadro 2), utilizou-se a análise semântica (textual), a qual faz parte da análise de conteúdo (Bardin, 2006). Essa categorização dos tipos de sugestões apresentados no Quadro 2 foi extraída a partir das contribuições
- 155. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 14 146 dos participantes dos dois grupos focais: (i) Cabeçalho: refere-se a alteração da forma em que o cabeçalho está apresentado; (ii) Descrição: refere-se a descrição do instrumento; (iii) Aplicador: refere-se ao perfil e ações que o aplicador deve tomar no momento em que estiver aplicando o instrumento; (iv) Texto: refere-se as alterações feitas no texto, considerando cada teste como um todo; (v) Especificação: refere-se a especificação técnica (ferramentas a serem utilizadas); (vi) Configuração: refere- se a como o ambiente deve ser preparado; (vii) Etapas da atividade: refere-se aos passos que os candidatos realizarão; (viii) Avaliação: refere-se a ficha de avaliação; (ix) Pontuação: refere-se a pontuação atribuída aos candidatos após a realização da atividade; (x) Formatação: refere-se aos passos na atividade que aborda formatação; (xi) Requisitos mínimos: refere-se aos equipamentos utilizados para aplicar o teste; (xii) Instruções: refere-se as instruções atribuídas aos candidatos; e, (xiii) Não considerou válido: refere-se ao grupo não considerar que o instrumento é aplicável. Teste 1 (editor de texto): as sugestões atribuídas a esse teste diz respeito aos seguintes pontos: (i) Cabeçalho: dois participantes do grupo focal 1 (Participante 1 (P1) e Participante 2 (P2)) sugeriu mudanças, tendo um total de duas alterações; (ii) Descrição: quatro participantes do grupo focal 1 (P1 a P4) e um do grupo focal 2 (P3) sugeriu mudanças, tendo um total de cinco alterações; (iii) Aplicador: três participantes do grupo focal 1 (P1, P2 e P4) e um do grupo focal 2 (P3) sugeriu mudanças, tendo um total de quatro alterações; (iv) Texto: cinco participantes do grupo focal 1 (P1 a P5) e quatro do grupo focal 2 (P1 e P3 a P5) sugeriu mudanças, tendo um total de 21 alterações; (v) Especificação: quatro participantes do grupo focal 1 (P1 a P4) sugeriu mudanças, tendo um total de 10 alterações; (vi) Configuração: dois participantes do grupo focal 1 (P4 e P5) sugeriu mudanças, tendo um total de duas alterações; (vii) Etapas do texto: quatro participantes do grupo focal 1 (P1, P2, P4 e P5) e dois do grupo focal 2 (P1 e P3) sugeriu mudanças, tendo um total de 19 alterações; (viii) Avaliação: cinco participantes do grupo focal 1 (P1 a P5) e dois do grupo focal 2 (P3 e P4) sugeriu mudanças, tendo um total de 14 alterações; e, (ix) Pontuação: um participante do grupo focal 1 (P1) e dois do grupo focal 2 (P1 e P3) sugeriu mudanças, tendo um total de três alterações. Teste 2 (e-mail): as sugestões atribuídas a esse teste diz respeito aos seguintes pontos: (i) Texto: quatro participantes do grupo focal 1 (P1 a P4) e quatro do grupo focal 2 (P2 a P5) sugeriu mudanças, tendo um total de 13 alterações; (ii) Especificação: três participantes do grupo focal 1 (P1 a P3) e um do grupo focal 2 (P1) sugeriu mudanças, tendo um total de seis alterações; (iii) Configuração: cinco participantes do grupo focal 1 (P1 a P5) e um do grupo focal 2 (P4) sugeriu mudanças, tendo um total de 11 alterações; (iv) Etapas do teste: cinco participantes do grupo focal 1 (P1 a P5) e quatro do grupo focal 2 (P1 a P4) sugeriu mudanças, tendo um total de 20 alterações; (v) Avaliação: dois participantes do grupo focal 1 (P1 e P3) e dois do grupo focal 2 (P3 e P4) sugeriu mudanças, tendo um total de quatro alterações; e, (vi) Formatação: um participante do grupo focal 1 (P5) sugeriu mudanças, tendo um total de uma alteração.
- 156. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 14 147 Teste 3 (mensagem instantânea): as sugestões atribuídas a esse teste diz respeito aos seguintes pontos: (i) Especificação: cinco participantes do grupo focal 1 (P1 a P5) e quatro do grupo focal 2 (P1 a P4) sugeriu mudanças, tendo um total de 21 alterações; (ii) Configuração: um participante do grupo focal 1 (P4) sugeriu mudanças, tendo um total de uma alteração; (iii) Etapas do teste: quatro participantes do grupo focal 1 (P1, P2, P4 e P5) sugeriu mudanças, tendo um total de seis alterações; (iv) Avaliação: um participante do grupo focal 1 (P3) e um do grupo focal 2 (P5) sugeriu mudanças, tendo um total de duas alterações; e, (v) Requisitos mínimos: três participantes do grupo focal 1 (P2 a P4) sugeriu mudanças, tendo um total de três alterações. Teste 4 (planilha eletrônica): as sugestões atribuídas a esse teste diz respeito aos seguintes pontos: (i) Texto: quatro participantes do grupo focal 1 (P1 a P4) e um do grupo focal 2 (P1) sugeriu mudanças, tendo um total de seis alterações; (ii) Especificação: dois participantes do grupo focal 1 (P1 e P2) sugeriu mudanças, tendo um total de duas alterações; (iii) Etapas do teste: cinco participantes do grupo focal 1 (P1 a P5) e três do grupo focal 2 (P1, P4 e P5) sugeriu mudanças, tendo um total de 17 alterações; e, (iv) Avaliação: dois participantes do grupo focal 1 (P3 e P5) e quatro do grupo focal 2 (P1 e P3 a P5) sugeriu mudanças, tendo um total de seis alterações. Teste 5 (sistema operacional): as sugestões atribuídas a esse teste diz respeito aos seguintes pontos: (i) Texto: um participante do grupo focal 2 (P5) sugeriu mudanças, tendo um total de uma alteração; (ii) Especificação: um participante do grupo focal 1 (P2) e um do grupo focal 2 (P4) sugeriu mudanças, tendo um total de duas alterações; (iii) Etapas do teste: cinco participantes do grupo focal 1 (P1 a P5) e três do grupo focal 2 (P1, P4 e P5) sugeriu mudanças, tendo um total de 17 alterações; (iv) Avaliação: quatro participantes do grupo focal 2 (P1 e P3 a P5) sugeriu mudanças, tendo um total de quatro alterações; e, (v) Instruções: cinco participantes do grupo focal 2 (P1 a P5) sugeriu mudanças, tendo um total de seis alterações. Teste 6 (ferramenta de busca): as sugestões atribuídas a esse teste diz respeito aos seguintes pontos: (i) Texto: três participantes do grupo focal 1 (P1, P2 e P4) e cinco do grupo focal 2 (P1 a P5) sugeriu mudanças, tendo um total de 10 alterações; (ii) Especificação: quatro participantes do grupo focal 1 (P1 a P4) e três do grupo focal 2 (P1, P3 e P5) sugeriu mudanças, tendo um total de nove alterações; (iii) Etapas do teste: cinco participantes do grupo focal 1 (P1 a P5) e dois do grupo focal 2 (P1 e P3) sugeriu mudanças, tendo um total de 17 alterações; (iv) Avaliação: cinco participantes do grupo focal 2 (P1 a P5) sugeriu mudanças, tendo um total de seis alterações; e, (v) Instruções: um participante do grupo focal 2 (P2) sugeriu mudanças, tendo um total de uma alteração. Testes 7 (segurança), 8 (vírus) e 9 (ética): apesar dos grupos focais terem sugeridos mudanças em diversos pontos desses três testes, é perceptível que em ambos os casos não foi considerado como sendo testes válidos para avaliar a Alfabetização Computacional (AC) de indivíduos, principalmente quando se refere a ingressantes da graduação de cursos que não estão voltados a TIC. Durante a
- 157. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 14 148 discussão, foi enfatizado que, nem mesmo estudantes de cursos relacionados a área de tecnologia, não estão tão aptos a tratar de assuntos relacionados a “segurança”, “vírus” e “ética digital”. Com isso, neste capítulo, tomando como base os aspectos extraídos por Wang e Prado (2015) considerados como mais relevantes para avaliar a AC de indivíduos, tem-se como instrumento, a validade de seis testes dos nove que foram aplicados aos grupos focais, os quais estão disponíveis para consulta nos seguintes links: Editor de Texto; E-mail; Mensagem Instantânea; Planilha Eletrônica; Sistema Operacional; e, Ferramenta de Busca. 5 | CONCLUSÕES Esse capítulo apresentou um instrumento composto por nove testes para avaliar a Alfabetização Computacional (AC) de indivíduos que estão ingressando na graduação, em cursos que não são relacionados a TIC, esse instrumento foi desenvolvido no projeto de mestrado o qual se encontra na fase de conclusão. De acordo com os resultados do estudo sistemático foi possível nortear o direcionamento deste capítulo. A partir dos trabalhos encontrados, foi perceptível a importância da elaboração de um instrumento que pudesse medir a partir do uso efetivo dos recursos por parte dos alunos ingressantes em cursos de graduação, visto que utilizando questionários os indivíduos relatam apenas o seu conhecimento para constatar a veracidade de suas respostas, e não dá para se aferir a realidade a partir do que estão falando, pois estão relatando sem provar nada, o que pode ter imperfeições. A aplicação do instrumento de AC elaborado é mais confiável do que os instrumentos apresentados na literatura, por não ser baseado em opiniões, e sim no quanto eles sabem do que está sendo aplicado, procurando medir com mais precisão os conhecimentos e habilidades mínimas de indivíduos com relação a AC. Por fim, tem-se como trabalhos futuros, a aplicação do instrumento em alunos ingressantes de cursos que não são relacionados a TI, tendo o objetivo de analisar como anda o conhecimento mínimo desses alunos com relação a AC, visto que são aspectos com os quais eles irão trabalhar no decorrer da graduação. REFERÊNCIAS ALAVI, S. M.; BORZABADI, D.; DASHTESTANI, R. Computer Literacy in Learning Academic English: Iranian Eap Students’and Instructors’Attitudes and Perspectives. Teaching English with Technology, v. 16, n. 4, p. 56–77, 2016. BARDIN, L. Análise de conteúdo (L. de A. Rego and A. Pinheiro, Trads.). Lisboa: Edições 70. (Obra original publicada em 1977), 2006. COUTINHO, C. P.; LISBÔA, E. S. Sociedade da informação, do conhecimento e da aprendizagem: desafios para educação no século XXI. Revista de Educação, v. 18, n. 1, p. 5–22,
- 158. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 14 149 2011. CUTTS, Q.; ESPER, S.; SIMON, B. Computing as the 4th r: a general education approach to computing education. In: Proceedings of the seventh international workshop on Computing education research, p. 133–138, ACM, 2011. DANNER, R.; PESSU, C. A survey of ICT competencies among students in teacher preparation programmes at the university of Benin, Benin city, Nigeria. Journal of Information Technology Education: Research, Informing Science Institute, v. 12, n. 1, p. 33–49, 2013. FILATRO, A.; PICONEZ, S. C. B. Design instrucional contextualizado-educação et. Senac, 2004. GATTI, B. A. Grupo focal na pesquisa em ciências sociais e humanas. In: Série pesquisa em educação. Líber Livro, 2005. GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 2007. GOLDWEBER, M.; BARR, J.; LESKA, C. A new perspective on teaching computer literacy. In: ACM SIGCSE Bulletin, v. 26, n. 1, p. 131–135, ACM, 1994. HEERWEGH, D.; WIT, K. D.; VERHOEVEN, J. C. Exploring the self-reported ICT skill levels of undergraduate science students. Journal of Information Technology Education, v. 15, 2016. HOAR, R. Generally educated in the 21st century: The importance of computer literacy in an undergraduate curriculum. In: Proceedings of the Western Canadian Conference on Computing Education, p. 6, ACM, 2014. HOFFMAN, M. E.; VANCE, D. R. Computer literacy: what students know and from whom they learned it. In: ACM SIGCSE Bulletin, v. 37, n. 1, p. 356–360, ACM, 2005. KITCHENHAM, B. A. Guidelines for performing Systematic Literature Reviews in Software Engineering. 2007. LIAO, L.; POPE, J. W. Computer literacy for everyone. Journal of Computing Sciences in Colleges, v. 23, n. 6, p. 231–238, 2008. MASON, J.; MORROW, R. M. YACLD: yet another computer literacy definition. Journal of Computing Sciences in Colleges, v. 21, n. 5, p. 94–100, 2006. MORAES, R. Análise de conteúdo. Revista Educação, v. 22, n. 37, p. 7-32, 1999. MOURA, E. M. S. Inclusão, alfabetização e fluência digital. Trabalho de conclusão de especialização (Pós-Graduação em Mídias na Educação) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2010. NCUBE, L. S. et al. Cyberbullying a desecration of information ethics: Perceptions of post-high school youth in a rural community. Journal of Information, Communication and Ethics in Society, v. 14, n. 4, p. 313–322, 2016. SILVA, W. R. A.; PRADO, E. Avaliação do Nível de Alfabetização Computacional de Indivíduos:
- 159. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 14 150 Uma Revisão Sistemática da Literatura. In: Anais do Workshop de Informática na Escola. 2017. p. 1003. TOP, M.; YILMAZ, A. Computer anxiety in nursing: an investigation from Turkish nurses. Journal of medical systems, v. 39, n. 1, p. 163, 2015. WANG, M. A.; PRADO, E. P. V. Critérios para avaliação da alfabetização computacional. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo. 2015. WILLOUGHBY, T. C. Exposure, knowledge or skill the computer literacy dilemma. In: The Proceedings of the Twentieth Annual Computer Personnel on Research Conference. p. 75–78. ACM, 1983.
- 160. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 15 151 DO CORAÇÃO DA TERRA: MANUFATURA DE TINTAS ARTESANAIS COM TERRAS JUAZEIRENSES CAPÍTULO 15 doi Ana Emidia Sousa Rocha Secretaria de Educação do Estado da Bahia Luiz Maurício Barretto Alfaya Colegiado de Artes Visuais da Universidade Federal do Vale do São Francisco RESUMO: Este texto é resultado do trabalho de conclusão de curso realizado na Licenciatura em Artes Visuais da Universidade Federal do ValedoSãoFrancisco(UNVASF).Comoobjetivo de manufaturar tintas artesanais a partir de pigmentos minerais obtidos de terra, o trabalho baseia-se nos estudos de Nunes (2013) e do IBGE (2007) sobre solos ; Francisco e Francisco Jr (2012), Milanez (.2003) e Mello e Suarez (2012) sobre pigmentos minerais ; Gombrich (2012) e Osinski (2002) sobre o uso de tintas artesanais; Gordilho et al (2012) e Smith (2012) sobre produção de tintas artesanais. A pesquisa resultou na produção de sete tipos de tintas a partir de sete pigmentos diferentes produzidos a partir do solo juazeirense. As tintas foram testadas e avaliadas para uso expressivo. PALAVRAS-CHAVE: Pigmentos de terra; Tintas artesanais; Manufaura de tintas. 1 | INTRODUÇÃO Aparentemente a cor encanta o ser humano desde o alvorecer da humanidade, isso é perceptível a partir da observação do esforço efetuado pelos primeiros pintores das cavernas e dos abrigos ainda na Pré-história: as cores eram rudimentarmente retiradas de rochas para colorir paredes de pedra; assim nasceram os primeiros pigmentos, misturados a um material orgânico (sangue, gordura, urina?), cujos vestígios nem existem mais, e a água (GOMBRICH, 2012, p. 40-42). Com a descoberta do primeiro pigmento, aglutinante e solvente surgiu a primeira tinta e o primeiro artista (aquele que executa uma técnica, mas também aquele que cria imagens e aquele que trabalha para satisfazer os desejos da sociedade (GOMBICH, 2012, p. 43, 44 e 50; OSINSKI, 2002, p. 11)). Os primeiros a pensarem, produzirem e utilizarem as tintas foram também os primeiros a ensinarem como fazê-lo. Os processos precisaram ser repassados para não serem perdidos. De procedimentos simples e rudimentares chegou-se a industrialização das tintas, entre os dois extremos milhares de anos melhorando a técnica e criando outras: novos materiais e procedimentos; invenção de instrumentos e de suportes. Dispomos atualmente de uma imensa gama de tintas, pincéis, materiais auxiliares, papéis, telas. Mas
- 161. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 15 152 também é possível comprar os ingredientes e preparar a tinta artesanalmente. Há muito conhecimento acumulado sobre o assunto. A docência experienciada em escolas públicas em diferentes municípios me fez perceber que existe uma limitação dos recursos didáticos, sobretudo de materiais expressivos, que restringe as possibilidades de experimentação e produção dos educandos. Neste trabalho defendo que com materiais simples, do cotidiano, sem grandes custos ou demandas estruturais é possível manufaturar tintas na escola, demonstrando, dentre outros aspectos positivos, como foi possível aos mestres do passado fazê-lo. Durante a revisão de literatura encontrei quatro trabalhos de conclusão de curso que trataram da produção e uso de materiais expressivos alternativos na escola, todos realizados por graduandos da Licenciatura em Artes Visuais da Universidade de Brasília (UNB). Destes, um tratou especificamente de materiais para xilogravura e os demais para pintura. Todos eles adotaram um viés educativo do uso destes materiais, mas tiveram como uma das preocupações centrais de seus trabalhos a produção do material e a utilização de matéria-prima local: café, óleo de copaíba, ovo, óleo residual de fritura. Cada um encontrou o material que poderia ser mais acessível na região onde a experiência se realizou. Considerando que pigmentos minerais são utilizados na produção de tintas desde a Pré-história, que o solo é um material suficientemente acessível e rico em diversidade de cores, a terra da cidade de Juazeiro foi eleita como fonte de pigmentos na pesquisa. A ideia de utilizar terra para a preparação de pigmentos surgiu durante a disciplina Gravura III, na qual desenvolvi, sob a orientação do professor Maurício Alfaya, o projeto Tinta artesanal para xilogravura: desenvolvimento de tinta para xilogravura com materiais naturais coletados em Juazeiro, Bahia, cujo objetivo foi a manufatura de tintas para xilogravura com pigmentos obtidos da terra coletada na margem baiana do São Francisco. Este texto é fruto do trabalho de conclusão do curso de Licenciatura em Artes Visuais do Colegiado de Artes Visuais da Universidade Federal do Vale do São Francisco (CARTES/UNIVASF), realizado no segundo semestre de 2014 e defendido em fevereiro de 2015. A pesquisa teve como objetivo a manufatura de tintas artesanais a partir de pigmentos minerais obtidos do solo juazeirense. Paralelemente, objetivou-se também identificar outros recursos naturais com possibilidade de utilização na produção artesanal de tintas; investigar processos de produção artesanal de tinta para pintura; analisar o desempenho das tintas no desenvolvimento expressivo em pintura e sua possibilidade de aplicação didática.
- 162. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 15 153 2 | METODOLOGIA A estratégia metodológica utilizada neste trabalho fundamenta-se no conceito de investigação em arte, onde os pressupostos de uma pesquisa-ação, que inclui planejamento, ação, observação e reflexão, foram as ferramentas determinantes ao seu desenvolvimento. O trabalho foi desenvolvido com base na ideia da manufatura: uma parte teórica e outra prática. Segundo o dicionário Michaelis, manufatura é: “1 Trabalho executado a mão. 2 Obra feita a mão. 3 Processo ou trabalho de fazer artigos ou quaisquer produtos a mão ou com maquinaria; especialmente quando prosseguido sistematicamente e com divisão do trabalho; fabricação”. Assim, a parte prática da pesquisa procedeu- se de maneira que os produtos (pigmentos e tintas) foram executados a mão, artesanalmente, constituindo-se numa manufatura. Trata-se de uma pesquisa experimental no tocante aos procedimentos aplicados na investigação: levantamento e teste do desempenho dos pigmentos obtidos na manufatura de tintas artesanais. Para realizá-la foi utilizada uma metodologia que garantisse a observação dos aspectos: técnico, didático e artístico-expressivo da manufatura de tintas com pigmentos inorgânicos locais (aqui tratamos apenas do primeiro), incluindo estudo bibliográfico, coleta de dados e análise dos dados obtidos. Num primeiro momento foi realizada uma busca no portal Scientific Electronic Library Online (SCIELO) (http://www.scielo.com/), utilizando as palavras-chave: “Produção de tintas artesanais”; “pigmentos de terra”; e “manufatura de materiais expressivos”, mas não obtive nenhum resultado. Para a palavra-chave “Pigmentos inorgânicos” encontrei somente um resultado: o trabalho de Kênia Milanez, Caracterização de pigmentos inorgânicos à base de Fe, Zn e Cr utilizando resíduos de galvanoplastia como matéria-prima, de 2005. A partir do artigo encontrei a dissertação da autora que utilizo como referência neste trabalho. Realizei também uma busca no Google Acadêmico (http://scholar.google.com. br/) com as mesmas palavras-chave citadas anteriormente e encontrei a maioria dos trabalhos virtuais que utilizei, a exemplo dos textos de Gordilho et al (2012), Francisco e Francisco Jr. (2012) e de Mello e Suarez (2012) sobre uso e história dos pigmentos e tintas. A biblioteca da UNIVASF, no Câmpus Juazeiro, também foi bastante utilizada, nela encontrei os textos de Hauser (1998) e Osinski (2012) que tratam da história da arte, nas perspectivas social e educativa; de Pedrosa (2010) sobre a cor; de Lepsch (2002) e Nunes (2013) sobre o solo. Observa-se a partir dessa busca inicial que poucos trabalhos sobre manufatura de tintas a partir de materiais minerais são disponibilizados seja em meio virtual ou físico na biblioteca. A coleta de dados empíricos foi desenvolvida nas seguintes etapas: coleta de amostras de solo; classificação e mapeamento dos pigmentos; experimentação
- 163. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 15 154 dos pigmentos na manufatura de tintas com diferentes métodos de produção; experimentação da capacidade de uso didático dos produtos; experimentação da capacidade expressiva das tintas em trabalhos artísticos. Os instrumentos de coleta de dados utilizados durante essas etapas foram: 1- Tabela de classificação dos pigmentos: Serviu para a apreensão e registro de dados sobre a qualidade dos pigmentos coletados e seu comportamento na composição das tintas. 2- Oficina: Através da interação com os participantes, permitiu a obtenção de dados sobre a adequação dos materiais na confecção de tintas artesanais e da acessibilidade dos métodos de manufatura de tintas. 3- Experimentação dos pigmentos na produção de tintas artesanais a partir de modos de preparo pesquisados e/ou desenvolvidos para saber em que tipos de tinta cada pigmento pode ser empregado, pois os pigmentos adequam-se melhor a este ou aquele tipo de tinta. Por exemplo, o Terra de Siena pode ser usado em qualquer tinta, o Terra Verde em tinta a óleo e aquarela (SMITH, 2012, p.26-9). 4- Diário virtual: As etapas da pesquisa foram registradas gráfica e visualmente em um blog (http://coreseterras.blogspot.com.br/). 3 | RESULTADOS E DISCUSSÃO Sendo utilizada desde a pré-história, tinta é um material que sofreu diferentes mudanças ao longo da história humana. As tintas utilizadas atualmente são resultado da industrialização moderna, das descobertas de novas substâncias e do surgimento de outros meios de produção. Uma definição muito recente de tinta é apresentada por Francisco e Francisco Jr. (2012): “A tinta é uma mistura de vários insumos que juntos passam por um processo de cura [...], formando assim um filme opaco e aderente” (p. 41). Sendo utilizadas para embelezar peças e ambientes, proteger superfícies ou na criação artística, os elementos que compõem a tinta atualmente são: resinas ou veículos; solvente; pigmentos; e alguns outros aditivos empregados de acordo com a necessidade que a utilização das tintas exigir. Entendendo um pouco mais sobre a composição básica da tinta, posso dizer, citando Francisco e Francisco Jr (2012, p. 41), que o pigmento é um particulado sólido, orgânico ou inorgânico, natural ou sintético, insolúvel no substrato no qual será incorporado, ele não pode reagir quimicamente com o material em que será disperso. A característica primordial dos pigmentos é dar cor a um objeto ou parte dele, tornando-o atrativo ao ser humano. A Parte líquida da tinta é composta pelo solvente e a resina. O solvente é um
- 164. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 15 155 líquido volátil utilizado para solver a resina, sendo imprescindível sua compatibilidade com o tipo de resina e com o pigmento para que o processo aconteça corretamente. A resina ou veículo, por sua vez, é um líquido não volátil cuja função é aglomerar as partículas do pigmento, por isso também é chamado de aglutinante; é ele que dá brilho, aderência e resistência às tintas. Desnecessário dizer que os três componentes são importantes para a produção de tintas, porém, na tinta expressiva o pigmento é de extrema relevância, pois é ele que dá cor. Nas experimentações aqui relatadas, o pigmento obteve-se a partir de terra; o diluente foi sempre água, pois que buscamos obter tintas não tóxicas e sem fortes cheiros; e como aglutinantes, foram utilizados diversos materiais, tais como: gelatina, ovo, iogurte e emulsão de alho. As terras utilizadas neste trabalho provêm do solo juazeirense. Juazeiro localiza- se na região do Baixo Médio São Francisco, no norte do estado da Bahia, a 500 km da capital e a 371 metros de altitude, com 197.965 habitantes e um território de 6.500 Km2. No tocante à classificação do solo, a cidade situa-se numa unidade geoambiental onde existem solos dos tipos vertissolos (áreas verde escuro na Fig. 1), neossolos litólicos (áreas cinza na Fig. 1) e neossolos flúvicos (NUNES, 2013, p. 28). Os solos juazeirenses são também eutróficos, isto é, com certo teor de ferro. Os vertissolos são solos minerais com cores que vão do amarelado e acinzentado ao vermelho escuro, são profundos e férteis. Sua ocorrência está relacionada às condições de clima e relevo e sua principal característica é a expansão e contração do material argiloso presente (IBGE, 2007). Os neossolos também são solos minerais ou com pouco material orgânico (espessura menor do que 30 cm), são solos jovens, em inicio de formação. Os neossolos litólicos são pouco espessos, com rochas a 50 cm da superfície e ocorrem próximo a morros e serras. Os neossolos flúvicos são formados por uma sucessão de camadas de sedimentos depositados pela água, trazidos de vários lugares (IBGE, 2007). As amostras de terra desta pesquisa, captadas em cinco pontos urbanos de Juazeiro, desde a margem do rio há algumas ruas da cidade, apresentam cores amareladas e avermelhadas, denotando serem solos eutróficos (com presença de ferro).
- 165. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 15 156 Figura 1: Mapa de reconhecimento de solos em Juazeiro. Fonte: EMBRAPA, disponível em: http://www.uep.cnps.embrapa.br/solos/index.php?link=ba Solos com óxidos de ferro são amarelados, vermelhos ou marrons; essas cores podem se apresentar isoladamente ou formando diferentes tonalidades – quando mais de um óxido de ferro está presente: quanto mais goetita houver na composição mas amarelada será a terra; as misturas de hematita (a-Fe2O3, pode ser vermelha ou marrom) e goetita (a-FeO-OH, pode ser amarelo, castanho, laranja) apresentam-se em solos avermelhados; e quanto mais hematita presente no solo mais vermelho este será (FERNANDES et al, 2004, p. 249). i. Obtendo pigmentos de terra Na trivialidade das andanças, a cidade foi percebida como um território da pavimentação, seja por asfalto ou granito. Poucas partes ainda apresentam o pó característico da crosta terrestre, como chão imediato. Essas constatações levaram a outra questão: Onde coletar as amostras? A zona rural de Juazeiro parece sempre ser a resposta mais óbvia, pois seria onde provavelmente muita terra poderia ser encontrada e novos lugares poderiam ser conhecidos. Entretanto, com base nas reflexões iniciais sobre a relação estabelecida com a cidade e no fato de que a maioria das escolas está localizada na parte urbana, o melhor lugar para recolher as amostras não poderia ser outro senão as ruas da cidade de Juazeiro. O processo de coleta de amostras de terra para a produção de pigmentos e seu mapeamento tornou-se também um reconhecimento de outros espaços mapeamento
- 166. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 15 157 de parte da cidade no âmbito pessoal. Após essas considerações foram selecionados os seguintes locais: a. Santo Antônio: Bem próximo ao Maringá e passagem para o Centro, o bairro concentra parte do comércio da cidade e é onde estão o Hospital Regional de Juazeiro, a Igreja de Santo Antônio, o Centro de Cultura João Gilberto, a Capitania dos Portos (Marinha) e a entrada secundária da UNIVASF. E ainda parte da orla, a Orla Nova, onde ficava o antigo porto de Juazeiro e onde atualmente se encontra o Vapor Saldanha Marinho, o primeiro a navegar nas águas franciscanas, ligando Juazeiro a Minas Gerais. Ao lado da entrada da universidade existe uma passagem para o rio São Francisco, local frequentado por banhistas nos fins de semana. A primeira amostra de terra para a produção de pigmento foi encontrada ali, uma terra amarelada, sem grandes torrões, mas bem aglomerada e com considerável quantidade de argila. A segunda amostra, coletada no Santo Antônio, foi encontrada distante do rio próxima a um campo de futebol, nas imediações do Hospital Regional. Ali, o solo estava revolvido e apresentava uma coloração forte. Neste caso, a terra era “nova, recém-trazida à superfície, ao invés daquela superficial atingida pelas intempéries: alguém cavara antes naquele lugar, deixando à terra a mostra”. O material encontrado era de coloração alaranjada, de textura fina e com pequenas pedras. Um “torrão” que se desmanchou facilmente foi colhido. b. Angari: O bairro Angari, cujo nome origina-se das lavadeiras de roupas da margem do rio – as angaris, é originado de uma ocupação irregular de terras. Hoje, a maioria da comunidade é composta de pescadores e população de baixa renda. Duas amostras de terra foram coletadas a margem do rio. A primeira delas é de um tom marrom-acinzentado, de textura fina e solta, sem formar torrões. A segunda era uma terra vermelha que estava logo abaixo da superfície. c. Country Club: Esse bairro também é vizinho ao Maringá, e o campus Juazeiro da UNIVASF localiza-se nele. O nome origina-se do clube São Francisco Country Club, ali presente. A maior parte dos moradores é de classe média, e vê-se ali, várias casas com muros altos e encimados por cercas elétricas e câmeras de segurança; existem também alguns condomínios e prédios de apartamentos. O bairro foi criado na década de 1970 a partir do Instituto de Assistência e Previdência do Servidor do Estado da Bahia (IAPSEB) que financiava moradias para funcionários públicos e militares. É interessante notar a quantidade de ruas nomeadas em homenagem a militares. (ALVES, 2013). Duas amostras foram coletadas no bairro. No primeiro ponto, uma terra amarelada foi encontrada numa rua com poucas casas, perto do Instituto Ivete Sangalo; a segunda amostra foi coletada numa rua próxima a um Jatobá Centenário. De longe a cor daquela terra chamava atenção, era um vermelho intenso, encostada numa calçada. d. Quidé: O Quidé é um bairro periférico cuja população é constituída majoritariamente por pessoas negras, originado da migração de campesinos da
- 167. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 15 158 região. A fábrica de cerâmica foi um dos motivadores da emigração. Os movimentos sociais são bem atuantes, há o Núcleo de Arte-Educação Nego D’ água (NAENDA), que organiza diferentes atividades artístico-culturais; o Ponto de Leitura; terreiros de candomblé e de umbanda que formam uma rede de articulação étnico-social e religiosa. Uma amostra de terra amarelo-esverdeada foi encontrada e colhida num terreno baldio, aparentemente mexida mecanicamente. A terra, um pouco arenosa, estava solta e seca, sem resíduos orgânicos. e. Palmares: Neste ponto, outra porção de terra, de tom amarelado, foi encontrada próximo à via de acesso ao Quidé. Posteriormente foi evidenciado que se tratava do bairro Palmares, que fica entre o Country e o Quidé. Da captação da matéria-prima até a obtenção dos pigmentos, o procedimento para preparo do pigmento deu-se nas seguintes etapas: a. Coleta: A coleta da terra para a produção dos pigmentos se deu nas cinco localidades listadas anteriormente, quais sejam: Angari; Santo Antônio; Quidé; Palmares; e Country Club. Em todos eles a cor foi identificada na superfície, mas, baseando-me na experiência de Gordilho et al (2012), procurei captar terras que soltassem cor nas mãos ao serem esfregadas. Parte do material captado no Angari, no Santo Antônio e no Quidé foi encontrado no solo revolvido e apresentava uma coloração forte. No Angari foi preciso retirar parte da matéria orgânica que cobria a maior parte da terra. No Country Club, atrás da UNIVASF, no Palmares e também no Angari, foi necessário cavar o solo para acessar a camada abaixo, onde o pigmento sofreu menos desgaste. Após identificar uma coloração interessante de terra (há muita areia no local), cavei um buraco para dispensar o material de cima fustigado pelas intempéries e atividade humana. Em seguida, recolhi a parte do mineral que estava abaixo. Foi preciso retirar camadas mais ou menos espessas a depender do local, pois as camadas dos horizontes O e A são de espessura diferentes nas várias partes onde as terras foram colhidas. b. Secagem e limpeza: Duas amostras foram coletadas bem úmidas (Angari e UNIVASF) e precisaram ser secas sobre um papel. Após esta etapa, detritos orgânicos visíveis foram retirados manualmente. c. Destorroamento: os torrões foram quebrados utilizando um martelo que foi batido sobre a terra envolvida em tecido. d. Peneiramento: o pó resultante foi peneirado três vezes: com uma peneira fina, com um tecido de chita e com tela de náilon usado para serigrafia. Durante a preparação das tintas percebi que a granulação ainda estava alta em algumas amostras, por isso inclui mais duas etapas no processo: e. Moagem: o pó obtido no peneiramento foi pilado em um almofariz de alumínio. f. Decantação: o pó foi colocado em uma vasilha com o dobro de água e deixado (posto para) descansar por 12 horas.Após, as partículas em suspensão foram retiradas
- 168. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 15 159 com o auxilio de uma colher e colocadas para secar em uma bandeja. g. Armazenagem: Cada pigmento obtido foi guardado em um potinho plástico com tampa e identificado. Figura 2: Pigmentos obtidos. Fonte: Elaboração da autora. Figura 3: Quadro de características dos pigmentos obtidos. Fonte: Elaboração da autora. ii. Produzindo tintas de terra Com os pigmentos prontos, num total de oito tons, passei para a segunda parte da pesquisa: a manufatura das tintas. Foram testados os seguintes tipos de tintas: aquarela; guache; têmpera ovo; têmpera gelatina; e têmpera vinílica. Para esse procedimento selecionei antecipadamente algumas receitas de tintas disponíveis em diversos veículos: blogs, monografias, vídeos etc. Pensando em tintas com
- 169. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 15 160 possibilidade de manufatura em escolas, busquei receitas com ingredientes de fácil acesso e de procedimentos simples. Em todas as tintas foram acrescentadas gotas de vinagre ou de cloro para conservá-las de fungos e bactérias. Dei preferência ao uso do vinagre, pois o cloro não é uma substância recomendada para ser manuseada por crianças. Ao final da manufatura cada tinta foi acondicionada em um pote plástico com tampa e identificada. Ao todo foram produzidos: três tipos de aquarela; guache; têmpera ovo; têmpera de iogurte; têmpera de gelatina; e uma vinílica. Para obtê-las foram usadas as seguintes receitas, elaboradas a partir de pesquisa de modos de manufatura de tintas artesanais. Figura 4: tintas guache com pigmentos de terra. Fonte: Elaboração da autora. a) Aquarela de alho: Para a emulsão foram utilizados três dentes de alho de tamanho médio que foram cortados (picados) e batidos no liquidificador com meia xícara de água; o líquido foi então coado e acrescido de 20 gotas de vinagre. Para a tinta utilizei duas colheres de sobremesa da emulsão misturada a uma colher de pigmento e uma de água até a obtenção de uma tinta com textura de aquarela. b) Aquarela em pastilha: Com os mesmos ingredientes da aquarela líquida, sem adição de água, utilizei apenas a emulsão de alho e pigmento na proporção de 2:1. Misturei bem e coloquei em embalagens de chiclete em pastilha, deixei descansar por 24 horas até que secassem totalmente. Para usá-la bastou umedecer a pastilha com um pincel molhado. c) Tinta vinílica: Uma colher de sobremesa de pigmento foi misturada com a mesma medida de água e algumas gotas de vinagre até dissolver. Então, uma colher de cola foi acrescentada, misturando tudo até a homogeneização da pasta. A tinta foi guardada em um potinho plástico com tampa. d) Tinta guache (Figura 4):Atinta guache foi preparada misturando uma colher de sobremesa de pigmento a um terço da medida de talco, depois de misturados os pós, uma colher de água e algumas gotas de vinagre foram adicionadas mexendo bem para dissolvê-las. Em seguida foram acrescentadas uma colher de cola e uma gota de glicerina, misturando tudo até a homogeneização. e) Tinta de gelatina: Primeiro misturei uma colher de chá de gelatina com três gotas de azeite e dissolvi a mistura em meio copo de café de água fervente, depois acrescentei uma colher de pigmento e mexi para homogeneizar. Para
- 170. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 15 161 preparar a gelatina misturei o pó na água e deixei descansar por uma noite. Levei a solução ao fogo em banho-maria mexendo sempre. Depois de fria a mistura, acrescentei o vinagre. Para a tinta utilizei meia colher de pigmento para três de aglutinante e misturei. Durante o uso observei que é necessário mexer sempre que a tinta descansar, pois deposita no fundo nos intervalos. f) Tinta de iogurte: Inicialmente misturei uma colher de sobremesa de iogurte com meia colher de água sanitária e duas gotas de glicerina em um potinho plástico. Depois misturei uma colher de pigmento com uma colher de água e misturei até formar uma pasta. Em seguida, juntei essa mistura aa mistura de iogurte e mexi para homogeneizar. g) Têmpera ovo: Para a emulsão, a gema foi separada da clara e passada por uma peneira fina de náilon com o auxílio de uma colherinha. Em um pote plástico adicionei duas cascas de ovo (usadas como medida) de água e dez gotas de vinagre e misturei. Usando a pia da cozinha como base, dispersei uma colher de sobremesa de pigmento a uma colher de sobremesa de água, usando um copo de vidro de fundo reto e liso como moleta. Com uma espátula de plástico recolhi a pasta e coloquei em um potinho.
- 171. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 15 162 Fig. 5, 6 e 7: Pinturas teste com aquarela, têmpera e guache feitas com pigmentos de terra. Fonte: Elaboração da autora. iii. Avaliando as tintas produzidas De acordo com os estudos de Milanez (2008, p. 32), ao se selecionar um pigmento para determinada aplicação é importante considerar certos fatores. Entre eles estão: a capacidade de coloração; a uniformidade da cor; a compatibilidade com os materiais a serem usados, como aglutinante, solvente, suporte ou aditivos; e o tamanho das partículas. Os pigmentos inorgânicos naturais apresentam menor poder de cobertura e tingimento, além de se dispersarem com mais dificuldade. Entretanto, em alguns casos, os pigmentos testados atingiram boa cobertura, opacidade e tingimento, como no caso do amarelo Santo Antônio, do vermelho Country, do vermelho Angari e do amarelo Univasf na formulação da têmpera ovo, do guache e da têmpera vinílica. Em concordância com a observação de Smith (2012) e Alessandri (2011), a análise do desempenho dos pigmentos demonstra que cada um se adequa melhor a determinados tipos de formulações. O amarelo Country, por exemplo, não funcionou bem nas aquarelas. Lembrando a recomendação de Milanez acima, alguns pigmentos podem reagir a certas substâncias, descobri por acaso (durante a oficina sobre a qual falo melhor mais aa frente) que o marrom Angari não pode ser usado em uma composição com cola P. V. A. e cloro porque resulta em uma espécie de “emborrachado”. O marrom Angari foi o pigmento que apresentou pior desempenho entre todos, nenhum aglutinante usado conseguiu lhe dar uma boa aderência ao suporte, em todos
- 172. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 15 163 os testes soltou um pó após a secagem da tinta. A maioria dos pigmentos apresentou como características: maciez; opacidade; facilidade de aderência ao papel sulfite ao ser manualmente esfregado puro sobre este; e coloração forte. As exceções foram os seguintes pigmentos: 1- o amarelo Quidé, o amarelo Palmares e o marrom Angari apresentaram aderência menor ao papel e coloração menos intensa; 2- o amarelo Country aderiu bem ao papel, mas sua coloração tem menos intensidade que a maioria. Após a manufatura das tintas, os pigmentos que obtiveram melhor desempenho foram o vermelho Country e o vermelho Angari. Eles tiveram ótimos resultados em três tipos de tinta e não apresentaram resultados ruins. Os pigmentos marrom Angari e amarelo Country apresentaram os resultados mais negativos, com desempenho ruim em três tipos de tinta. O primeiro teve seu melhor resultado na tinta guache, o segundo apresentou resultado mediano apenas na têmpera vinílica. 4 | CONSIDERAÇÕES FINAIS Das questões iniciais “como manufaturar materiais expressivos economicamente acessíveis e de baixa toxicidade de maneira que possam ser utilizados na escola?” e “que recursos naturais locais podem ser utilizados na manufatura de tintas?”, um mundo de tintas, cores e terras se abriu. Sete tipos de tintas foram produzidos com oito pigmentos obtidos das terras recolhidas. Algumas não deram certo e pensei nisso ao elaborar as tabelas e, por isso, incluí as formulações para as quais cada pigmento é apropriado, como uma recomendação. Essas foram questões práticas para as quais agora posso responder: as terras são ótimos pigmentos minerais naturais e substâncias cotidianas, que estão em nossa mesa podem ser utilizadas como aglutinantes (iogurte, ovo, gelatina) sem desprezar a cola P. V. A. São materiais de fácil acesso e que rederam resultados positivos na ausência dos ingredientes tradicionais como a goma arábica, impossível de se encontrar no comércio local. A revisão histórica e o levantamento teórico sobre a produção de tintas e o uso de pigmentos de terra colaboraram para a percepção da importância sócio cultural e econômica que o estudo dos materiais expressivos, como as tintas, teve e tem para o desenvolvimento da produção artística. A intenção nunca foi produzir tintas baratas, mas tintas acessíveis que fossem apropriadas para uso expressivo. Desta maneira me propus a utilizá-las na produção de pinturas sobre papel para testar suas propriedades. O resultado foi os Corações de Terra (Figuras 5, 6 e 7), pinturas utilizando cada uma das tintas produzidas. Pensei neste título porque ele reflete o que o trabalho fez: expôs o coração da terra juazeirense, revelando suas cores e texturas e suas potencialidades como pigmentos minerais naturais. As pinturas atestam a qualidade das tintas, embora sejam produtos
- 173. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 15 164 artesanais feitos com materiais alternativos, elas podem ser empregadas nas pinturas sobre papel. Em diferentes momentos da história recursos naturais foram empregados por artistas para produzirem seu material de trabalho desde a Pré-história até chegar à Idade Moderna, quando surgem as primeiras tintas artificiais. A realização deste trabalho demonstra que a terra é um ótimo recurso, acessível e de boa qualidade, para a manufatura de materiais expressivos. REFERÊNCIAS ALESSANDRI, M. Pigmentos parte I: antiguidade. Cozinha da Pintura. 07, jan. 2011. Disponível em:<http://www.cozinhadapintura.com/2011/01/pigmentos-parte-i-antiguidade.html>. Acesso em: 13 ago. 2014. ALVES, C. F.; ALMEIDA, C. R. dos S. de. Trajetória e atuação dos movimentos sociais em Juazeiro (BA). Juazeiro, Colegiado de Ciências Sociais – UNIVASF, 2013. 7 p. (Relatório de pesquisa, FAPESB-4710/2012 ) FRANCISCO, W; FRANCISCO JR, W. E. A química das tintas e dos pigmentos: um tema gerador para o ensino e a problematização de aspectos científico-humanísticos. EduQ. Nº 13, 2012. p. 40-46. Disponível em:< http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000195%5C00000056.pdf >. Acesso em: 29 ago. 2014. GOMBRICH, E. H. A história da arte. 16 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012. GORDILHO, V. et al. Pintando com o tauá na comunidade de Coqueiros: possíveis aproximações entre arte e química no “Projeto TBS”. Revista Virtual de Química, v. 4, n 5, out. 2012. Disponível em:< http://www.uff.br/RVQ/index.php/rvq/article/ view/305/265?agreq=Gordilho&agrep=jbcs,qn,qnesc,qnint,rvq>. Acesso em: 07 out. 2014. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA-IBGE. Manual técnico de pedologia. 2 ed. 2007. Rio de Janeiro: IBGE, 2007. (Manuais técnicos em geociências 4). Disponível em: http:// biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv37318.pdf. Acesso em: 01 dez. 2014. MELLO, V. M; SUAREZ, P. A. Z. As formulações de tintas expressivas através da história. Revista Virtual de Química. Vol. 4. n° 1. mar. 2012. p. 2-12. Disponível em:< http://www.uff.br/RVQ/index.php/ rvq/article/viewFile/248/218>. Acesso em: 15 ago. 2014. MILANEZ, K. W. Incorporação de resíduo de galvanoplastia na produção de pigmentos inorgânicos. 2003. 89 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Qímica). Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis, Santa Catarina. 2003. Disponível em: https://repositorio.ufsc.br/ bitstream/handle/123456789/84616/197389.pdf?sequence=1. Acesso em: 10 jan. 2015. NUNES, S. M. Estudo de solos expansivos no município de Juazeiro/BA e na Região de Lapão/ BA: identificação, determinação da expansibilidade linear e classificação geotécnica. Juazeiro, 2013. 85 p. Disponível em: http://www.univasf.edu.br/~tcc/000002/000002AA.pdf. Acesso em: 04 dez. 2014. OSINSKI, D. R. B. Arte, história e ensino: uma trajetória. 2 ed. São Paulo: Cortez, 2002. SMITH, R. Manual prático do artista. 2 ed. São Paulo: Ambientes e Costumes, 2012.
- 174. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 16 165 EDUCAÇÃO DIGITAL E SUAS INTERFACES: DISCUTINDO CONCEITOS E PROCESSOS A PARTIR DE AÇÕES LOCAIS E POLÍTICAS PÚBLICAS CAPÍTULO 16 doi Nadja da Nóbrega Rodrigues, Instituto Federal da Paraíba (IFPB), Unidade Acadêmica de Informática João Pessoa, Paraíba Mércia Rejane Rangel Batista Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Unidade Acadêmica de Ciências Sociais Campina Grande, Paraíba. RESUMO: Este artigo apresenta resultados parciais de uma tese que interpreta as relações entre a Inclusão Digital (ID) e a promoção da cidadania e da inclusão social, abordando, principalmente, a inserção de Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) em processos educacionais. Em seu discurso predominante, a ID favorece emancipação e inclusão social. A investigação da política pública brasileira e de ações de ID no Instituto Federal da Paraíba (IFPB) sugere esforços que tentam se alinhar a esse discurso, entretanto, a fenda entre incluídos e excluídos vai além do acesso e manuseio de tecnologias. Também devem ser considerados fatores como os aspectos cognitivos de uso das TDIC, os processos educacionais e o desenvolvimento de conhecimento sobre como se apropriar delas, enquanto cidadão. PALAVRAS-CHAVE: Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação, Educação Digital, Cidadania, Inclusão Social. ABSTRACT: This article presents partial results of a thesis that interprets the relationships between Digital Inclusion (ID) and the promotion of citizenship and social inclusion, mainly approaching the insertion of Digital Information and Communication Technologies (DICT) in educational processes. In his prevailing discourse, ID favors emancipation and social inclusion. The investigation of the brazilian public policy and actions of ID in Instituto Federal da Paraíba (IFPB) suggests efforts that attempt to align themselves to this discourse, however, the gap between included and excluded goes beyond the access to and manipulation of technologies. Should also be considered factors such as the cognitive aspects of the use of DICT, the educational processes and the development of knowledge on how to appropriate of them as a citizen. KEYWORDS: Digital Information and CommunicationTechnologies,DigitalEducation, Citizenship, Social Inclusion. 1 | INTRODUÇÃO O mundo contemporâneo traz, como um de seus grandes desafios, traduzido em um conceito que é também uma proposta política, o
- 175. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 16 166 das redes sociais. Mas o que significa experimentar viver em rede? “Redes sociais são, antes de tudo, redes de comunicação que envolvem linguagem simbólica, restrições culturais, relações de poder” (CAPRA, 2008, p.22). Ao pensar em redes, o senso comum sugere que o mundo inteiro está conectado, e que as pessoas trafegam de um extremo ao outro, nessas plataformas, conectadas de forma “ponto a ponto”. Entretanto, nessa rede, há fendas que dão origem à “exclusão digital”, que traz, em sua essência, um problema recorrente em sociedades desiguais, a exclusão social, que se apresenta através de particularidades distintas, mas continua tendo como base a negação de direitos e da cidadania. No Século XXI, período em que as informações crescem exponencialmente a partir das mídias digitais e o conhecimento tem lugar de destaque nas rotinas humanas, as reivindicações do “acesso para todos” significam que a participação nesse espaço assinala um direito, entretanto, a universalidade passa a depender de questões políticas e técnicas, que limitam pessoas, pela falta de acesso às Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC), ou pela subutilização desses recursos, em termos de qualificação para ação social. “A área ‘Coberta’ por qualquer rede é ‘universal’, mas apenas onde existem suficientes antenas, relés, repetidores, e assim por diante” (LATOUR, 2011, tradução nossa). Nesse cenário, acessar os microcontextos evita simplificar realidades através de generalizações que ignorem aspectos de desigualdade e segregação. Em qualquer nível ou plano (país, estado ou município), a sociedade brasileira parece ser composta por inúmeros “mundos” próprios, que nem sempre parecem, num primeiro momento, interrelacionados. Em termos de ausências, fendas podem ser percebidas em temas centrais como acesso a educação e saúde, participação política, condição econômica, e assim, reflexões sobre esses temas levam a disparidades e assimetrias. Como então governar essa sociedade e construir ações e políticas públicas para promover a inclusão? O discurso dominante relaciona as TDIC à ideia de inclusão e, portanto, a ausência dos aparatos materiais nos processos de promoção do desenvolvimento cognitivo e do conhecimento, e das ações sociais, representa o “analfabetismo digital”, a exclusão social contemporânea. “São milhões de brasileiros que nunca utilizaram a internet ou mesmo um computador, e assim permanecem afastados de novas oportunidades de trabalho, novos conteúdos culturais, bem como de novas formas de exercer a cidadania” (BRASIL, 2015, p. 15). Qual a implicação desse cenário para a vida contemporânea? Giddens (1991) já chamava a atenção para mudanças que acompanhavam a implantação das TDIC. O ciberespaço pode ser pensado como o meio de comunicação aberto que surge com a internet e suas possibilidades de interconexão, referindo-se menos à infraestrutura material, e mais às informações que ela abriga e aos seres humanos que navegam e alimentam esse espaço (Martino, 2015). Já a cibercultura especifica o conjunto de técnicas, práticas, modos de pensamento e valores que se desenvolvem juntamente
- 176. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 16 167 com o ciberespaço, e compõem um sistema organizado em função do complexo tecnológico e dos novos processos comunicativos (Lévy, 1999; Ferreira, 2016). Ressalta-se que a trajetória humana traz juntamente às técnicas e aos instrumentos, um conjunto de aspectos subjetivos, o que implica em colocá-los em dimensões humanas, no esforço de repensar a vida em coletividades. Segundo Martino (2015), as relações através das mídias digitais alteram o que se entende por política, arte, economia e cultura, o que reforça a multidimensionalidade das TDIC. Através dessas tecnologias, processos sociais são desenvolvidos mesclando o mundo físico e o virtual, e então, a exclusão digital potencializa a exclusão social. A Inclusão Digital (ID) visa o planejamento e a execução de ações com o objetivo de permitir a participação de todos na sociedade da informação (Rodrigues et al., 2011). No Brasil, a política pública de ID evidencia temas como cidadania, inclusão social, desenvolvimento local e nacional, em três eixos fundamentais: garantia de acesso às TDIC; incentivo à disponibilização de conteúdos de interesse público; capacitação da população e dos profissionais que atuam no atendimento ao cidadão. Nesses eixos, um dos grandes desafios é desenvolver processos que permitam desde os primeiros contatos com as TDIC, até a apropriação dessas tecnologias para execução das diversas rotinas sociais, o autodesenvolvimento humano e a inteligência coletiva em rede. Em outras palavras, os processos educacionais, de qualificação e de desenvolvimento do conhecimento influenciam as TDIC e são influenciados por elas. Na passagem para esse século, as previsões diziam que escolas e universidades seriam as instituições menos afetadas pela lógica virtual embutida naTDIC, pois mesmo com o uso quase universal de computadores em salas de aula, essas instituições não desapareceriam do espaço físico, devido às suas funções estruturais e particularidades de funcionamento (Castells, 2000). Nos dias de hoje, o que se percebe: em grande parte, as funções educacionais ainda estão associadas à interação pessoal; escolas de ensino fundamental e médio, além das funções educacionais, ainda são “repositórios de crianças” (tendo surgido também os berçários); embora a Educação à Distância (EAD) esteja aliada àquela presencial, esta não é eliminada ou superada pela EAD. Por outro lado, algumas mudanças previstas podem ser percebidas (Lévy, 1999): o que é preciso aprender não pode ser precisamente definido com antecedência; perfis de competência podem cada vez menos ser canalizados em cursos generalizadores; informações e conhecimentos estão distribuídos na rede, atualizando-se em tempo real; a nova natureza do trabalho requer aprender, transmitir saberes e produzir conhecimento, em um ciclo contínuo; tecnologias intelectuais modificam funções cognitivas humanas, favorecendo novas formas de acesso à informação, estilos de raciocínio e de conhecimento; como essas tecnologias são objetivadas em elementos disponíveis na rede, elas podem ser compartilhadas, potencializando a inteligência coletiva dos grupos humanos, ou seja, o conhecimento produzido de maneira social. Esse cenário sugere novos modelos de espaço de conhecimentos, abertos,
- 177. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 16 168 contínuos e em fluxo, de acordo com contextos, nos quais cada um ocupa uma posição singular. Enxergar os desafios colocados pela cibercultura, aos processos educacionais, significa pensar nas TDIC enquanto parte de um projeto maior, que fundamenta suas discussões nas relações entre seres humanos, conhecimentos e ações, considerando as possibilidades técnicas trazidas pelas tecnologias. A grande questão que a cibercultura põe à educação e ao conhecimento, não é nem tanto a passagem do presencial à distância, do escrito/oral à multimídia, mas a transição de uma educação estritamente institucionalizada (a escola, a universidade) para a troca generalizada de saberes, o ensino da sociedade por ela mesma, de reconhecimento contextual das competências, sendo cada conhecimento valorizado em seu contexto específico, sem implicar na desqualificação dos outros, o que promove a equiparação entre os tipos de saberes e dispensa categorias distintas - cultura universitária x cultura popular, escola x mercado (Lévy, 1999; Martino, 2015). Em outras palavras, a busca da efetividade nas ações educacionais considera importante o contexto social no processo educacional (Santiago et al., 2016), e a necessidade, no contexto, é a medida do valor dos conhecimentos. É o sentido da atuação humana nas plataformas técnicas que faz a diferença: é saber “o que fazer” e “como fazer” em termos cívicos que evidencia os benefícios do ciberespaço e orienta o percurso dos cibercidadãos. Sobre os trabalhos em ID, pesquisadores consideram o tema atual e relevante, uma vez que a ID ganhou espaço como política governamental nas últimas décadas, e sugerem que, no Brasil, o seu processo de avaliação está incipiente, na academia e no governo (Corrêa, 2007; Mattos; Chagas, 2008; Medeiros Neto; Miranda, 2010; Rodrigues; Maculan, 2013). Este trabalho1 apresenta resultados parciais de uma pesquisa desenvolvida em processo de doutoramento, e se propõe a retratar aspectos referentes a ações e à política pública de ID no Brasil, e assim contribuir para a compreensão das relações entre ID, cidadania e inclusão social, principalmente sob perspectivas educacionais, envolvendo discursos e ações de ID dos governos Federal (GF), da Paraíba (GE) e de João Pessoa (GM), e um estudo de caso no Instituto Federal da Paraíba (IFPB). 2 | MÉTODOS A pesquisa faz parte de um processo de doutoramento na Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), desde 2014, envolvendo pesquisa e extensão nesta instituição e no IFPB, e algumas atividades: revisão teórica; mapeamento da política pública de ID e de políticas e iniciativas de extensão de ID no IFPB; análise das relações 1 Este trabalho revisita os fatos e as informações apresentados em Rodrigues e Batista (2018), durante a realização do XXIV Workshop de Informática na Escola, evento do VII Congresso Brasileiro de Informática na Educação, promovido pela Sociedade Brasileira de Computação, revisando-os con- forme etapas e reflexões que foram realizadas pela pesquisa, após os dados publicados no referido evento, no sentido de dar prosseguimento às investigações sobre ID.
- 178. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 16 169 entre esses elementos e das suas contribuições à cidadania e à inclusão social. Tem caráter exploratório e descritivo, investigando e relacionando variáveis como TDIC, ID, cidadania e inclusão social. Como procedimentos técnicos, inclui participação em eventos, investigação nos portais de governo e estudo de caso no IFPB, com base na etnografia, a partir de levantamento de dados, análise documental e processual. Como instrumentos de coleta de dados, usa formulários, observação sistemática e diário de campo. As principais fontes de dados são documentos, páginas web, dados de entrevistas, de conversas informais e de observação participante. As entrevistas usam história oral, registrando a experiência de indivíduos no IFPB, recobrindo relatos a respeito de fatos não registrados por outros documentos (Queiroz, 1988). A abordagem é quali-quantitativa, definindo indicadores e interpretando dados com base nas evidências contextuais. O campo empírico é composto pelos governos e pelo IFPB; como lócus de pesquisa, mapeiam-se portais dos governos e espaços ligados à extensão do IFPB. Sobre o estudo etnográfico, baseia-se em um escopo mais generalista que aborda o Brasil, e em microinvestigações locais, na Paraíba e em João Pessoa. Perlongher (2008) sugere alguns aspectos da antropologia urbana: nas cidades, o “território único” será substituído pela plurilocalidade das sociedades complexas; não se pode impor uma exigência de homogeneidade do grupo observado; a importância do “grupo” é diminuída, em favor das microrredes relacionais; as relações interpessoais constituem a unidade local; a pesquisa centra-se no nível micro, que reproduz ou resiste à ordem social dominante; não há uma relação de causalidade fixada com antecedência entre o macro e o micro, mas uma tensão contínua; não é pertinente considerar o campo empírico como plano de constatação de hipóteses, mas local de experimentação conceitual. O trabalho de campo foi realizado principalmente entre 2015 e 2018, através das seguintes ações: participação em evento internacional (Fórum de Governança da Internet 2015 – IGF 2015) e outros nacionais (reuniões da Associação Nacional de Inclusão Digital – ANID); coleta de notícias e indicadores referentes a ID nos portais do GF, GE e GM, na internet; ações de pesquisa e extensão no IFPB. A conexão entre o macro e o microestudos vem sendo pensada através da análise do contexto processual da política nacional de ID (relações entre GF, GE e GM), no período de 2007 a 2017, e se/como os governos influenciaram a extensão do IFPB (este executando ações junto a indivíduos, que foram, ou deveriam ter sido, beneficiários de ações de governos). A partir de situações sociais particulares, podem- se abstrair elementos importantes (Foote-Whyte, 2005), sendo possível enxergar, em meio à diversidade de contextos, a validade de generalizações. No IFPB foi realizado o levantamento da política de extensão, e ainda entrevistas (com três monitores e dezessete alunos de cursos de extensão), conversas formais e/ou informais (com onze técnicos e (ex) gestores de extensão, quatro monitores e
- 179. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 16 170 mais de cem representantes comunitários em atividades de extensão), e observação participante em dois programas de extensão (P1 e P2). Nos portais do GF, GE e GM, foi feita a coleta de dados sobre a política pública de ID (realizada através de mais de 800 páginas web). Algumas análises quali-quantitativa dos dados de governo e IFPB já foram realizadas. Essa pesquisa protege a identidade dos pesquisados. 3 | RESULTADOS E DISCUSSÃO As ações oficiais em campo tiveram início em 2015, nos eventos, nos portais e no IFPB. Em termos de discussões internacionais sobre a relação entre desenvolvimento humano e TDIC, e a inclusão das pessoas nos processos de governança da internet e no ciclo de políticas públicas de ID, o IGF 2015 foi um momento importante para ter acesso a esses discursos e vivenciar algumas de suas realizações em campo empírico. Os governos enfatizaram a ideia de construção de uma internet global, baseada em multilateralismo e multissetorialismo, em articulações entre países, setores e grupos sociais, trazendo a participação política como elemento imprescindível para as definições democráticas, requerendo a revisão do conceito de cidadania, e das relações entre os agentes sociais. Ainda sobre o IGF, os modelos brasileiros de governança da internet, Marco Civil e de política pública de ID eram referências a ser seguidas pelo mundo, uma vez que evidenciavam que “o acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania” e que o país tinha feito “grandes esforços para promover o acesso à internet para todos”. Além do IGF 2015, outros eventos foram vivenciados pelos pesquisadores, como as reuniões anuais da ANID, entre 2015 e 2018. Assim como o IGF, essas reuniões tinham o propósito de pensar tanto o local quando o global (embora sem a pretensão de se colocar como evento internacional), debatendo desde ações de ID em comunidades particulares até as políticas públicas nacionais, principalmente aquela voltada à inclusão das TDIC nos diversos espaços brasileiros. Quanto aos portais do GF, GE e GM, neles os discursos dos governos mostraram o avanço da política pública de ID, o “crescimento econômico, aumento da produtividade, integração nacional e acima de tudo, inclusão digital e social da população”. As notícias postadas pelos governos fizeram referência a diversos eixos de ação, que foram classificados, nesta pesquisa, como: 1) “Infraestrutura”: tratou a promoção de infraestrutura pública ou privada (itens de TDIC implantados de forma independente de outros itens, ou de forma “isolada”, em espaços públicos ou privados – software, hardware, redes, dados). Por exemplo, foram considerados nessa categoria, como itens de “infraestrutura pública”, aqueles implantados em espaços públicos específicos, como disponibilização de internet ou criação de laboratórios de informática
- 180. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 16 171 (hardware, software, repositórios de dados e/ou redes) em escolas municipais, mercados públicos e praças da cidade. Por sua vez, foram considerados como itens de “infraestrutura privada”, por exemplo, ações como incentivo à aquisição de itens de TDIC por pessoas físicas ou jurídicas, ou grupos sociais. 2) “Centros Públicos”: tratou a promoção de centros públicos de acesso a TDIC, através de espaços onde foi disponibilizada “infraestrutura completa” em termos de tecnologias, em sua maioria, laboratórios de informática abertos ao público em geral, com máquinas (hardware), sistemas operacionais e aplicativos (software) e internet (rede), além de pessoas capacitadas para apoiar os usuários desses espaços. 3) “Qualificação”: tratou a promoção de formação e de qualificação multidimensional (em TDIC e em áreas temáticas diversas), seja para agentes do governo ou para o cidadão em geral, em espaços/contextos específicos ou nos centros públicos. 4) “Governança Digital”: tratou instrumentos e ações para promoção do governo eletrônico, como a implantação de itens de TDIC voltados à administração pública, seja para ações internas ou voltadas ao cidadão, como software, hardware, redes, dados, aplicativos de consumo ou produção de informações, em geral, informatização das unidades de governo. 5) “Ciclo de políticas públicas”: tratou a promoção de ações de governança no ciclo da política pública de ID (“planejamento”, “implementação”, “monitoramento, avaliação e controle”, “retroalimentação”), em processos realizados por agentes do governo ou em processos participativos, caracterizados por alguma abertura do Estado para interação com mercado e, principalmente, sociedade civil. Sobre as ações, apesar do estereótipo de “lugares pobres e atrasados”, nos portais, a Paraíba e João Pessoa foram apresentadas como territórios onde as gestões públicas se destacaram, investindo em ações de ID e de construção de uma gestão democrática e participativa, da inovação no uso de TDIC. Dados de uso da internet na Paraíba indicaram taxas maiores do que aquelas em “estados economicamente mais fortes”, entretanto, ações propostas pelo GF se relacionaram diretamente com governos municipais e, então, não se deve achar que toda a Paraíba se desenvolveu em ID na mesma velocidade que João Pessoa o fez (sendo esta referência em ID, ao nível de Brasil). Os dados do GF, GE e GM sugeriram as tentativas de cobrir todos os seus territórios com ações, a dinamicidade do conceito de ID e o desenvolvimento de políticas multidimensionais, mas seus microindicadores refletiram a persistência da exclusão em comunidades e lugares particulares. Alguns espaços sociais, visitados no trabalho em campo, levaram à percepção sobre a presença ou ausência dos benefícios advindos das TDIC, e problemas ainda
- 181. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 16 172 mais específicos, como a longa espera pela mudança de cabeamento de rede para conectar computadores de uma escola pública à internet. Esses dados reforçaram a importância dos microindicadores, rejeitando discursos generalizantes enquanto termômetros das políticas públicas. Outrosindicadoresdosgovernosinformaramque,apesardacrescentepenetração da rede, esse indicador ainda era superado pelo número de pessoas offline. Então, era preciso que a internet fizesse a diferença na vida de todos, em saúde, educação, emprego e segurança, reduzisse a discriminação e as desigualdades, com frutos distribuídos de forma justa. Dados específicos sugeriram a inserção das TDIC nos processos educacionais (foco deste trabalho) e algumas relações entre ID, cidadania e inclusão social. Entre 2007 e 2017, mais de cem páginas web noticiaram ações de ID dos governos relacionadas a questões educacionais, desenvolvidas em várias dimensões: debate com a sociedade sobre ações educacionais (incluindo TDIC); informatização nas escolas públicas; distribuição de notebooks e tablets entre professores e alunos da rede pública; desenvolvimento de tecnologias educacionais, de escolas em tempo integral com oficinas de ID e de programas educacionais com ações específicas em ID. Essas ações se ligaram à política de ID, principalmente através do Banda Larga nas Escolas (programa que conectava escolas públicas à internet), Programa Um Computador por Aluno – Prouca (programa que promovia a adoção de TDIC nas escolas públicas por meio da distribuição de computadores portáteis aos alunos) e ProInfo Integrado (programa que promovia o uso pedagógico da informática na rede pública, articulando distribuição de equipamentos e capacitação de professores, técnicos, gestores e agentes educacionais). Sobre as ações do GF, as principais considerações podem ser vistas no Quadro 1. Ações ligadas à política educacional, Banda Larga nas Escolas, Prouca, ProInfo Integrado Em termos de políticas nacionais, as ações de ID representaram parte de diversos programas na educação, estes trazendo não apenas a formação escolar, mas também a preocupação com trabalho e renda, integração social e cidadania, em territórios urbanos ou rurais, o que sugeriu a interdisciplinaridade nas ações de ID. O GF investiu em infraestrutura, mas ressaltou a importância da capacitação de professores e alunos. Além de serem vistas como imprescindíveis diante das reconfigurações culturais nas sociedades modernas, as tecnologias eram elementos motivacionais nos processos educativos, que apresentavam indicadores a ser melhorados, como aqueles do ensino médio, considerado o “nó” da educação brasileira.
- 182. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 16 173 Para o GF, o Brasil podia viver o sentimento de integração (indicadores apontavam mudanças importantes, como diminuição da pobreza multidimensional e desigualdades), e a educação tinha um papel importante para o futuro do país. A sociedade foi convidada a construir um grande movimento em prol dessas perspectivas, o que sugeriu abertura para construção de um governo participativo. Em termos de ação, foi identificada a participação de representantes da sociedade civil, como movimentos sociais, na construção de ações de ID e dos conceitos de cultura digital, sugerindo a importância da comunidade no ciclo da política pública de ID. O GF motivou a realização de ações de extensão com foco em ID, por instituições de ensino. Uma vez que a extensão aproxima essas instituições da comunidade, a ação do GF representou um direcionamento para o fortalecimento da realização de suas ações junto a essas comunidades. Entre os programas, projetos e ações de ID propriamente ditos, a proposta do GF foi que essas iniciativas de alguma forma se conectassem entre si, como exemplo, a oferta de infraestrutura em TDIC, à qualificação através de cursos nessas tecnologias e à produção de conteúdos que poderiam ser utilizados em sala, o que sugeriu a preocupação com várias perspectivas de desenvolvimento da ID nos espaços educacionais. Sobre os beneficiários das ações, o portal apresentou seus discursos, sugerindo que a sociedade reconhece a “necessidade” de apropriação das TDIC para mudança na cultura, nova “mentalidade” e novos hábitos. As ações educacionais revelaram uma teia de agentes que precisavam garantir a infraestrutura de máquinas, internet, softwares educacionais e ainda as habilidades para autodesenvolvimento e continuidade de ações. Entre os resultados identificados, em termos qualitativos, o GF evidenciou o “desenvolvimento do Nordeste”, como resultado do avanço do sistema educacional. Para o GF, a distribuição dos computadores nas escolas, através do Prouca, ia além do consumo de equipamentos, disseminando a infraestrutura privada enquanto democratização das TDIC junto a pessoas de baixo poder aquisitivo, e estimulando o uso dessas tecnologias de forma aplicada às estratégias educacionais. No Prouca e nas demais ações, as questões educacionais voltadas ao campo, a comunidades indígenas e quilombolas, envolveram a educação contextualizada, a conexão entre disciplinas curriculares e contexto social dessas comunidades, algo importante para a efetividade da ID, conforme percebido no estudo no IFPB. Sobre os beneficiários das ações, os seus discursos sugerem que a distribuição de tablets deslocou o uso das TDIC de ambientes institucionais formais, incorporando essas tecnologias em várias dimensões de suas vidas. Quadro 1. Ações de ID do GF na perspectiva da educação Fonte: Análise de dados coletados no portal do GF Buscando as relações entre a política nacional e ações locais, foram identificados desdobramentos das ações federais voltadas à educação, em iniciativas estaduais e municipais. Sobre ações do GE e GM, as principais considerações podem ser vistas no Quadro 2. Ações do GE ligadas à política educacional, Banda Larga nas Escolas, Prouca, ProInfo Integrado
- 183. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 16 174 O GE evidenciou os papeis dos demais atores sociais nos processos de ID: a responsabilidade das empresas; a influência dos professores na construção de propostas que iriam além da técnica pura, voltadas à reflexão sobre a inserção das tecnologias nos processos humanos. O GE apresentou um plano de educação abrangente, com ações em diversos eixos, valorizando cultura e cidadania, e a ID enquanto um eixo a ser integrado aos demais. Na gestão participativa, as ações trouxeram as comunidades escolar e local para as escolas e para os debates no Orçamento Democrático, sugerindo fala e escuta ativas, integração social e melhoria de serviços através do conhecimento advindo dos contextos locais. Nas escolas de tempo integral, as oficinas foram ações importantes: aquela de “cultura digital”, enquanto base para debate e ação, uma vez que a sociedade apresenta “culturas digitais”, que convivem no ambiente técnico, dialogando com elementos locais; aquela de “educomunicação”, a partir dos elementos motivacionais quanto ao seu uso em contextos próprios, a partir dos temas geradores comunitários, assim como no estudo no IFPB. O GE realizou eventos para discutir as boas práticas para a ID (inclusive na educação), e os eventos tiveram transmissão online, alargando a “inclusão” e chegando a interessados no mundo físico ou virtual. Sobre os beneficiários das ações, os seus discursos, quanto às práticas de gestão compartilhada, sugeriram a aproximação dos atores sociais, ampliando o sentimento de inclusão, importante em contextos de escolas públicas. Aproximando-se de diretores, professores e alunos de escolas públicas, no estudo no IFPB, os pesquisadores entenderam a complexidade de lidar com problemas em estrutura, aspectos humanos, contextos comunitários. Nesses cenários, a gestão em parceria com interessados foi importante para realizar processos educacionais próprios e efetivos. As tecnologias potencializam mudanças, a partir das possibilidades de integração, comunicação entre diversos atores sociais, para decisões e ações de interesse público. Ações do GM ligadas à política educacional, Banda Larga nas Escolas, Prouca, ProInfo Integrado O GM investiu nas escolas implantando sistemas, adquirindo tecnologias, qualificando profissionais de forma continuada, em virtude da “necessidade” de adequação das escolas às “novas exigências sociais e tecnológicas”. Era preciso trabalhar a política pública de forma transversal, inserindo a ID em um contexto maior, com o objetivo de disponibilizar TDIC para melhorar o ensino público: a capacitação foi feita de forma continuada, acompanhando a dinamicidade das TDIC como instrumentos pedagógicos; a entrega dos computadores simbolizou o compromisso do educador com as novas propostas pedagógicas; a robótica foi usada enquanto elemento que exercia fascínio entre crianças, jovens e adultos. As qualificações dos profissionais de educação tinham duplo significado: beneficiar esses profissionais em seus processos de ID; transformá-los em agentes ativos na ID de alunos e comunidades em geral, em ações nas escolas públicas. O GM abriu as escolas em turnos opostos e finais de semana, com atividades voltadas à comunidade escolar, mas também às comunidades no entorno da escola, potencializando a apropriação dos seus espaços enquanto lugar público e a ampliação de sentimento de pertencimento a grupos sociais mais amplos. O GM sugeriu uso multidisciplinar das TDIC, o que potencializa suas ações, e ofertou essas tecnologias como condição de igualdade entre alunos da rede municipal e aqueles das demais escolas públicas ou privadas. Os debates em torno da relação entre educação e TDIC, em eventos públicos, compartilharam conhecimento e experiências em perspectivas diversas, como aspectos pedagógicos, cidadania e desenvolvimento humano.
- 184. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 16 175 Nas escolas de tempo integral, a transversalidade das oficinas se mostrou importante, sugerindo que a ID pode ser trabalhada de forma contextualizada, a partir da relação entre TDIC e outros macrocampos ou conteúdos trabalhados em sala de aula. Entre seus temas estavam a educomunicação e a ID. A experiência no IFPB apresentou formas de trabalhar essas áreas visando à promoção da cidadania e à inclusão social (fazendo uso das mídias digitais com foco nos temas geradores nas comunidades), o que foi considerado um caso de sucesso no caminho para efetividade de uso das TDIC em ambientes escolares e comunitários. Quanto aos beneficiários das ações, a escola integral representou uma mudança nas vidas dos alunos, dando sentido ao “tempo livre”, estimulando a busca pelo conhecimento e o desenvolvimento de novas práticas sociais. Em geral, as TDIC representaram mudanças “significativas” nas práticas educativas dos professores e monitores, motivação dos alunos para as aulas e melhores resultados em aprendizagem. Ações do GE e do GM Em 2010, 56% das escolas públicas do Brasil estavam conectadas à internet. Na Paraíba, esse número chegou a 95%, sendo metade delas em João Pessoa (ambas ficaram acima da média nacional). O GE e o GM desenvolveram ações de EAD, acreditando que o uso das plataformas digitais trazia, entre seus benefícios, a ampliação e a diversificação do número de pessoas atendidas em ações de qualificação. O GE e o GM desenvolveram ações de EAD, acreditando que o uso das plataformas digitais trazia, entre seus benefícios, a ampliação e a diversificação do número de pessoas atendidas em ações de qualificação. Quadro 2. Ações de ID do GE e do GM na perspectiva da educação Fonte: Análise de dados coletados nos portais do GE e GM As sociedades contemporâneas cresceram, especializaram-se e se complexificaram, e então novos modelos são propostos para acompanhar essas transformações, a dar suporte às novas estruturas de geração e transmissão de conhecimento. As tecnologias permitem a criação de um repositório virtual de conceitos, conteúdos e experiências que traduzem a vida humana, sob perspectivas diversas e próprias, compondo um conjunto de saberes, contribuindo para a inteligência coletiva, enquanto processo principalmente cognitivo. A geração do conhecimento e o acesso a este envolvem redefinições sociais que questionam papeis (professor e aluno) e processos educacionais tradicionais. Nesse sentido, os governos propuseram ensino e qualificação que valorizassem o contato com comunidades, culturas e conhecimentos particulares. Foram ainda desenvolvidas ações de qualificação de professores, alunos, monitores de espaços públicos (chamados “educadores sociodigitais”), voltadas não apenas às habilidades em TDIC, mas ao “pensar o social”, seus contextos, problemas e soluções, e a colocar as TDIC como elementos desses processos, e não o centro deles. De algumas formas, as pessoas foram empoderadas e o reconhecimento das mudanças pode ser visto em seus discursos. A mudança social se deu, em parte, de
- 185. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 16 176 acordo com as experiências de uso ou apropriação das TDIC, como os diversos atores sociais foram integrados ou não, a partir de suas visões de mundo. No IFPB, outras análises sobre os aspectos de educação digital para uso de TDIC com vistas à cidadania e à inclusão social foram desenvolvidas. Historicamente falando, as investigações realizadas sugeriram que as ações de ID no IFPB foram influenciadas pelo GF, GE e GM, sendo identificadas parcerias entre os três níveis de governos e o IFPB, em diversos momentos, entre 2007 e 2017: o IFPB participou de programas e projetos nacionais; o IFPB executou ações pontuais como oferta de qualificação em TDIC para grupos sociais específicos, em parceria com GE ou GM, influenciando o sentido das ações junto aos governos, nos cursos de qualificação. Ainda no IFPB, os processos de qualificação acompanhados através do trabalho campo, entre 2015 e 2017, foram ou experiências educacionais “tradicionais”, no programa P1, oferecendo cursos prontos e fechados (não incluíram as pessoas em seus processos de construção e não dialogaram com condições reais de existência), como aqueles de “Informática Básica” e “Montagem e Manutenção de Computadores”, ou outras mais contemporâneas, no programa P2, sendo repensadas continuamente, através de ideias inovadoras. Nas ações tradicionais, o processo de ID de uma comunidade foi interrompido, já que esta não conseguiu protagonizá-lo, o que representou uma frustração para o P1, e para a rede estabelecida em torno dessa comunidade. Em geral, as turmas no P1 apresentaram sentimentos de desencanto porque as pessoas queriam desenvolver ações complementares, mas a proposta pedagógica se limitou às aulas e o programa não se abriu para repensá-la. As ações contemporâneas, por sua vez, realizaram processos diferentes, indo às comunidades e trabalhando em parcerias com elas, no sentido de construir os processos de ID (através de oficinas técnicas ou temáticas, aulas, teatro, música, dança, desenvolvidos em ambientes institucionais, comunitários ou em praias, ruas da cidade, praças), pois ações “prontas e padronizadas” eram uma lacuna na definição da extensão. Essa ideia foi sustentada por evidências de projetos já implementados (inclusive fracassos) e sugestões da nova política de extensão, que alargava o espaço da cidadania, inclusive a partir das TDIC. A valorização da quebra dos centros de referência, do conhecimento aberto, das vozes locais, da desterritorialização das ações, das relações horizontais, foram elementos de trabalho no IFPB, no novo paradigma de extensão e nos seus pressupostos para construir uma cultura de olhar além das suas fronteiras, de ver o outro como uma fonte legítima de aprendizagem, através de relações construídas sobre confiança e respeito, sem prazo de validade e com fluxos bidirecionais de crescimento técnico e humano. Nas sociedades modernas, as zonas de significação são móveis e os processos de inteligência coletiva não se confundem com “formação” ou “erudição”, mas com o valor do conhecimento no contexto em que se está inserido. Sobre o sentido da cidadania e da inclusão social através da extensão, foram
- 186. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 16 177 evidenciados alguns cenários: no P1, algumas pessoas já se sentiam incluídas (embora buscassem mais qualificação), entretanto, a maioria se sentia excluída digital e/ou socialmente, e associava, ao IFPB, novas possibilidades de qualificação para trabalho, integração em escopos sociais maiores, autodesenvolvimento para uma cidadania mais ampla; no P2, em sua maioria, as pessoas se sentiram excluídas digital e socialmente, pela ineficiência e/ou ausência dos artefatos e/ou processos de ID e pela falta de oportunidades sociais ou acesso a bens de direito. Para os “excluídos”, o “fim” das ações do IFPB parecia uma interrupção em projetos de vida, fossem em ID, ou em cidadania. Em seus espaços, sempre faltava algo, pedia-se mais, ou infraestrutura, ou qualificação, o que evidenciou que o processo de ID para inclusão social e cidadania é complexo e requer políticas multidimensionais e contínuas, em médio ou longo prazo. Apesar desses problemas, os programas P1 e P2 deixaram contribuições importantes para as comunidades e grupos atendidos, a partir de suas perspectivas próprias de inclusão. No P1, através dos cursos que de alguma forma aproximaram as pessoas das TDIC. No P2, em alguns territórios de ação, os níveis de pobreza, de demandas diversas, eram tão grandes que as TDIC poderiam não ter significados evidentes. Entretanto, essas tecnologias foram trabalhadas enquanto motivação para pensar aspectos naturalizados, mas que requeriam mudanças em ações das comunidades ou do poder público, como a limpeza dos rios, a violência no entorno comunitário, a integração das comunidades rurais, temas importantes para a esfera pública. Em uma escola pública parceira do P2, às estratégias de ensino já desenvolvidas pelosprofessoresforamsomadasnovaspropostasdeatividadesemTDIC(porexemplo, o estudo das condições ambientais com aulas de campo, fotografias, filmagens, “aulas vivas”), o que foi considerado mais efetivo do que aulas tradicionais. Nessa escola, os trabalhos sociais já faziam parte dos projetos pedagógicos, tomando dimensões maiores, depois que o P2 apresentou a educomunicação e recursos dos smartphones a alunos e professores. A vivência no campo evidenciou a importância do conhecimento acadêmico e do popular, dos temas transversais que contextualizavam o empírico, nos processos de aproximação entre pessoas e TDIC. Embora a efetividade dos aspectos educacionais se relacione de forma direta à efetividade da ID, outras dimensões também são importantes para processos de inclusão. Por utilizar o espaço do IFPB nas suas ações, o P1 não foi diretamente afetado pela política pública de ID. Uma vez que as ações do P2 se deram em territórios de escolas e comunidades, este vivenciou, junto a parceiros, a desproteção por parte do Estado com relação às TDIC (carência de professor de informática, infraestrutura e técnicos em TDIC, entre outros).
- 187. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 16 178 4 | ALGUMAS CONCLUSÕES O reconhecimento da importância das TDIC para o desenvolvimento das sociedades, aliado à pressão para que o mundo seja incluído digitalmente, tem acelerado a reflexão sobre ações e resultados em ID. Embora a ID tenha um discurso voltado a todos, suas ações só são desenvolvidas onde chegam infraestrutura física e lógica, e conhecimento sobre como fazer uso desses recursos em prol de uma vida melhor. No Brasil, a ID é uma reivindicação social, e embora esteja associada à cidadania e à inclusão, não está disponível para todos, não se realiza plenamente. A política pública de ID promove a cidadania e inclusão, à medida que realiza expectativas da sociedade, entre elas, favorece novas perspectivas de trabalho, educação e comunicação, discute com diversos atores sociais os seus ciclos de ação, desenvolve ações mutidimensionais e específicas em contextos, aproxima, de alguma forma, as pessoas das TDIC. Entretanto, essa realização se dá em passos lentos e apresenta problemas de efetividade. Nesse contexto, a exclusão persiste, em uma lógica que reflete as desigualdades ou ausências do mundo físico, também no virtual, em várias perspectivas (como econômica, rural/urbano, gênero, etnias). Enfim, os processos de ID no Brasil estão caminhando, o lugar ocupado pelos “antes excluídos” mudou, de alguma forma, levando-os a se perceber/ser percebidos como “mais cidadãos”, pois alguns sentidos de cidadania e inclusão estão se realizando (ser reconhecido pelo Estado, que destina atenção aos seus problemas; estar conectado à rede mundial e construir relações e ações, entre outros), mas muito ainda há de ser feito em nome da inclusão efetiva de todos. No IFPB, as ações sugeriram, principalmente, a importância de pensar a ID e seus processos através de diálogo entre as partes interessadas, contrariando a ideia de realizar ações “para outros”, ainda vista como uma base para fazer extensão, nesta instituição, e fazer políticas públicas, no Brasil. A ID deve contar com processos educacionais que promovam a competência informacional e a inteligência coletiva, imprescindíveis aos processos participativos e democráticos idealizados pela sociedade em rede. Ações educacionais para autodesenvolvimento, conscientização e libertação, como a qualificação contextualizada, são vistas como a ampliação do sentido das TDIC. Referente às dificuldades da pesquisa, não foi fácil trabalhar nos portais, pois as ações de ID se capilarizaram, penetrando espaços e sendo penetradas por várias políticas públicas. Outras dificuldades foram: divergências entre GE e GM e ausência ou insuficiência da política de ID limitaram ações em territórios comunitários e escolas públicas; no IFPB, cortes financeiros inviabilizaram ações e intervenções geraram desgaste em relações profissionais e/ou pessoais. Como trabalhos futuros, a pesquisa pretende dar continuidade à análise das relações entre os dados coletados.
- 188. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 16 179 REFERÊNCIAS BRASIL. Tribunal de Contas da União. Política pública de inclusão digital / Tribunal de Contas da União. - Brasília: TCU, SeinfraAeroTelecom, 2015. CAPRA, F. “Vivendo as redes”. In: O tempo das redes. Fábio Duarte, Carlos Quandt, Queila Souza, organização. São Paulo: Perspectivas, 2008. CASTELLS, M. A Sociedade em Rede. São Paulo: Paz e Terra, 2000. CORRÊA, R. A. A Construção Social dos Programas Públicos de Inclusão Digital. 168 f. Dissertação (Mestrado em Sociologia), Universidade de Brasília, Brasília, 2007. FERREIRA, A.C. Junho de 2013: hiperetnografia de uma insurreição “invisível”. Reunião Brasileira de Antropologia, 30ª., 2016, João Pessoa. Anais... João Pessoa: Associação Brasileira de Antropologia, 2016. FOOTE-WHYTE, W. Sociedade de esquina. Rio de Janeiro: Editora Zahar, 2005. GIDDENS, A. As consequências da modernidade. São Paulo: Editora Unesp, 1991. LATOUR, B. Networks, Societies, Spheres: Reflections of an Actor-Network Theorist. International Journal of Communication. Southern California: USC Annenberg Press, 2011. Disponível em: <www. bruno-latour.fr/sites/default/files/121-CASTELLS-GB.pdf 2011>. Acesso em: 27 out. 2016. LÉVY, P. Cibercultura. Tradução de Carlos Irineu da Costa. São Paulo: Editora 34, 1999. MARTINO, L.M.S. Teoria das Mídias Digitais. Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 2015. MATTOS, F. A. M.; CHAGAS, G. J. N. Desafios para a inclusão digital no Brasil. Perspectivas em Ciência da Informação, v. 13, n. 1, 67-94, jan.-abr. 2008. MEDEIROS NETO, B.; MIRANDA, A. L. C. Uso da tecnologia e acesso à informação pelos usuários do programa Gesac e de ações de inclusão digital do governo brasileiro. Repositório Institucional – Universidade de Brasília. Inc. Soc., Brasília, DF, v. 3, n. 2, p.81-96, jan./jun., 2010. PERLONGHER, N. O Negócio do Michê. São Paulo: Perseu Abramo, 2008. QUEIRÓZ, M. I. P. Relatos orais: do “indizível” ao “dizível”. In: Von Simson, Olga M., Experimentos com Histórias de Vida (Itália- Brasil). São Paulo: Vértice, Editora dos Tribunais, pp. 14-43, 1988. RODRIGUES, A. V.; MACULAN, A. M. D. Indicadores de Inclusão Digital. TIC Domicílios e Empresas 2012: Pesquisa sobre o Uso das Tecnologias de Informação e Comunicação no Brasil. São Paulo: CETIC.BR, p. 43-50, 2013. RODRIGUES, N. N. et al. Tecnologias de Informação e Comunicação Aplicadas à Terceira Idade: A Descoberta do Mundo Virtual. Simpósio Brasileiro de Informática na Educação, 22º, Workshop de Informática na Escola, 17º, 2011, Aracajú. Anais... Aracajú: Sociedade Brasileira de Computação, 2011. RODRIGUES, N. N.; BATISTA, M. R. R. Ações e Políticas Públicas de Inclusão Digital: do global ao local, através de conceitos e processos educacionais. Congresso Brasileiro de Informática na Educação, 7º, Workshop de Informática na Escola, 24º, 2018, Fortaleza. Anais... Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, 2018. SANTIAGO, L. B. M. et al. O uso das Tecnologias Digitais na busca da superação do analfabetismo.
- 189. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 16 180 Simpósio Brasileiro de Informática na Educação, 27., Congresso Brasileiro de Informática na Educação, 5., 2016, Uberlândia. Anais... Uberlândia: Sociedade Brasileira de Computação, 2016.
- 190. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 17 181 EDUCAÇÃO, MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE CAPÍTULO 17 doi Tânia Maria Figueiredo Barreto Freitas Licenciada em Letras-Português/inglês, pela Faculdade de Tecnologia e Ciências FTC (2009). Especialista em Psicopedagogia Institucional com Habilitação em Educação Especial, pela Faculdade Montenegro (2011). Bacharela em Serviço Social pela UNOPAR, (2017). Professora de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira (Ensino Médio), Col. Est. Sofia Mascarenhas. Mestranda em Ciências da Educação pela ANNE SULLIVAN UNIVERSITY. Contato: taniamfbarreto@yahoo.com.br. RESUMO: A reflexão sobre as práticas sociais, em um contexto marcado pela degradação permanente do meio ambiente e do seu ecossistema, cria uma necessária articulação com a produção de sentidos sobre a educação ambiental e a sustentabilidade. A dimensão ambiental configura-se crescentemente como uma questão que diz respeito a área educacional, potencializando o envolvimento dos diversos sistemas de conhecimento, a capacitação de profissionais e a comunidade numa perspectiva interdisciplinar. O desafio que se coloca é de formular uma educação ambiental que seja crítica e inovadora todos os níveis. Assim, ela deve ser acima de tudo um ato político voltado para a transformação social. O seu enfoque deve buscar uma perspectiva de ação holística que relaciona o homem, a natureza e o universo, tendo como referência que os recursos naturais se esgotam e que o principal responsável pela sua degradação é o ser humano. PALAVRAS-CHAVE: Sustentabilidade – Desenvolvimento – Educação Ambiental ABSTRACT:Thereflectiononsocialpractices,in a context marked by the permanent degradation of the environment and its ecosystem, creates a necessary articulation with the production of meanings about environmental education and sustainability. The environmental dimension is increasingly seen as an issue that concerns the educational area, enhancing the involvement of the different knowledge systems, the training of professionals and the community in an interdisciplinary perspective. The challenge is to formulate an environmental education that is critical and innovative at all levels. Thus, it must above all be a political act aimed at social transformation. His approach should seek a perspective of holistic action that relates man, nature and the universe, having as reference that natural resources are exhausted and that the main responsible for its degradation is the human being. KEYWORDS: Sustainability - Development - Environmental Education
- 191. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 17 182 INTRODUÇÃO A reflexão sobre as práticas sociais, em um contexto marcado pela degradação permanente do meio ambiente e do seu ecossistema, envolve uma necessária articulação com a produção de sentidos sobre a educação ambiental. A dimensão ambiental configura-se crescentemente como uma questão que envolve um conjunto de atores do universo educativo, potencializando o engajamento dos diversos sistemas de conhecimento, a capacitação de profissionais e a comunidade universitária numa perspectiva interdisciplinar. Nesse sentido, a produção de conhecimento deve necessariamente contemplar as inter-relações do meio natural com o social, incluindo a análise dos determinantes do processo, o papel dos diversos atores envolvidos e as formas de organização social que aumentam o poder das ações alternativas de um novo desenvolvimento, numa perspectiva que priorize novo perfil de desenvolvimento, com ênfase na sustentabilidade socioambiental. A QUESTÃO AMBIENTAL O enfrentamento á essa questão implica na compreensão de suas causas econômicas, sociais e políticas. A prática profissional pressupõe o conhecimento acerca do objeto de intervenção, é preciso capacitar-se para que possam ser criadas estratégias de enfrentamento, sem cair no reducionismo ou na demagogia.Aapreensão da crise ambiental perpassa as relações homem-natureza, insere-se nas relações sociais e pressupõe a contemplação da questão ambiental, fruto desse processo e refletir acerca da relação entre o Serviço Social e a questão ambiental. A questão ambiental emerge quando a humanidade percebe que os recursos naturais são finitos, e que utilizá-los indevidamente pode acarretar o fim de sua existência (Leff, 2001). Passa a ser então, alvo de intensos debates, polêmicas e preocupações, por conta da ameaça à continuidade da vida. As problemáticas ambientais são agravadas não apenas pela gestão inadequada dos recursos, mas também pela apropriação desigual dos bens ambientais. O fato é que em nossa sociedade evidencia-se a distribuição desigual do acesso aos bens ambientais e de seus usos, destinando-se a maior carga dos riscos e danos ambientais ás populações marginalizadas e vulneráveis, e por isso as pessoas provenientes das camadas mais pobres são as mais afetadas, o que se expressa na precária qualidade de vida a que estão submetidas. O Meio Ambiente é privatizado, e os problemas ambientais coletivizados. O desenvolvimento da ciência, aliado ao conseqüente impacto ambiental de suas tecnologias, fez com que o mundo experimentasse, paradoxalmente, por um lado, um bem estar jamais visto na história da humanidade, cuja decorrência maior é aumento da longevidade e das necessidades "psicológicas"; e, de outro lado, um estado de miséria e penúria socioeconômica já vivenciado por coletividades no passado, mas jamais estendido a tantos lugares ao mesmo tempo e a um número tão grande da população mundial.
- 192. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 17 183 A QUESTÃO SOCIAL E O MEIO AMBIENTE Meio Ambiente diz respeito à qualidade de vida, e é importante frisar que os direitos básicos da população, viabilizados pelo Assistente Social, e a própria garantia da qualidade de vida, dependem da qualidade do ambiente no qual se está inserido. Leonard (1989, p.18) cita o exemplo de algumas favelas urbanas, onde as condições fisicamente precárias “agravam seriamente a vulnerabilidade dos pobres” a um conjunto de problemas que vão desde doenças ocasionadas pela falta de saneamento a diversos desastres naturais, tais como inundações e deslizamentos. Face á essas questões, surge a necessidade do uso sustentável dos recursos naturais, para atender as necessidades humanas, permitindo a recuperação dos recursos naturais. Essa perspectiva de sustentabilidade pressupõe ainda a distribuição igualitária dos bens ambientais e a solidariedade geracional, em benefício às gerações futuras. No entanto, uma sociedade que prima pela sustentabilidade não pode ser pensada em um modo de produção que depende do uso insustentável dos recursos. Nessa perspectiva, o Assistente Social é um profissional que pode se articular com os movimentos sociais, está próximo das camadas menos favorecidas, possui uma função educativa, e cujo projeto-ético político aponta na direção da emancipação humana, e da construção de outra sociabilidade. CARACTERÍSTICAS E DESAFIOS DO TERCEIRO SETOR O estudo, a discussão e a reflexão sobre o Terceiro Setor é assunto atual e pertinente no contexto acadêmico, à medida que se busca uma compreensão específica e atualizada sobre a atuação de diferentes profissionais nessas organizações, considerando a busca da qualidade social para os serviços prestados. O Terceiro Setor se configurou, no decorrer dos últimos vinte anos, dentro de um contexto social, econômico e político marcado pela complexidade, incerteza, instabilidade e mudanças aceleradas, em uma dimensão globalizada e de grande desenvolvimento tecnológico e científico. Em contrapartida, de muita pobreza e desigualdade social. Considerando a sua dimensão, é fato que o Terceiro Setor tem ocupado e desempenhado um papel de vital importância na dinâmica de uma sociedade, cujos cidadãos estão mais conscientes e convictos de seus direitos, mas, sobretudo, da importância de sua participação no processo de transformação de realidades que não apenas oprimem e massificam, mas também podem destruir o ser humano. Apesar da diversidade das instituições que compõem o Terceiro Setor, elas compartilhamdealgumascaracterísticasemcomum,importantesdeseremressaltados: A primeira delas é que , quando atuam na área da assistência social, saúde ou educação, geralmente trabalham com pessoas e famílias que estão à margem do processo produtivo ou fora do mercado de trabalho, não tendo acesso aos bens e serviços necessários ao suprimento de suas necessidades básicas. Portanto,
- 193. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 17 184 enquadram-se no artigo 2º da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), que coloca a maternidade, crianças e adolescentes, idosos, famílias e portadores de deficiência como alvos de proteção, amparo e capacitação para que tenham qualidade de vida e acesso às políticas sociais. Asegunda característica dessas instituições é que, apesar de não se constituírem de caráter público, desenvolvem um trabalho de interesse público. Hoje a assistência social perdeu seu caráter, historicamente dado, de caridade, benevolência e favor, tornando-se política pública de garantia de direitos do cidadão. O mesmo aconteceu com a saúde e a educação. São direitos de cidadania garantidos pela Constituição Federal de 1988 e respectivas Leis Orgânicas. O atendimento a esses direitos, portanto, faz parte de um interesse público e, qualquer instituição que trabalhe na perspectiva de defesa desses direitos e garantia da cidadania, está cumprindo um fim público, pois se volta para o outro que, de alguma forma, está sendo explorado, excluído ou destituído. Uma terceira característica que lhes é comum é que são entidades que não mantém uma relação mercantil com a sociedade. Não trabalham voltadas para o lucro no sentido do interesse capitalista. As receitas advindas de doações, convênios e/ ou prestação de serviços, são revertidas para a própria instituição, não havendo distribuição de “lucros” entre seus diretores ou associados. Esse é mais um dado que as enquadra como instituições de assistência social, segundo o artigo 3º da LOAS. A necessidade de abordar o tema da complexidade ambiental decorre da percepção sobre o incipiente processo de reflexão acerca das práticas existentes e das múltiplas possibilidades de, ao pensar a realidade de modo complexo, defini-la como uma nova racionalidade e um espaço onde se articulam natureza, técnica e cultura. Refletir sobre a complexidade ambiental abre uma estimulante oportunidade para compreender a gestação de novos atores sociais que se mobilizam para a apropriação da natureza, para um processo educativo articulado e compromissado com a sustentabilidade e a participação, apoiado numa lógica que privilegia o diálogo e a interdependência de diferentes áreas de saber. Mas também questiona valores e premissas que norteiam as práticas sociais prevalecentes, implicando mudança na forma de pensar e transformação no conhecimento e nas práticas educativas. A realidade atual exige uma reflexão cada vez menos linear, e isto se produz na inter- relação dos saberes e das práticas coletivas que criam identidades e valores comuns e ações solidárias diante da reapropriação da natureza, numa perspectiva que privilegia o diálogo entre saberes. A preocupação com o desenvolvimento sustentável representa a possibilidade de garantir mudanças sociopolíticas que não comprometam os sistemas ecológicos e sociais que sustentam as comunidades. CONSIDERAÇÕES FINAIS A necessidade de abordar o tema da complexidade ambiental decorre da
- 194. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 17 185 percepção sobre o incipiente processo de reflexão acerca das práticas existentes e das múltiplas possibilidades de, ao pensar a realidade de modo complexo, defini-la como uma nova racionalidade e um espaço onde se articulam natureza, técnica e cultura. Refletir sobre a complexidade ambiental abre uma estimulante oportunidade para compreender a gestação de novos profissionais que se mobilizam para a apropriação da natureza, para um processo educativo articulado e compromissado com a sustentabilidade e a participação, apoiado numa lógica que privilegia o diálogo e a interdisciplinaridade de diferentes áreas de saber. Mas também questiona valores e premissas que norteiam as práticas sociais, incentivando mudança na forma de pensar e transformação no conhecimento e nas práticas educativas. A realidade atual exige uma reflexão cada vez menos linear, e isto se produz na inter-relação dos saberes e das práticas coletivas que criam identidades e valores comuns e ações solidárias diante da garantia da natureza, numa perspectiva que privilegia o diálogo entre saberes. A preocupação com o desenvolvimento sustentável representa a possibilidade de garantir mudanças sociopolíticas que não comprometam os sistemas ecológicos e sociais que sustentam as comunidades, criando laços que possam gerar uma mudança que realmente faça a diferença no que se refere a questão ambiental. REFERÊNCIAS AGUIAR, R. A. R. Direito do Meio Ambiente e participação popular. Brasília: Ibama, 2006. BEHRING, E. R; BOSCHETTI, I. Política Social: fundamentos e história. São Paulo: Cortez, 2006. BOFF, L.. Saber cuidar: ética do humano, compaixão pela terra. 11 ed. Petrópolis: Vozes, 2004. BRASIL. Congresso Nacional. Lei nº. 8.6662, de 07 de junho de 1993, que dispõe sobre a profissão de Assistente Social e dá outras providências. CASTRO, M. H. G. Sistemas de avaliação da educação no Brasil: avanços e novos desafios. São Paulo em Perspectiva, São Paulo, Fundação Seade, v. 23, n. 1, p. 5-18, jan./jun. 2009. COSTA, S. F.. O Espaço contemporâneo de fortalecimento das organizações da sociedade civil, sem fins lucrativos: o Terceiro Setor em evidência. IN: O Desafio da Construção de uma Gestão Atualizada e Contextualizada na Educação Infantil: um estudo junto às creches e pré-escolas não governamentais que atuam na esfera da assistência social, no município de Londrina-Pr. 2003; 233p. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade de São Paulo – USP ________. Gestão de Pessoas no Terceiro Setor. In: Revista Integração (eletrônica), CETS/FGVSP, novembro de 2003. LEFF, Enrique. (Coord.). A complexidade ambiental. São Paulo: Cortez, 2003. ____________. Saber ambiental: sustentabilidade, racionalidade, complexidade e poder. Rio de Janeiro: Vozes, 2001. CARVALHO, I. A Invenção ecológica. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2001. JACOBI, P. Cidade e meio ambiente. São Paulo: Annablume, 1999. .
- 195. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 17 186 ____________Meio ambiente urbano e sustentabilidade: alguns elementos para a reflexão. In: CAVALCANTI, C. (org.). Meio ambiente, desenvolvimento sustentável e políticas públicas. São Paulo: Cortez, 1997. p.384-390 ______. Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica. Secretaria da Educação Básica. Diretoria de Currículo e Educação Integral. Ministério da Educação, 2013. LIBÂNEO, José Carlos. Educação Escolar: políticas, estrutura e organização. São Paulo: Cortez, 2012, p. 270. 12 LIBÂNEO, José Carlos, opere citato, p. 264.
- 196. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 18 187 GESTÃO DA ESCOLA PÚBLICA E UTILIZAÇÃO DE TICS POR PROFESSORES DE EDUCAÇÃO BÁSICA CAPÍTULO 18 doi Artur Pires de Camargos Júnior Universidad de la Empresa, Facultad de Ciencias de la Educación Montevideo – Uruguay RESUMO: O tema desta pesquisa é o papel da Gestão Escolar em relação à utilização de TICs como recurso didático-pedagógico por Professores de Educação Básica. O problema que norteou a investigação foi: Como a Gestão Escolar pode contribuir para a utilização de TICs como recurso didático-pedagógico por Professores de Educação Básica? Trata-se de uma análise que pode contribuir para o aperfeiçoamento das práticas de gestão em escolas públicas desde a Educação Infantil até o Ensino Médio. O objetivo geral, portanto, foi compreender a atuação da Gestão Escolar no fomento à utilização de TICs por Professores de Educação Básica. O estudo se justifica por tratar de um assunto pouco abordado na pesquisa científica brasileira. No contexto da cibercultura, a geração de estudantes nativos digitais exige mudanças na postura da escola em relação ao processo de ensino-aprendizagem. A Gestão Escolar, assim, pode contribuir para a melhoria deste processo nas escolas públicas de Educação Básica. A metodologia baseou-se em pesquisa qualitativa, exploratória e bibliográfica. Osprincipaisreferenciaisteóricosquesustentam as argumentações são de Heloísa Lück, Marc Prensky, Francisco Imbernón, Pierre Lévy e Maurício Gebran. A preferência por autores nacionais e internacionais se justifica pelo interesse em expandir a compreensão do tema. Constatou-se, então, que a Gestão Escolar deve atuar em três aspectos: formação docente continuada, acesso aos recursos tecnológicos e promoção de uma cultura de utilização de TICs. Em tempos de cibercultura, a escola necessita se reformular enquanto promotora do acesso ao conhecimento e a iniciativa deve partir dos profissionais que nela atuam. PALAVRAS-CHAVE: Gestão Escolar. TICs. Professor. ABSTRACT: The theme of this research is the role of School Management in relation to the use of ICT as a didactic-pedagogical resource by Basic Education Teachers. The problem that led to the investigation was: How can School Management contribute to the use of ICT as a didactic-pedagogical resource by Basic Education Teachers? It is an analysis that can contribute to the improvement of management practices in public schools from Early Childhood Education to High School. The general objective, therefore, was to understand the performance of School Management in the promotion of the use of ICT by Primary Education Teachers. The study is justified because it deals with a
- 197. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 18 188 subject that has not been approached in Brazilian scientific research. In the context of cyberculture, the generation of digital native students demands changes in the posture of the school in relation to the teaching-learning process. The School Management, therefore, can contribute to the improvement of this process in public schools of Basic Education. The methodology was based on qualitative, exploratory and bibliographic research. The main theoretical references that support the arguments are Heloísa Lück, Marc Prensky, Francisco Imbernón, Pierre Lévy and Maurício Gebran. The preference for national and international authors is justified by the interest in expanding the understanding of the theme. It was verified that the School Management should act in three aspects: continuous teacher training, access to technological resources and promotion of a culture of ICT use. In times of cyberculture, the school needs to reformulate itself as a promoter of access to knowledge and the initiative must come from the professionals who work in it. KEYWORDS: School management. ICT. Teacher. 1 | INTRODUÇÃO A utilização crítica de Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) como recurso didático-pedagógico por Professores de Educação Básica (PEBs) favorece a qualidade da Educação. O tema desta pesquisa é o papel que a Gestão Escolar (GE) assume enquanto incentivadora deste uso. Propõe-se o seguinte problema de investigação: Como a Gestão Escolar pode contribuir para a utilização de TICs como recurso didático-pedagógico por Professores de Educação Básica? Em relação às justificativas, destaca-se que a Gestão Escolar é decisiva no fomento à utilização deTICs por Professores de Educação Básica. No Brasil, no entanto, poucas pesquisas abordam o tema, que se relaciona diretamente à aprendizagem da atual geração de estudantes (a geração Z, tipicamente tecnológica). Outra justificativa importante é a relação do tema com o protagonismo dos gestores locais em relação à elevação da qualidade do ensino. Acredita-se na iniciativa dos Profissionais da Educação no próprio local de trabalho para promover um ensino que seja significativo para os estudantes. O objetivo geral desta investigação é compreender a atuação da GE no fomento à utilização de TICs como recurso didático-pedagógico por Professores de Educação Básica. Traçaram-se os seguintes objetivos específicos: analisar o papel da GE enquanto articuladora da formação docente continuada para a utilização de TICs; investigar a atuação da GE enquanto promotora do acesso às TICs e analisar as ações da Gestão Escolar enquanto incentivadora de uma cultura de utilização de TICs. 2 | REVISÃO DE LITERATURA No Brasil, a Educação Básica é composta pela Educação Infantil, Ensino
- 198. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 18 189 Fundamental e Ensino Médio. O PEB é o profissional licenciado para atuar ou na Educação Infantil e Anos Iniciais (1º ao 5º) do Ensino Fundamental (no caso do graduado em Pedagogia – Licenciatura Plena) ou nos Anos Finais (6º ao 9º) do Ensino Fundamental e Ensino Médio (graduados em Licenciaturas específicas). AGE deve ser exercida de maneira integrada pelo Diretor, Vice-diretor, Supervisor Pedagógico e Orientador Educacional. Lück (2001) corrobora esta noção ao propor que a equipe gestora trabalhe de modo sinérgico. Objetivos e metas comuns devem pautar a atuação da equipe para que se obtenha uma Educação de qualidade. A Gestão Escolar ocorre em três dimensões (pedagógica, administrativa e financeira). Elas são complementares entre si e permitem ao gestor alcançar níveis de autonomia juntamente com o coletivo da instituição de ensino (LÜCK, 2009). Conforme Gebran (2009), as TICs são ferramentas que conjugam os recursos de armazenamento e processamento da informação. Elas possibilitam a comunicação, interação e colaboração entre pessoas separadas no espaço e/ou no tempo. Peré (2009, p. 206) complementa o conceito ao indicar que as novas TICs são “basadas en Internet” (baseadas em Internet). A cibercultura, termo proposto por Lévy (1999), corresponde à cultura criada pela utilização das TICs na sociedade. As formas de pensar, registrar e divulgar ideias transcendem as barreiras do meio físico e adquirem cada vez mais um caráter virtual. Ao assumir o trabalho didático, o PEB se sente despreparado para desenvolver um ensino com tecnologias. Imbernón (2011, p. 43) corrobora esta ideia ao considerar que o “tipo de formação inicial que os professores costumam receber não oferece preparo suficiente para aplicar uma nova metodologia, nem para aplicar métodos desenvolvidos teoricamente na prática de sala de aula”. A mera utilização de TICs na sala de aula não inova o ensino. É necessário desenvolver competências e habilidades para tal uso. Imbernón (2011, p. 40) afirma: Devemos evitar a perspectiva denominada genericamente “técnica” ou “racional- técnica” e basear os programas de formação no desenvolvimento de competências [...] que consistem em determinados tipos de estratégias tendentes a realizar a mudança com procedimentos sistemáticos [...]. Conforme Prensky (2017), os nativos digitais são a nova geração de estudantes (geração Z) e a geração Y. Pischetola (2016, p. 40) destaca que eles são “uma geração extremamente habilidosa no uso técnico das mídias digitais e no acesso aos recursos da web”. A GE deve estar atenta ao ensino que se oferece aos nativos digitais, pois as TICs podem dinamizar o trabalho didático e estimular o interesse discente. 3 | RESULTADOS E DISCUSSÃO Conforme Gil (2002), classifica-se a investigação como qualitativa em relação à abordagem. No que se refere aos objetivos, a pesquisa é exploratória. Já em relação
- 199. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 18 190 aos procedimentos utilizados, classifica-se este trabalho como bibliográfico. Os resultados apontam três ideias-força que sustentam a pesquisa. A primeira ideia-força indica que a GE deve promover a formação continuada dos PEBs na perspectiva do desenvolvimento de competências e habilidades para utilização de TICs como recurso didático-pedagógico. Imbernón (2011), ao desvelar as falhas no processo de formação inicial docente, atribui importância significativa aos processos de formação continuada. As condições da formação inicial obtida nas licenciaturas são insuficientes no que se refere à apropriação das TICs. Além disso, no passado os cursos de formação docente não apresentavam disciplinas sobre a inserção de tecnologias na Educação Básica. Háalgumasdécadas,nãoeracomumutilizarTICsnasescolas,oqueinfluenciou toda uma geração de professores que ainda hoje atua na rede pública de ensino. Atualmente, os currículos dos cursos de formação docente brasileiros apresentam, na maioria das vezes, apenas teorias sobre os novos recursos tecnológicos. A escola é o lócus privilegiado da formação docente continuada, pois as necessidades de desenvolvimento de competências e habilidades surgem no cotidiano do trabalho didático (IMBERNÓN, 2011). Assim, o Gestor Escolar deve se atentar ao trabalho dos docentes em um modelo de gestão por competências. A avaliação de desempenho dos PEBs, neste sentido, favorece o monitoramento da utilização de TICs e possibilita identificar lacunas que indicarão a necessidade de formação continuada. Os momentos de capacitação podem ocorrer nas reuniões pedagógicas. Uma alternativa viável seria identificar sujeitos mais experientes na utilização de TICs em sala de aula (outros professores ou técnicos que trabalhem nos setores de Tecnologia Educacional dos órgãos governamentais, por exemplo). Duas dimensões da Gestão Escolar, na perspectiva de Lück (2009), relacionam-se neste contexto: a dimensão pedagógica (no que se refere à formação docente) e a administrativa (no tocante à gestão de pessoas). A segunda ideia-força desta investigação remete ao papel da GE em relação ao acesso às TICs, o que caracteriza as dimensões administrativa e financeira propostas por Lück (2009). Viabilizar tal acesso será possível se um conjunto de ações ocorrerem de forma integrada. Algumas destas ações são a manutenção dos recursos tecnológicos disponíveis nas escolas e a prevenção de danos aos equipamentos. Tais iniciativas se justificam pela constatação de que à noção de patrimônio público muitas vezes se associa o descuido por parte dos próprios usuários. Não se admite, tão pouco, que os Laboratórios de Informática e os equipamentos móveis mantenham-se inacessíveis aos PEBs e aos estudantes para evitar danos. A utilização de TICs é um direito dos atores principais do processo de ensino- aprendizagem (professor e aluno) em um contexto de cibercultura (LÉVY, 1999). Quanto à aquisição de equipamentos, as escolas públicas podem participar de programas governamentais. Uma outra forma de obter tecnologias é a participação dos estudantes, PEBs e da própria equipe gestora em concursos que premiem vencedores.
- 200. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 18 191 A presença de PEBs ou estudantes com necessidades educacionais especiais (NEEs) na escola exige atenção, por parte da GE, às condições de acessibilidade em relação às TICs. Os Professores de Apoio, que atendem ao público-alvo da Educação Especial, também devem apoiar a promoção da acessibilidade. Adaptações arquitetônicas (rampas e portas mais largas, por exemplo) e de mobiliário (móveis adaptados) não podem ser descartadas pela equipe gestora. A terceira ideia-força é a mais complexa, pois integra as ideias anteriores e revela o maior desafio à utilização de TICs na Educação Básica. Trata-se de criar uma cultura de utilização de tecnologias na escola, o que delineia a integração entre as dimensões pedagógica e de gestão de pessoas. Na perspectiva de Prensky (2017), esta questão se relaciona diretamente às tensões entre nativos digitais e imigrantes digitais. Lück(2009,p.116)consideraqueaculturaorganizacionalcompreendeas“práticas regulares e habituais da escola, a sua personalidade coletivamente construída”. Neste conjunto, incluem-se o trabalho da equipe gestora e dos professores, o papel assumido pelos estudantes, os níveis de participação da comunidade, as TICs disponíveis, as metodologias e ideologias que sustentam o trabalho coletivo. Alterar as posturas, os valores e as concepções sobre o que é ensinar, o que é aprender, o que são e como utilizar as TICs é um processo que ocorre paulatinamente. São ações complexas que demandam iniciativa por parte da GE para mobilizar o corpo docente, bem como exige comprometimento dos PEBs. A equipe gestora deve, ao constatar a mudança na cultura organizacional da escola, registrar democraticamente no Projeto Político-Pedagógico (PPP) o novo perfil de trabalho comTICs.Após o registro, é também missão da GE retomar constantemente a utilização de Tecnologias como aspecto cultural da escola. 4 | CONSIDERAÇÕES FINAIS Ao concluir a pesquisa, o autor considera que cumpriu o objetivo geral e os específicos. As ideias-força apresentadas sistematizam referenciais teóricos diversos em torno do papel da Gestão Escolar no fomento à utilização de TICs por Professores de Educação Básica. A partir do problema de pesquisa, sustentaram-se práticas de GE na liderança de uma verdadeira inclusão digital dos PEBs nas unidades escolares públicas. Recomenda-se o aprofundamento das discussões propostas nesta investigação, pois seria interessante conhecer outras perspectivas sobre o tema. É desejável também que a formação dos gestores escolares aborde explicitamente as questões referentes à utilização de TICs por Professores de Educação Básica. Acredita-se que somente com esforço e comprometimento coletivo será possível fortalecer os atores da gestão tecnológica nas escolas públicas.
- 201. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 18 192 REFERÊNCIAS GEBRAN, M. P. Tecnologias educacionais. Curitiba: IESDE, 2009. GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002. IMBERNÓN, F. Formando professores profissionais: formar-se para a mudança e a incerteza. 9. ed. São Paulo: Cortez, 2011. LÉVY, P. Cibercultura. São Paulo: Editora 34, 1999. LÜCK, H. Ação integrada: Administração, Supervisão e Orientação Educacional. 18. ed. Petrópolis: Vozes, 2001. __________. Dimensões da gestão escolar e suas competências. Curitiba: Positivo, 2009. PERÉ, N. Los proyectos educativos y las TIC. In: NORBIS, L. B. (Coord.). Educación en clave para el desarrollo. Montevideo: UDELAR, 2009. p. 205-213. PISCHETOLA, M. Inclusão digital e educação: a nova cultura da sala de aula. Petrópolis: Vozes, 2016. PRENSKY, M. Nativos digitais, imigrantes digitais. Disponível em: <http://www .colegiongeracao. com.br/novageracao/2_intencoes/nativos.pdf>. Acesso em: 16 ago. 2017.
- 202. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 19 193 O LETRAMENTO DIGITAL E A INCLUSÃO DIGITAL NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (EAD): UM ESTUDO DE CASO COM DISCENTES DO CURSO DE BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CAPÍTULO 19 doi Ana Paula da Silva Universidade Federal Rural de Pernambuco Bacharelado em Administração Pública Recife-PE Maria do Carmo Maracajá Alves Universidade Federal Rural de Pernambuco Programa de Pós-graduação em Ensino das Ciências e Matemática Recife-PE Alessandra Carla Ceolin Universidade Federal Rural de Pernambuco Departamento de Administração Recife-PE Alexandre de Melo Abicht Faculdade CNEC Gravataí Faculdade de Administração Gravataí-RS RESUMO: Esse artigo discute a importância do letramento digital nas práticas sociais de leitura e escrita da atualidade, bem como, a inclusão das novas tecnologias da informação e comunicação (TIC). Dessa forma, pretende-se proporcionar uma análise das contribuições do ensino a distância para o letramento digital, considerando que o aparecimento dos cursos de educação a distância no brasil criou possibilidades para os indivíduos que não dispunham de condições de estudar em um curso presencial, pudessem realizar os seus sonhos através do curso a distância - modalidade que proporciona a inclusão digital. Trata-se de uma pesquisa social exploratória, de natureza qualitativa. Na coleta de dados, utilizou-se um questionário semiestruturado contendo 31 perguntas abertas e/ou fechadas. Os resultados apontam que a maioria dos respondentes (57,1%) são do gênero feminino e possuem idade acima de 26 anos. Apenas 2 deles afirmaram não possuir computador em casa antes de iniciar o curso e todos informaram utilizar a internet diariamente. Para os respondentes, é importante o uso do computador também nas aulas presenciais. Verificou-se que apesar do curso ser vivenciado a distância e ter como principal ferramenta o computador, os alunos na sua maioria não utilizam apenas recursos digitais, mas também material impresso. A possibilidade da administração do tempo e a oportunidade de adquirir novos conhecimentos são alguns dos fatores apontados. PALAVRAS-CHAVE: Letramento Digital; Inclusão Digital; Tecnologias Da Informação E Comunicação; Educação A Distância. ABSTRACT: this article discusses the importance of digital literacy in current social reading and writing practices, as well as the inclusion of new information and communication technologies (ICT). Thus, it is intended to
- 203. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 19 194 provide an analysis of the contributions of distance learning to digital literacy, considering that the appearance of distance education courses in brazil created possibilities for individuals who did not have the conditions to study in a classroom course, could to realize their dreams through the distance course, modality that provides the digital inclusion. It is an exploratory social research of a qualitative nature. For the data collection, a semi-structured questionnaire containing 31 open and / or closed questions was used. The results indicate that the majority of respondents (57.1%) are female and are over 26 years old. Only 2 of them said they did not have a computer at home before starting the course and everyone reported using the internet on a daily basis. It was verified that although the course is experienced in the distance modality and have as main tool the computer, the students mostly do not use only digital resources, but also printed material. The possibility of time management and the opportunity to acquire new knowledge are some of the factors pointed out. KEYWORDS: Digital Literacy; Digital Inclusion; Information And Communication Technologies; Distance Learning. 1 | INTRODUÇÃO Na atualidade, a Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) tem criado possibilidades na sociedade modificando as atividades por meio de ferramentas tecnológicas. Hoje, a tecnologia digital é uma realidade, despontando, dessa forma, novas modalidades de leitura e escrita e desencadeando novas práticas e eventos de letramento. A inclusão digital pode ser entendida como o acesso democrático à tecnologia, permitindo a introdução de todos na era da informação. Apesar da consciência de viver em uma sociedade democrática, se conhece que as oportunidades são diferentes para cada região e para cada cidadão, ainda mais entendendo que o Letramento Digital é aptidão que tem uma pessoa de se envolver com a utilização dos recursos tecnológicos, abrangendo a capacidade de avaliar criticamente informações disponíveis na internet, sendo capaz de utilizá-las no ambiente digital. Diante do exposto, pode-se conceituar que a inclusão digital é um procedimento que precede o letramento digital e, apesar do discernimento de que as chances não são iguais para todos os indivíduos, a escola pode colaborar e tornar a TIC acessível a toda comunidade escolar. No entanto, é interessante e considerável não limitar (...) a participação apenas como uma questão de acesso físico individual à tecnologia é equivocada. O problema da participação traz à tona o complexo problema relacionado à formação discursiva da vontade. Que diz respeito, também, a uma política favorável ao desenvolvimento do potencial discursivo (ALMEIDA, 2003, p.214). Pode-se afirmar que a educação está em um momento de transição, as transformações tecnológicas evoluem em um curto espaço de tempo, exigindo
- 204. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 19 195 formas de pensar e agir adequadas a essas novas possibilidades de aprendizagem, transformando o conhecimento e a educação em uma moeda forte, com a oportunidade de um maior conhecimento. Entretanto, ao mesmo tempo em que a tecnologia abre possibilidades de compartilhamento de ideias; informações e interações de redes; aproximando as pessoas, também repercute no processo de exclusão social, principalmente nas classes desprestigiadas economicamente. Segundo Thomassen (1999, p. 7 apud FONSECA, 2005, p. 58), “essa revolução não apenas pode consolidar desigualdades sociais como também elevá-las, pois aprofunda o distanciamento cognitivo entre aqueles que já convivem com ela e os que dela estão apartados”. Estapossibilidadedecompartilhamentoampliadapelastecnologiasdainformação permite, de forma rápida, propagar e inovar um mercado comunicativo nunca alcançado, sendo seu grande desafio garantir imparcialmente e indiscriminadamente o direito de participação das diferentes classes sociais, capacitando-as para as novas oportunidades das tecnologias da comunicação e da informação. Considera-se que a exclusão digital é um problema além do não acesso aos recursos físicos, reflete o despreparo para a compreensão do acesso às informações, sendo um fator preocupante. Sem acesso aos benefícios tecnológicos, os indivíduos enfrentam dificuldades de inserir-se socialmente, ficando à margem da sociedade virtual/digital. A falta de domínio dos aparatos digitais gera um processo de seleção tecnológica entre os indivíduos, tornando aqueles que não conseguem dominá-la, excluídos da sociedade tecnológica. A exclusão digital torna-se um problema não apenas relacionado ao não acesso aos recursos físicos de rede, mas principalmente ao despreparo das pessoas para acessar e usar as informações desse meio (AUN, 2007, p. 121). Diante do que foi exposto, este artigo está direcionado para a questão do letramento digital, procurando identificar os níveis de letramento dos alunos da Educação à Distância e suas contribuições para uma prática docente mais inovadora. De um modo geral, ainda é incipiente a familiaridade dos professores e do alunado em relação às TICs. Dessa forma, questiona-se: será que a Educação a Distância (EAD) tem possibilitado o acesso à inclusão e ao Letramento Digital, oferecendo os ingredientes necessários a uma apropriação colaborativa e democrática dos meios digitais interativos? Assim, o objetivo geral dessa pesquisa é o de analisar as contribuições do Ensino à Distância para o Letramento Digital, a fim de perceber a capacidade dos alunos em localizar, filtrar e avaliar criticamente informações disponibilizadas eletronicamente, além de buscar compreender a familiaridade com as normas que regem a comunicação com outras pessoas por meio dos sistemas computacionais. Alémdesseobjetivogeral,pretende-severificarseoletramentodigitaldesempenha
- 205. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 19 196 papel importante para a inclusão digital dos alunos, possibilitando mudanças das práticas, através do acesso e conhecimento do código digital, passaporte para o pertencimento à sociedade da informação; investigar como os alunos integram as ferramentas computacionais em sua prática discente, e, investigar se as tecnologias utilizadas no processo de educação à distância enriquecem a mediação pedagógica e a interação entre os alunos. 2 | REVISÃO DA LITERATURA 2.1 Letramento O letramento está relacionado ao uso efetivo que as pessoas fazem da alfabetização que tiveram. Denominam-se agências de letramento, os diversos espaços que orientam as práticas de indivíduos e comunidades para letramentos. Assim, pessoas e comunidades podem ser letradas em espaços diversos e por meio de práticas distintas (KLEIMAN, 1995). No livro "Letramento e Alfabetização” específica que "a urgência de se falar em letramento manifestou-se da conquista de conhecimento que se deu, especialmente entre os linguistas, de que havia algo além da alfabetização, que era mais abundante e determinante” (TFOUNI, 2010, p.32). Scribner e Cole (1981) definem letramento como “um conjunto de práticas sociais que usam a escrita, enquanto sistema simbólico e enquanto tecnologia em contextos específicos, para objetivos específicos”. Para os autores, a prática da escrita depende da relação individual que o sujeito tem com ela e esta será definida ou determinada pelas condições necessárias ao seu uso, ou seja, pelos objetivos que as situações e contextos impõem, podendo estas ser modificadas quando as condições mudam. Soares (2006, p.47) define letramento como “o estado ou condição de quem não apenas sabe ler ou escrever, mas cultiva e exerce as práticas sociais que usam a escrita”. Embora os termos alfabetização e letramento tenham conceitos adverso, ambos são processos indissociáveis. [...] um indivíduo alfabetizado não é necessariamente um indivíduo letrado; alfabetizado é aquele indivíduo que sabe ler e escrever; já o indivíduo letrado, o indivíduo que vive em estado de letramento, não é só aquele que sabe ler e escrever, mas aquele que usa socialmente a leitura a escrita, pratica a leitura e a escrita, responde adequadamente às demandas sociais de leitura e escrita (SOARES, 2006, pp. 39-40). Ao situar as concepções de letramento, Street (1984) utiliza os termos “letramento autônomo” e “letramento ideológico”. O “letramento autônomo” é dominante nesta sociedade tecnológica e esse modelo concebe a escrita como um modelo completo, não estando presa ao contexto de sua produção. O “letramento ideológico” relaciona a aquisição da escrita com o desenvolvimento cognitivo e considera o parâmetro da
- 206. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 19 197 abstração, dependente da escrita. Scribner e Cole (1981) afirmam que o contexto social determina a complexidade das práticas de letramento. Partindo dessas reflexões, Street (1984, p. 39) refere que “os correlatos cognitivos da aquisição da escrita na escola devem ser entendidos em relação às estruturas culturais e de poder que o contexto de aquisição da escrita na escola representa”. Buzato (2003) sugere o termo “letramento eletrônico”, definindo-o como “o conjunto de conhecimentos que permite às pessoas participarem nas práticas letradas mediadas por computadores e outros dispositivos eletrônicos no mundo contemporâneo”, enquanto a alfabetização eletrônica estaria relacionada apenas à codificação e decodificação da mensagem digital. Na perspectiva apresentada por Soares (2002, p. 143), o letramento digital é visto como “certo estado ou condição que adquirem os que se apropriam da nova tecnologia digital e exercem práticas de leitura e descrita na tela”. Para considerar um indivíduo letrado digitalmente é essencial que ele adquira habilidades para construir sentidos a partir de textos que se conectam a outros textos, por meio de hipertextos, links e hiperlinks. É necessário, também, que ele consiga filtrar e avaliar criticamente a informação disponibilizada eletronicamente, e tenha familiaridade com as normas que regem a comunicação com outras pessoas através dos sistemas computacionais. Segundo Silveira (2001), o direito de acesso à rede de informações se constitui como a nova face da liberdade de expressão e a condição básica para o letramento digital. Assim, para comunicar na sociedade pós-moderna significa interagir nas redes de informação. Ao se colocar a educação a distância como ambiente de possibilidades para a democratização da informação, é necessário perceber que a Educação a Distância no Brasil reúne condições de aproximar a comunidade ao mundo da informação digital, possibilitando, àqueles que até o momento não tiveram acesso ao ensino presencial, usufruir desse à distância, por intermédio de ferramentas digitais. Porém, é necessário que o indivíduo adquira habilidades para construir sentidos a partir de textos que se conectam a outros textos, por meio de hipertextos, links e hiperlinks. E, que consiga avaliar criticamente informação disponibilizada eletronicamente, com familiaridade às normas que regem a comunicação dos sistemas computacionais. Contanto,Moran(2012),explicitaque,astecnologiasdeinformaçãoecomunicação são importantes ferramentas para a transformação da educação brasileira, destacando que estas tecnologias podem assegurar ambientes de aprendizagem com base em novas tecnologias comunicacionais, porém, as mesmas devem estar disponíveis a todo o conjunto da sociedade brasileira. Postodessaforma,Silveira(2001),destacaque,odireitodeacessarecompartilhar as redes de comunicação e informação, como condição básica do letramento digital, é fundamental para assegurar o uso cultural, social e cidadão, possibilitando assim a
- 207. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 19 198 “cidadania eletrônica”. 3 | METODOLOGIA A intenção metodológica dessa pesquisa é possibilitar a multiplicidade de olhares sobre o objeto de estudo, garantindo, assim, um aprofundamento maior da realidade. A abordagem da pesquisa qualitativa considera que todos os procedimentos, instrumentos, vêm constituir dados em potencial para a explicação do foco. Nesse sentido, Bogdan e Biklen (1994, p. 287) afirmam que “a abordagem qualitativa requer que os investigadores desenvolvam empatia para com as pessoas que fazem parte do estudo e que façam esforços concentrados para compreender vários pontos de vista”. O estudo caracteriza-se como uma pesquisa de natureza exploratória que tem o intuito básico de expandir, desenvolver e transformar conceitos e ideias para a elaboração de questionamentos posteriores, por consequência este tipo de estudo propõe-se uma maior compreensão para o pesquisador acerca do assunto, com o intuito de elaborar problemas mais precisos ou criar hipóteses que possam ser pesquisadas por estudos posteriores (Gil, 1999)e descritiva utilizando geralmente informações que caracterizam-se por conjecturas especulativas que não indicam relações de eventualidades (Aaker; Kumar & Day, 2004). Dos procedimentos técnicos, foi elaborado um questionário, via googleforms, contendo 31 perguntas abertas e/ou fechadas. As questões foram elaboradas com base no entendimento e facilidades no manuseio do AVA e no letramento digital de cada sujeito, buscando obter informações relacionadas ao grau de facilidades e dificuldades relacionado ao letramento digital e ao aprendizado no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). O contato com os alunos do 5º período, do curso Bacharelado em Administração, que estão regularmente matriculados foi realizado por meio do envio de e-mails e contatos por aplicativos, incluindo o hiperlink para que eles pudessem responder ao questionário. Esses alunos foram selecionados porque são os que já tiveram contato com as ferramentas disponibilizadas pelo curso. Ressalta-se que o curso não teve turmas sequenciais em todos os anos, sendo que as turmas anteriores já concluíram (2010 e 2011) e as turmas mais novas ainda não possuem muita experiência e não teriam condições de responder ao questionário. O questionário foi enviado no mês de dezembro de 2017 aos 25 alunos que fazem parte da turma do curso Bacharelado em Administração Pública (BAP) do 5º período da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) modalidade a distância o Polo que fica situado na cidade de Limoeiro-PE, e teve um prazo de 7 dias para retorno. Dos 25 questionários enviados (número de alunos desse período), 21 retornaram e são avaliados na seção de resultados, o que representa 84% do universo pesquisado.
- 208. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 19 199 4 | RESULTADOS E DISCUSSÕES Com o intuito de analisar a inserção das TICs com base na inclusão digital e letramento digital, foi aplicado um questionário através do googleforms aos 25 alunos regularmente matriculados, do 5º período do curso Bacharelado em Administração Pública (BAP) na modalidade Educação a Distância (EAD) da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) Polo Limoeiro/PE. Os resultados encontrados, estão de acordo com a visão e a avaliação dos 21 alunos respondentes da pesquisa, quanto à utilização das tecnologias da informação e comunicação da inclusão digital e do letramento digital em suas vidas. Os resultados apontam conforme figura 1 que a maioria dos respondentes 12 (57,10%) são do gênero feminino e 9 (42,9%) são do gênero masculino. Figura 1 – Gênero dos respondentes. A faixa etária dos participantes, conforme a figura 2, evidencia que (38,1%) possuem entre 21 e 25 anos, (28,6%) possuem entre 26 a 30 anos; (28,6%) possuem mais de 30 anos e (4,7%) possui até 20 anos. Analisa-se, então, que mais de 57,2% dos respondentes possui 26 anos ou mais, representando uma faixa de idade de alunos com mais experiência e vivência. Figura 2 - Faixa etária dos respondentes No grupo pesquisado, de acordo com análise da figura 3, 21 (100%) dos respondentes informaram possuir computador em casa.
- 209. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 19 200 Figura 3 – Possuíam computador em casa. Na figura 4, observou-se que dos 100% que informaram possuir computador em casa, apenas 2 (9,5%) informaram não possuir computador em casa antes de participar de um curso a distância, mas que é de suma importância para que haja um bom aproveitamento na realização de atividades e de pesquisa. Figura 4 – Possuíam computador antes do curso a distância. Além disso, 21 (100%) dos alunos respondentes informaram que já tinham e-mail e acesso diário a internet antes do curso a distância, e apesar dos alunos possuírem computador, e-mail e internet, verifica-se na figura 5 que apenas 12 (57,10%) acessam diariamente o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). Figura 5 - Acesso diário dos respondentes ao AVA A visão dos respondentes quanto à necessidade de investimentos tecnológicos por parte dos alunos para a realização de um curso na modalidade a distância, pode
- 210. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 19 201 ser visualizada ao analisar a figura 6, dos questionados 10 (47,6%) concordam plenamente com a ideia, 10 (47,6%) concordam parcialmente, apenas 1 (4,8%) discorda parcialmente. As opções indiferentes e discordam totalmente não obtiveram marcações. Figura 6 - Necessidade de investimento tecnológico Ao serem questionados se o Polo de Limoeiro/PE possui laboratório de informática com estrutura para serem usados, os respondentes foram unânimes 21 (100%) responderam que sim, mas apenas, 7 (33,3%) disseram acessar com frequência nas aulas presenciais. Nafigura7,percebe-sequeparaosrespondenteséimportanteusodocomputador nas aulas presenciais, pois 17 (81%) informaram ser importante, porque contribui para o desenvolvimento das ferramentas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), 3 (14,3%) não veem em que possa ajudar a utilização e 1 (4,8%) são indiferentes. Dessa forma, percebe-se que muitos alunos gostariam e valorizam a utilização do computador em aulas presenciais. Figura 7 - Importância do computador nas aulas presencias Através do questionário via googleforms ficou registrado que apesar de um curso ser feito na modalidade a distância e ter como principal ferramenta o computador, ao serem questionados qual a maneira que utilizam os materiais didáticos disponíveis no AVA, a figura 8, evidência que os alunos na sua maioria não utilizam apenas o recurso da tela do computador. Ao analisar a figura 8, conclui-se que mesmo os respondentes vivenciando um curso a distância, poucos fazem uso dos materiais didáticos na forma correta em um
- 211. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 19 202 curso EAD, 1 (4,8%) informou imprimir todo o material didático disponível no AVA, 4 (19%) apenas, informaram utilizar apenas computador e na sua grande maioria 16 (76,2%) utilizam recursos combinados, imprimindo e utilizando a tela do computador. Figura 8 - Acesso aos Materiais Didáticos - AVA Quando questionados o que costumam acessar quando estão na rede (navegando na internet), a figura 9 disponibiliza as informações detalhadamente. Figura 9 - Hábito de acesso quando na internet Ao analisar a figura 9 sobre o que costumam acessar na internet, os respondentes informaram acessar com maior assiduidade, 16 (76,2%) os sites educacionais, incluindo o AVA, 15 (71,48%) sites de busca de pesquisa como o Google, 3 (14,3%) sites de relacionamentos como facebook, instagram, 3 (14,3%) websites de jogos, 4 (19%) informaram acessar outros sites e 14 (66,78%) informaram acessar o e-mail, como existe uma disparidade entre os sites educacionais e de pesquisa com relação ao de entretenimento, é perceptível que os respondentes buscam aprimorar os seus conhecimentos. Os resultados demonstram (figura 10) que os discentes acreditam que a Educação a Distância (EAD) está crescendo no Brasil. Para 5 (23,8%) dos alunos entrevistados, esse crescimento deve-se ao fato de ter acesso e de se conectar em vários lugares; 16 (76,2%) indicam que a oportunidade de administrar o próprio tempo.
- 212. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 19 203 Figura 10 - Hábito de acesso quando na internet A maioria dos alunos entrevistados reconhecem a Educação a Distância (EAD) como sendo dinâmica e eficiente e tornou-se uma excelente ferramenta na inclusão digital e no letramento digital preparando o aluno a conhecer e utilizar as TICs, capacitando-os a serem responsáveis pelo seu aprendizado. Os entrevistados declararam que a falta de contato físico e a escassez dos feedbacks entre alunos e professores são as principais desvantagens dessa modalidade. Ao serem indagados sobre a veracidade desta frase “o acesso ao conhecimento é uma importante ferramenta de aprendizado, influência e comunicação, mas pode ser também fonte de dissolução e exclusão social, no momento em que esse acesso não se dá de maneira uniforme”, os entrevistados responderam conforme a figura 8. Ao analisar a figura 11, pode-se concluir que 7 (33,3%) concordam plenamente com a veracidade da frase, a grande maioria 13 (61,9%) concordam parcialmente e 1 (4,8%) é indiferente. Figura 11 - Acesso ao conhecimento Nas respostas dos alunos quando questionados sobre a diferença entre inclusão digital e letramento digital, 3 (14,4%) ficaram sem responder, 11 (52,3%) confundem os dois temas e 7 (33,33%) responderam que a inclusão digital é um processo de disponibilização e oportunidade dos cidadãos terem acesso as tecnologias da informação e o letramento digital como sendo a capacidade de discernimento das informações na utilização dos recursos tecnológicos e da escrita no meio digital utilizando o senso crítico. Segundo a visão de Xavier (2002, p. 2), ao compreender que “ser letrado digitalmente implica em adotar mudanças na maneira de ler e escrever os símbolos e sinais verbais e não verbais”.
- 213. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 19 204 5 | CONSIDERAÇÕES FINAIS Esse trabalho tem como motivação inicial dificuldades da autora, como aluna do curso Bacharelado em Administração Pública (BAP), da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), e o despreparo com os recursos tecnológicos existentes com extensão no letramento digital. Com o intuito de analisar a inserção das TICs com base na inclusão digital e letramento digital. Foi aplicado um questionário com os 25 alunos do 5º período do curso Bacharelado em Administração Pública (BAP), na modalidade Educação a Distância (EAD), da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), no Polo Limoeiro/PE. No grupo pesquisado todos os respondentes informaram possuir computador, embora 9,5% confirmaram que não tinham computador em casa antes de participar do curso à distância. Os sucessivos avanços tecnológicos implicam em novas aptidões de leitura e escrita, tornando o conhecimento tecnológico imprescindível para os que desejam participar da inclusão digital, entretanto Soares (2005b, p. 32) destaca que além da aquisição dessa tecnologia faz necessário dar sentido e função a alfabetização, pois “a entrada da pessoa no mundo da escrita se dá pela aprendizagem de toda a complexa tecnologia envolvida no aprendizado do ato de ler e escrever”. Os resultados apontaram os respondentes já possuíam e-mail e acesso diário à internet antes do curso a distância, entretanto, apenas 12 (57,1%) afirmaram acessar diariamente o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). Dessa forma, verifica-se ao analisar o desempenho dos alunos no AVA, constata-se que as maiorias dos respondentes não acessam o ambiente frequentemente, mesmo assim, quando perguntados sobre a importância da utilização do computador nas aulas presenciais 17 (81%) informaram ser importante para melhorar o desenvolvimento AVA, considerando que por não serem manuseados os recursos da internet nos encontros presenciais, acaba prejudicando justamente o letramento digital. Apesar de o curso ser feito na modalidade à distância e ter como principal ferramenta o computador, os alunos, em sua maioria, não utilizam apenas o recurso da tela do computador para estudar, pode-se assim afirmar que o ato dos alunos imprimirem as aulas e muitas vezes lerem apenas o material impresso, limita a evolução do seu letramento digital. Todos os respondentes afirmaram que o Polo de Limoeiro possui laboratório e fazem acesso à sites educacionais, o de pesquisa como o Google o e-mail são os mais usados, os sites de jogos e relacionamentos indicam ser os que menos utilizam. Os resultados revelam a maioria dos alunos respondentes reconhecem que a EAD transforma os alunos em indivíduos mais dinâmicos e eficientes em relação à busca do conhecimento e é uma excelente ferramenta na inclusão digital e no letramento digital preparando o aluno a conhecer e utilizar as TICs, capacitando-os a serem responsáveis pelo seu aprendizado. É fato que o não acesso à TIC desenvolve uma forma de exclusão social, limitando
- 214. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 19 205 a capacidade do sujeito de se beneficiar com avanço digital. Os respondentes são indivíduos inseridos no universo virtual e reconhecem a importância de aprimorar cada vez mais a utilização das TICs e o entendimento com as ferramentas da web. Quanto a diferença entre inclusão digital e letramento digital, evidencia-se que a maioria dos respondentes confundem os conceitos, entretanto, uma minoria afirma que o letramento digital é posterior a inclusão digital, que é efetivada com o domínio das TICs. Pode-se afirmar que a educação a distância (EAD) é uma importante ferramenta para que o indivíduo tenha a possibilidade de se incluir digitalmente neste mundo tecnológico e através do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) os alunos tem a possibilidade também de se tornar um sujeito ativo quanto ao letramento digital. REFERÊNCIAS AAKER, D. A.; KUMAR, V.; DAY, G. S. Pesquisa de marketing. São Paulo: Atlas, 2004. ALMEIDA, M. E. B. Educação, ambientes virtuais e interatividade. In: SILVA, Marcos (Org). Educação online. São Paulo: Loyola, 2003. AUN, M. P. (Coord.). Observatório da Inclusão Digital: descrição e avaliação dos indicadores adotados nos programas governamentais de infoinclusão. Belo Horizonte: Orion, 2007. BOGDAN, R. C.; BIKLEN, S.K. Investigação qualitativa em educação. Tradução Maria João Alvarez, Sara Bahia dos Santos e Telmo Mourinho Baptista. Porto: Porto Editora, 1994. BUZATO, M. E. K. Letramento digital abre portas para o conhecimento. Educa Rede. Entrevista por Olivia Rangel Joffily, 2003. Disponível em: <www.educarede.org.br>. Acesso em: 10 jan. 2017. FONSECA, M. O. Arquivologia e Ciência da Informação. Rio de Janeiro: FGV, 2005. GESSER, V. Novas tecnologias e educação superior: Avanços, desdobramentos, implicações e Limites para a qualidade da aprendizagem. IE Comunicaciones: Revista Iberoamericana de Informática Educativa, n. 16, p. 2331, 2012. GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 5. ed. São Paulo: Atlas, 1999. KLEIMAN, Â. B. (org). Os significados do letramento: uma nova perspectiva sobre a prática social da escrita. Campinas, SP: Mercado de Letras. (Coleção Letramento, Educação e Sociedade), 1995. MORAN, J. M., MASSETTO, M. T., BEHRENS, M. A. Novas tecnologias e mediações pedagógicas. Campinas, SP. Papirus, 2012. SCRIBNER, S, COLE, M. The psychology of literacy.Massachussets. Harward University Press, 1981. SILVEIRA, S. A. Exclusão Digital: a miséria na era da informação. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2001. SOARES, M. Novas práticas de leitura e escrita: letramento na cibercultura. Educação e Sociedade. Campinas, 2002. Disponível em: unicamp.br>. Acesso em: 20 out. 2017.
- 215. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 19 206 SOARES. M. Letramento: um tema em três Gêneros. Belo Horizonte: Autêntica, 2006. STREET, B. Literacy in theory and pratice. Cambridge: Cambridge University Press, 1984. TFOUNI, L. V. Letramento e Alfabetização. 9ed. São Paulo: Cortez.102p., 2010.
- 216. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 20 207 O MANEJO FLORESTAL SUSTENTÁVEL NA BOCA DAS MULHERES CAPÍTULO 20 doi Jamylle de Souza Oliveira Bióloga, Programa de Pós Graduação em Ciências Florestais e Ambientais, PPGCIFA (UFAM) jham.bio@gmail.com Maria Inês Gasparetto Higuchi Doutora, Psicóloga. Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia. higuchi.mig@gmail.com Niro Higuchi Doutor, Engenheiro Florestal. Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia. niro@inpa.gov.br RESUMO: A floresta amazônica tem sido alvo dosmaisdiversosinteresses,temaseintenções, dentre os quais incluem a madeira que nela há. No Brasil, a exploração das florestas primitivas historicamente era feita de forma empírica. No entanto, com o Código Florestal de 1965 essa exploração só poderia ser realizada se as técnicas de manejo florestal fossem respeitadas. Tradicionalmente a exploração da madeira é prioritariamente uma tarefa masculina, mas apesar desse reconhecimento, as mulheres participam de forma indireta, uma vez que tal atividade traz à família, dividendos e labor comum. Esse estudo pretende apresentar uma discussão sobre o entendimento das mulheres acerca do Manejo Florestal Sustentável (MFS) no Projeto de Desenvolvimento Sustentável da Morena – PDS Morena; Manaus-AM. O estudo teve caráter descritivo-exploratório empregando a técnica de grupo focal com 8 mulheres. Na boca das mulheres, o MFS proporciona uma seleção técnica-científica apropriada de árvores permitindo uma exploração sustentável e consciente dos recursos florestais para que haja manutenção e sustentação da floresta e das próximas gerações de pessoas que dela irão se beneficiar. Para elas, o MFS é ainda, uma atividadeimportantepois,trazosustentofamiliar, beneficia a comunidade, cria alternativas legais de uso da floresta, proporciona a geração de renda e a própria participação da mulher. PALAVRAS-CHAVE: Floresta amazônica, Madeira, Manejo de recursos naturais. INTRODUÇÃO A floresta amazônica, a maior floresta tropical do mundo (Ter Steege, 2013) em termos globais, comporta juntamente com as regiões subtropicais cerca de 3.04 trilhões de árvores (Crowther et al., 2015) sendo estimado só para a floresta amazônica, pelo menos 16 mil espécies de árvores (Ter Steege, 2013). A floresta amazônica pela sua magnitude e importância tem atraído diferentes olhares ao redor do mundo, sobretudo em função do fornecimento de bens e serviços ecossistêmicos por meio de seus recursos naturais (Fearnside, 2003; Ferreira, 2012). Muitos são os recursos
- 217. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 20 208 existentes na rica biodiversidade amazônica, mas a madeira é um dos produtos mais utilizados por sua facilidade de obtenção e manuseio (Nascimento & Monteiro de Paula, 2012), se mostrando um espectro crescente no mercado, apesar das restrições legais e técnicas (Braz et al., 2005). Ao longo da história, a madeira tem sido tradicionalmente explorada de forma empírica pela maioria das populações locais, no entanto, as normas e leis existentes desde 1995, passaram a exigir técnicas ecológicas baseadas em modelos de comprovada eficiência na utilização dos recursos florestais e sua respectiva sustentabilidade. O Manejo Florestal Sustentável (MFS) é uma dessas técnicas que permite com que a maior parte da cobertura vegetal original seja conservada e assim mantida a continuidade da produção madeireira na área explorada. Além disso, tem garantido a preservação das espécies vegetais e animais (Higuchi, 1991). Para Higuchi (1996), o MFS é a parte da ciência florestal que trata do conjunto de princípios e técnicas que organizam ações necessárias para ordenar os fatores de produção e controlar a sua produtividade e eficiência, pautados assim na produção contínua e sustentada dos recursos florestais. No Brasil, a exploração das florestas primitivas, de forma empírica, ficou proibida com base no Código Florestal de 1965, que a partir de então, deveria passar a observar as técnicas de manejo florestal (Andrade, 2014). Conforme explica o autor, desde o início da década de 1990, os pequenos produtores têm tentado seguir tal legalização da exploração madeireira na Amazônia brasileira, mesmo com as limitações de conhecimento e necessidades locais. Este fato é curiosamente percebido no presente estudo. Assentados do primeiro Projeto de Desenvolvimento Sustentável criado no Brasil, o (PDS) Morena, (Rodrigues & Oliveira, 2012; Scherer & Salviano, S/D), localizado na região metropolitana de Manaus-AM, a partir de suas necessidades e expectativas, solicitaram do Laboratório de Manejo Florestal do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia (LMF/INPA) auxílio junto ao programa do governo Pró-Rural, para a elaboração do plano e desenvolvimento do de Manejo Florestal Sustentável de Pequena Escala (MFSPE – uma categoria do Manejo Florestal Sustentável em menor escala criada no Amazonas) no assentamento (ainda em andamento). Tal empreitada é vista pelos comunitários como uma grande oportunidade para beneficiar tanto a comunidade quando a tão proclamada conservação ecológica, ainda que se trate de uma exploração em pequena escala. Contudo, além do retorno econômico provindo da produção contínua e sustentada dos recursos madeireiros, há ainda efeitos que partem do desenvolvimento cognitivo, dinâmico e interativo, como explica Higuchi (1996). Para o autor, isso significa admitir que a floresta contém algo mais do que árvores e seu potencial representa muito mais que a madeira. A floresta, por si só, sempre teve um significado especial às pessoas independente do lugar onde elas vivam (Higuchi, Azevedo & Forsberg, 2012 p. 311) e nas pequenas localidades, como na área do presente estudo, há um saber incorporado
- 218. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 20 209 sobre os recursos por ela fornecidos, que estão intrínsecos no agir dessas pessoas sobre o meio (Bruhns, 2010; Silva, Marangon & Alves, 2011). Embora a aprovação/implantação da categoria (MFSPE) de MFS no PDS Morena seja, de fato, algo que gerará ganhos para a comunidade como um todo, há uma lacuna de conhecimento sobre o saber comum e o entendimento da comunidade sobre tal atividade. Isto é, será que há um engajamento e preparação da comunidade como um todo para essa atividade de manejo? E, podemos ainda ir mais adiante sobre esta questão: Será que as mulheres percebem, compreendem e se posicionam como tais sobre o MFS, mesmo que, tradicionalmente, a exploração da madeira seja prioritariamente uma tarefa masculina? Ainda que discussões sobre as relações da mulher sobre o ambiente tenham ganhado estimulo nos últimos anos (Sorg, 1992; Garcia, 1992; Ressel & Gualda, 2003; Castro & Abramovay, 2005), o que se sabe é que as questões de gênero, especialmente relacionadas à mulher nas pesquisas florestais, ainda são incipientes. OBJETIVO O presente estudo traz à luz um recorte da dissertação de mestrado da primeira autora, e pretende desenvolver uma discussão em torno do posicionamento e entendimento sobre a atividade de manejo florestal sustentável no PDS Morena, que até então, constituía um repertório pouco presente na ‘boca das mulheres’. METODOLOGIA O estudo foi realizado no PDS Morena, assentamento pertencente ao município de Presidente Figueiredo-AM, criado e gerido pelo INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) desde 2002, com a finalidade de promover a sustentabilidade socioambiental a partir da Instrução normativa/INCRA/N˚ 65 de 27 de dezembro de 2010, Art. 2°, inciso XX. Os moradores locais compartilham aspectos culturais comuns àqueles descritos por Pinto et al., (2016) em que ora apresentam dinâmicas que refletem modos de vida marcados pela tradição ribeirinha amazônica, ora pela influência do contexto urbano. Com caráter descritivo-exploratório (Geertz, 2008), o estudo empregou a técnica de grupo focal com 8 mulheres, seguindo o número indicado de participantes para esta técnica(Gaskell,2002;Trad,2009).Sentadasemcírculo,asmulheresforamestimuladas pela moderadora (nesse caso a pesquisadora) a discutir sobre o entendimento do MFS e sua participação nesse processo. A pesquisa é qualitativa por estudar um fenômeno no local em que ele ocorre, procurando o sentido e os significados dados a ele pelas pessoas (Chizzoti, 2003). As narrativas foram gravadas e posteriormente submetidas à análise de conteúdo (Bardin, 1977). Todo o procedimento de coleta de dados seguiu os parâmetros éticos estabelecido pelo CEP/UFAM que foi aprovado sob número 1.723.497.
- 219. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 20 210 RESULTADOS E DISCUSSÃO As categorias de pensamento originadas a partir da discussão sobre o entendimento das mulheres e sua participação no MFS foram: (I) MFS é a seleção de árvores pra serrar; (II) MFS é a atividade que sustenta; e (III) MFS possibilita a participação das mulheres fazendo artesanato. Embora parte das participantes inicie o diálogo indicando “eu não sei nada de manejo”, “Eu não entendo desse negócio de manejo sustentável” e “quem sabe mais disso é o meu marido, (...) eu não entendo nada de madeira”, ao longo da discussão grupal, as diferentes percepções vão tomando forma, indicando um entendimento particular sobre a atividade. Inicialmente as mulheres manifestam que o saber sobre a madeira e seu uso é de posse masculina, principalmente pelo fato de que são os homens que tradicionalmente têm tido contato direto com a experiência prática. Assim, se considerarmos que o saber no campo é principalmente obtido pela prática, então assume-se que o saber é de quem pratica aquela atividade, ou seja, dos homens. Como existe uma divisão do trabalho, também baseada em classes e gênero, estas categorias estruturam as interações das pessoas com a natureza (Garcia, 1992). Ainda que as mulheres em geral, não tenham se apropriado das práticas de exploração da madeira numa interação mais direta no âmbito do MFS, o discurso sobre tais práticas vai se incorporando à medida que se recordam das rodas de conversa formais e informais proporcionadas pela equipe técnica do LMF e do próprio diálogo familiar. E nessa interface que o saber feminino se constrói, não menos importante que o saber masculino, mas emergente e atuante com todos os demais atores, sejam mulheres ou homens. Para essas mulheres o MFS é um tipo de atividade legal de exploração de madeira, acompanhada de especialistas que selecionam árvores para serrar, ou seja, “Marca uma área, e as árvores pra tirar da mata” de modo que, “aquela árvore da floresta que é escolhida, você vai poder serrar, e vai ter o direito de usar ou vender a madeira legalmente... Não é que você vai e serra qualquer árvore”. Com base no entendimento das mulheres, na seleção das árvores pelo MFS há um cuidado para que os impactos causados pela atividade sejam minimizados: “É assim, eles [especialistas] veem o tempo de tirar [a madeira] e depois vão cortando de novo ne?! Num é uma coisa pra chegar derrubando tudo né” e isso possibilita maior eficiência na produção e a própria sustentabilidade da atividade de exploração, já que nessa atividade “Num é que vai derrubar tudo [as árvores] e fica nada”. Isso vai de encontro com princípios e objetivos MFS que buscam organizar as ações necessárias para ordenar os fatores de produção com base na produção contínua e sustentada dos produtos (Higuchi, 1996) ou seja, no MFS “Não se deixa acabar [as árvores], tira só o que precisa” uma vez que na prática “você tira só aquelas árvore que já tá marcada, na idade certa pra derrubar... Não é a mata toda!” Em acréscimo, o MFS constitui uma atividade que sustenta. As participantes
- 220. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 20 211 explicam que “a palavra sustentável, é o que você vai se sustentar daquilo ali, né?”, e para isso “no manejo você tira aquelas árvores-mãe [indivíduos maduros aptos à extração] e fica os ‘filho’ né?! Fica as outras árvores da floresta”. Tais informações, curiosamente, são corroboradas por um clássico da literatura na área de MFS, Higuchi (1996), que diz que a aplicação de técnicas destinadas à produção de madeira e a condução da regeneração natural dos indivíduos remanescentes constituem estratégias do MFS no intuito de garantir a contínua operação da capacidade instalada para o desdobro do produto da floresta. Ou seja, entende-se como MFS, uma prática que vem de encontro com possibilidade de manter a floresta e as pessoas pois “é mais do que pra sustentar né?! É aquilo que vai continuar”. Não só a atividade de MFS, mas o próprio uso dos recursos da floresta configura uma relação que inclui as mulheres sobre seu espaço e seus entendimentos sobre o uso eficiente e sustentável dos recursos naturais. Higuchi, Freitas & Higuchi (2013) explicam que o saber comum daqueles que vivem numa relação mais direta com a floresta constitui um forte repertório para o entendimento e atuação nesse espaço. Desse modo, o diálogo a respeito dos saberes das mulheres sobre as diferentes possibilidades do MFS para a comunidade torna-se cada vez mais rico e estimulante. Sobre isso, Castro & Abramovay (2005) discorrem que atualmente as mulheres estão assumindo importantes papeis e se posicionando em prol do coletivo, questão presente nas falas das participantes: “é pra o bem da comunidade”, “nosso manejo que vai fazer, vai aproveitar muita madeira e vai gerar rendas pra nossa comunidade”, “É tirar a madeira, e traz um pouco de beneficio para todos... ajuda muito”. A expectativa de envolvimento direto ou indireto das mulheres sobre o MFS é direcionada especialmente ao (re)aproveitamento dos subprodutos da floresta que pode servir como fonte de renda (alternativa) para a comunidade, às famílias, e às próprias mulheres. Para elas a efetiva participação das mulheres no MFS é o artesanato. A utilização de “pedacinhos de madeira (remanescentes da exploração), sementes, cipós, ouriços, galhos” é vital nesse aspecto, pois “tem vários tipos de artesanatos que a mulher também pode fazer” além de que “a mulher ‘divulga' bem nesse trabalho, melhor do que o homem”, “a mulher pode criar uma empresa pra vender e anunciar os produto, tudo legalmente”. A literatura dispõe de exemplos que trazem essa conexão da mulher e o ambiente por meio de atividades de artesanato (López, et al., 2008; Higuchi, Alves & Sacramento, 2009). Em acréscimo, Castro & Abramovay (2005), admitem a demanda cultural de mulheres amazônicas pela valorização do artesanato. Esse envolvimento das mulheres sobre os subprodutos do manejo florestal (que envolve os demais produtos da arvore além da ‘tora’) é justificado principalmente no sentido de que quando se menciona a prática de MFS, as primeiras menções envolvem principalmente a fase de serrar a madeira, o que envolve as técnicas específicas e certa experiência. Nessa construção de pensamento, fatores como esforço físico e habilidades para o trabalho braçal no MFS, além dos perigos e condições rusticas a que são submetidos os envolvidos, consistem em barreiras que inibem a possibilidade de
- 221. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 20 212 participação direta dessas mulheres no MFS, pois “as vezes a mulher não vai serrar que é um serviço mais pesado né?”. Isso constitui uma das marcas da contemporaneidade, que está justamente no lidar com a diversidade, identidades e alteridades reconhecendo o outro (Castro & Abramovay, 2005). Portanto, uma participação da mulher de forma complementar, ou seja, não in loco (serrando, cortando, selecionando e/ou carregando madeira) mas, na utilização e (re)aproveitamento dos subprodutos remanescentes do MFS para a confecção de artesanatos, constituem possibilidades seguras e viáveis a essas mulheres já que “esse material também é uma renda!”. Vislumbra-se aqui a conexão entre o conforto (estar ‘trabalhando’ em casa sob os benefícios oferecidos pelo lar) e a sustentabilidade (utilizando materiais naturais que seriam descartados e que não exigem uma nova exploração para serem obtidos) uma nova fonte de renda (além da procura no mercado pelo artesanato, os preços da produção podem variar positivamente beneficiando a artesã, a família e a comunidade) e sua (co)participação no MFS (conquistando/assumindo o papel diferencial da mulher na exploração legal e sustentável da floresta). Muito embora, esse pensamento nos leve a ideia de que no MFS os homens participam diretamente “na floresta, serrando” e as mulheres “nas casas, fazendo artesanato”, também é incorporado na boca das mulheres sua participação mais direta que pode ser “na floresta, serrando”: “Eu serro”, “aqui nóis tem uma mulher que serra, de igual pra igual. No ramal ali tem outra que trabalha é na serra”. Esse entendimento traz à luz a ideia, não de que a “mulher biológica” seja igual ao “homem biológico” e ambos trazem consigo habilidades e saberes iguais mas, de que “ a mulher pode sim trabalhar no manejo, porque hoje em dia tem mulher que é piloto, tem mulher motoqueira, por quê não ter uma mulher que entenda de manejo?”. Mas para isso, é necessário um empenho singular e motivação. Logo “se quiser aprender serrar, é difícil demais, só que se quiser, a mulher consegue.”. A capacidade da mulher aqui está intimamente ligada à apropriação do conhecimento, ou seja, da possibilidade de aprendizado em relação ao MFS. Para elas, os homens aprenderam na prática, pois tradicionalmente eram a eles que cabia a tarefa de adentrar na floresta para explorar seus recursos. As mulheres, de modo geral, ficavam em casa cuidando dos filhos e dos afazeres domésticos. Assim, a reconstrução dessas funções depende de conhecimentos e de informações externas de especialistas e cursos respaldados em aportes técnico-científicos que possam prepara-las, não apenas para sua efetiva participação no MFS, mas principalmente para atividades complementares como o artesanato, que, como já visto, seria um desejo e habilidade que possibilitaria uma efetividade comunal no MFS. Ainda que o conhecimento seja um aspecto importante para a tão almejada sustentabilidade dos projetos de MFS (Higuchi, 1996), a sensibilização, a construção de competências e compromisso ecológico trarão a cidadania ambiental a todos os agentes da comunidade (Higuchi & Azevedo, 2004). Isso refina o entendimento do papel da mulher no MFS da comunidade (Plano
- 222. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 20 213 de MFSPE ainda em fase de aprovação) que, numa ótica mais simplista, prevê que nas diferentes possibilidades de fonte de renda provinda do MFS, o artesanato pode ser uma alternativa sem, contudo, reduzir as possibilidades de participação mais abrangente. Sabe-se que a metade da renda das mulheres de comunidades florestais é proveniente de florestas (Banco Mundial, 2009). Mas, apesar disso, as mulheres do PDS Morena assumem certo despreparo em relação as práticas do artesanato, pois “aqui nunca veio um curso (...) com técnica do trabalho” e isso torna-se uma barreira para a participação da mulher no manejo já que “Madeira aqui nóis tem, o que falta aqui é preparação de um curso”. Com a preparação das mulheres, a construção do conhecimento e competências, possibilitaria o reconhecimento das diferentes formas de participação da mulher no MFS. Nesse processo de efetiva conquista da cidadania, elas estariam aptas e seguras de sua contribuição na utilização eficiente dos recursos da floresta durante a implantação e execução do MFS. Sobre isso Higuchi, Alves e Sacramento (2009) explicam que no processo de construção do conhecimento pode ocorrer uma atuação que permita reflexão dos modos de agir e construção de um repertório qualitativamente melhor do que o até então existente. Esse engajamento das comunitárias em aprender cooperar, beneficiaria econômica, social, cultural e intelectualmente a comunidade pois, “As mulheres precisam de preparação, porque daí o manejo não viria só ‘pros’ homem trabalhar, a gente podia fazer também, porque a gente tem que tá aprendendo hoje em dia”. CONSIDERAÇÕES FINAIS Falar das relações de saberes implica antes falar de pessoas, de lugares e de formas de pensamento, uma vez que cada grupo social é portador de conhecimentos específicos (Lima & Andrade, 2010; Bruhns, 2010). Essas relações se fazem presentes nas mulheres que veem na floresta diferentes formas de uso dos recursos naturais para o bem individual e coletivo da comunidade. As possibilidades de utilização da floresta e a própria conexão das mulheres com os recursos naturais são favorecidas pelo MFS, que como apresentado anteriormente, para o PDS Morena, representa o MFSPE (uma categoria de manejo em menor escala). Para elas o MFS que se dá por meio de uma seleção técnica-científica de áreas e árvores para serrar, permite uma exploração consciente dos recursos florestais sem que haja maiores danos a floresta e ao futuro dela. Segundo elas, essa prática considera principalmente, a integridade dos indivíduos florestais remanescentes responsáveis pela manutenção e sustentação da floresta e das próximas gerações que dela irão se beneficiar. Ainda que este estudo, não pretendesse em nenhuma instância, comparar os conhecimentos empíricos e científicos, fica claro que as definições das mulheres em seu particular entendimento sobre o MFS, vão de encontro com o que dizem
- 223. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 20 214 importantes estudos científicos sobre a temática. Tal como nos discursos observados, os objetivos e princípios do MFS consideram a “produção contínua e sustentada dos produtos madeireiros, estimulando o uso eficiente, a seleção de indivíduos e espécies, regeneração natural, e um arcabouço técnico para a organização das ações, sem colocar em risco a biodiversidade, ou seja, garantindo certa continuidade para a floresta e para as pessoas (Higuchi, 1996). O que se vê, ainda é que num olhar mais periférico, a participação direta da mulher no MFS seria o artesanato, pois como explicam Higuchi, Alves & Sacramento (2009), a arte capacita um homem ou uma mulher a não ser estranho em seu ambiente. O fato da implantação do MFS constituir, de longe, práticas que exigem além do conhecimento técnico-cientifico, uma demanda de serviços braçais, esforço físico e condições rusticas, não inibe a expectativa de que haja participação direta das mulheres (serrando e acompanhando os trabalhos in loco) ou indireta, confeccionando artesanatos através dos subprodutos do MFS. O papel da arte e do próprio artesanato aqui não se restringe apenas a uma fonte alternativa de renda para as mulheres mas, uma forma de assumirem seu papel na comunidade, contribuindo para o crescimento e reconhecimento do local, retirando a responsabilidade unicamente dos homens no MFS e passando a compartilhá-la com as mulheres locais. E nesse aspecto Deleuze & Guatarri (1996), afirmam que ocorre um entendimento maior sobre a realidade em que vivem, tendo em vista que a arte possui a grandeza de fazer a pessoa ir além do “estar no mundo”, para “ser com o mundo”, em possibilidades infinitas. Embora um dos objetivos das pesquisas em ciências florestais tem sido aprofundar a compreensão dos processos ecológicos, econômicos e sociais que envolvem o uso racional dos recursos florestais (Macedo e Machado, 2003), quando se trata de compreensões para subsidiar o manejo em florestas tropicais junto a populações humanas locais, aumenta o nível de complexidade (Silva, Marangon & Alves, 2011). Isso se torna ainda mais inquietante quando a discussão se refere às relações de gênero com o ambiente. Nas principais correntes que trabalham com desenvolvimento sustentável e rural, a mulher raramente esteve presente, ocultando assim, esse lado da perspectiva que constitui em parte importante da sustentabilidade (Castro & Abramovay, 2005). Felizmente, esse cenário vem sendo transformado, e a mulher está buscando cada vez mais seu lugar no mundo e na floresta. Se, de modo geral, as pesquisas florestais têm buscado uma conscientização quanto aos aspectos ecológicos e sociais do manejo florestal (Higuchi, 1996), então devemos (re)considerar os diferentes papéis do homem e da mulher, dos técnicos- cientistas ou os povos da floresta, que reúnem saberes distintos, mas, complementares sobre os usos da floresta. Pois como defende Garcia (1992), a relação entre homens e mulheres com o meio ambiente deve ser entendida, então, como enraizada nas suas realidades materiais, e nas suas formas especificas de interação com o meio ambiente.
- 224. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 20 215 Isso vem de encontro com o indispensável papel dos programas de Educação Ambiental,instituiçõestécnica-cientificas,eosprópriosórgãosgestoresgovernamentais, em estimular e fomentar as discussões minuciosas sobre as diferentes percepções locais, considerando as especificidades de grupos sociais, antes mesmo da aplicação e desenvolvimento de quaisquer que sejam os projetos para a comunidade. Isso porque, se as percepções das pessoas é que influenciam sua forma de agir no ambiente (Higuchi e Azevedo, 2004; Higuchi & Calegare, 2016), então é importante conhecer e compreender essas percepções para alcançar essas pessoas e então ser possível agir no ambiente em que vivem (Whyte, 1977; Higuchi & Calegare, 2013). É consenso que o MFS vai além do que se entende empiricamente sobre sua implicação, mas, o fato é que, embora as mulheres do PDS Morena demonstrem, inicialmente, certa dificuldade em expressar seu entendimento sobre a temática, especialmente por sua pouca experiência em campo, elas se fazem reconhecer como parte deste processo, como contribuintes para a eficiência da produção do MFS, mesmo que de maneira indireta. Pois para elas, não é necessário ser biologicamente ou fisicamente igual aos homens para ocuparem um lugar no MFS, basta incorporar o conhecimento técnico sobre as práticas para estar diretamente envolvidas e escolherem esse envolvimento, ou optarem por uma participação mais indireta que se dá através do artesanato. Na boca das mulheres, ainda que aparentemente inibido, o MFS é compreendido. O MFS é aquilo que sustenta e permite a continuidade da floresta, beneficia o coletivo e cria alternativas legais e rentáveis de uso da floresta. É o artesanato e a participação da mulher ‘lá ou cá’, desde que haja, sobretudo, conhecimento. AGRADECIMENTOS Ao Programa de Pós Graduação em Ciências Florestais e Ambientais da Universidade Federal do Amazonas (PPGCIFA/UFAM), à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), aos Laboratórios de Manejo Florestal e Psicologia e Educação Ambiental do Instituto Nacional de Pesquisa do Amazonas (LMF e LAPSEA-INPA), ao instituto Nacional da Colonização e Reforma Agrária (INCRA), ao Programa Estratégico para Transferência de Tecnologia e Resistência Agrária (Pró-Rural) e INCT - Madeiras da Amazônia (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas/FAPEAM e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico/CNPQ), ao Conselho gestor do Projeto de Desenvolvimento Sustentável Morena (PDS – Morena) e as mulheres da comunidade que compartilharam voluntariamente seu rico e ímpar conhecimento sobre as florestas da região amazônica.
- 225. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 20 216 REFERÊNCIAS ANDRADE, R. S. Planos de manejo florestal em pequena escala nas unidades de conservação do Amazonas: situação atual e perspectivas. Dissertação. Programa de Pós-Graduação em Gestão de Áreas Protegidas na Amazônia, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia – PPG/MPGAP/ INPA, Manaus, BR. 90 p. 2014. AZEVEDO, G. C. de. & HIGUCHI, M. I. G. A Floresta Amazônica como objeto de formação de docentes em educação ambiental. 359-385pp. In: M.I.G. HIGUCHI e N. HIGUCHI (Eds.). A floresta Amazônica e suas múltiplas dimensões: uma proposta de educação ambiental. Manaus: INPA/CNPq. 2 ed. rev. e ampl., 424p. 2012. BANCO MUNDIAL. Gender and agriculture sourcebook. Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola (IFAD) e FAO - World Bank. Washington, 764 p. 2009. BARDIN, L. Análise de Conteúdo. Lisboa: Edições 70. 225p. 1977. BRAZ, E. M.; PASSOS, C. A. M.; OLIVEIRA, L. C.; & OLIVEIRA, M. D. Manejo e exploração sustentável de florestas naturais tropicais: opções, restrições e alternativas. Embrapa Florestas, Documentos 110, 1 ed., 42 p. 2005. BRUHNS, H. T. O ecoturismo e o mito da natureza intocada. Acta Scientiarum. Human and Social Sciences. v.32, p.157–164. 2010. CASTRO, M. G., & Abramovay, M. Gênero e meio ambiente. Cortez. 143 p. 2005. CHIZZOTTI, Antônio. Pesquisa em ciências humanas e sociais. 6 ed., São Paulo: Cortez, 2003. CROWTHER, T. W. et al. Mapping tree density at a global scale. Nature, v. 000, p. 1–5, 2015. DELEUZE, G., GUATARRI, F. O que é a filosofia? Trad. Bento Prado Junior e Alberto Alonso Muñoz. Rio de Janeiro. Ed. 34. 1992. FEARNSIDE, P M. A Floresta Amazônica nas Mudanças Globais. Manaus: INPA. 19 ed. 134p. 2003. FERREIRA, S. J. F. A Floresta e a água. In: M.I.G. HIGUCHI e N. HIGUCHI, (Eds.). A floresta Amazônica e suas múltiplas dimensões: uma proposta de educação ambiental. Manaus: INPA/CNPq. 2 ed. rev. e ampl., 424p. 2012. GARCIA, S. M. Desfazendo os vínculos naturais entre gênero e meio ambiente. Estudos Feministas, p. 163, 1992. GASKELL, G. Entrevistas individuais e grupais. In M. W. Bauer & G. Gaskell, G. (Orgs.), Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som: um manual prático. Petrópolis: Vozes, v. 2, p. 64–89. 2002. GEERTZ, C. A. Interpretação das Culturas. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 213p. 2008. HIGUCHI, N. Experiências e Resultados de Intervenções Silviculturais na Floresta Tropical Úmida de Terra-Firme na Região de Manaus - um projeto de pesquisa do INPA. Em: Anais do Seminário “O desafio das florestas neotropicais”. Curitiba, BR, 1991. HIGUCHI, Niro. Utilização e manejo dos recursos madeireiros das florestas tropicais úmidas. Acta Amazônica, v. 24, n. 3–4, p. 275–288, 1994. HIGUCHI, M. I. G.; AZEVEDO, G. C. Educação como processo na construção da cidadania ambiental. Revista Brasileira de Educação Ambiental, v. 1, p. 1–4. 2004.
- 226. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 20 217 HIGUCHI, M. I. G.; ALVES, H. H. S. C.; SACRAMENTO, L. C. A arte no processo educativo de cuidado pessoal e ambiental. Currículo sem Fronteiras, v. 9, n. 1, p. 231–250, 2009. HIGUCHI, M. I. G.; AZEVEDO, G. C. & FORSBERG, S. S. A floresta e sociedade: ideias e práticas históricas. 311-329 pp. In: M.I.G. HIGUCHI e N. HIGUCHI (Eds.). A floresta Amazônica e suas múltiplas dimensões: uma proposta de educação ambiental. Manaus: INPA/CNPq. 2 ed. rev. e ampl., 424p. 2012. HIGUCHI, M. I. G.; CALEGARE, M. G. A. Percepções sobre a floresta amazônica, áreas verdes e manejo florestal. In M. I. G. HIGUCHI, C. C. FREITAS e N. HIGUCHI (Ed.). Morar e Viver em Unidades de Conservação no Amazonas: Considerações Socioambientais para os Planos de Manejo. Manaus, BR, 268p. 2013. HIGUCHI, M. I. G.; CALEGARE, M.G.A. A mudança climática na percepção de moradores da Resex do rio Jutaí/AM. In CALEGARE, M.G.A.; HIGUCHI, M.I.G (Ed.). Nos interiores da Amazônia: leituras psicossociais., 1 ed. Curitiba, BR, 294p. 2016. HIGUCHI, C. C. FREITAS e N. HIGUCHI. Morar e Viver em Unidades de Conservação no Amazonas: Considerações Socioambientais para os Planos de Manejo. Manaus, 268p. 2013. LIMA, M. A. R. & ANDRADE, E. R. G. Os ribeirinhos e sua relação com os saberes. Revista Educação em Questão, v. 38, n. 24, p. 58–87. 2010. LÓPEZ, C.; SHANLEY, P.; FANTINI, A. C. & CRONKLETON, M. C. Riquezas da floresta: frutas, plantas medicinais e artesanato na América Latina. CIFOR, 140p. 2008. MACEDO, J. H. P. & MACHADO, S. A. A engenharia Florestal da UFPR: História e Evolução da Primeira do Brasil. Curitiba, BR. 513p. 2003. NASCIMENTO, C. C. DO & MONTEIRO DE PAULA, E. V. C. A floresta e seus produtos madeireiros. 257–285 pp. In: M.I.G. HIGUCHI e N. HIGUCHI (Eds.). A floresta Amazônica e suas múltiplas dimensões: uma proposta de educação ambiental. Manaus: INPA/CNPq. 2 ed. rev. e ampl., 424p. 2012. PINTO, N. M. A. et al. O cotidiano de famílias de uma comunidade ribeirinha da Ilha do Combu, Belém/PA: contexto rual e urbano – estudo de caso. In M. G. A. CALEGARE e M. I. G. HIGUCHI (Eds.). Nos interiores da Amazônia leituras psicossociais. Curitiba, PR: CRV. 1 ed. 294p. 2016. RESSEL, L. B. & GUALDA, D. M. R. A sexualidade como uma construção cultural: reflexões sobre preconceitos e mitos inerentes a um grupo de mulheres rurais. Revista da Escola de Enfermagem da USP, v. 37, n. 3, p. 82–87. 2003. RODRIGUES, R. A. & OLIVEIRA, J. A. Impactos sociais da desterritorialização na Amazônia brasileira: o caso da hidrelétrica de Balbina (Social impacts of resettlement in the brazilian Amazon: the case of the Balbina hydroelectric dam) /Emancipacao, v. 12, n. 1, 2012. SCHERER, E. & SALVIANO, M. Barragens de Balbina: ambiente, deslocamentos e os pescadores em territórios precários na Amazônia. Comunicação. Programas de Pós-Graduação Sociedade e Cultura na Amazônia (PPGSCA) e Ciência do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia (PPGCASA) da Universidade Federal do Amazonas, Manaus-AM. Trabajo y Ambiente. 6p. (s/d). SILVA, R. R. V.; MARANGON, L. C. & ALVES, A. G. C. Entre A Etnoecologia e a Silvicultura: O Papel de informantes locais e Cientistas na pesquisa florestal. Interciencia, v. 36, n 7, p 485–492. 2011. SORJ, B. O feminino como metáfora da natureza. Estudos Feministas, p. 143. 1992. TER STEEGE, H. et al. Hyperdominance in the Amazonian tree flora. Science, v. 342, p. 1243092- 1–1243092-9. 2013.
- 227. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 20 218 TRAD, L. A. B. Grupos focais: conceitos, procedimentos e reflexões baseadas em experiências com o uso da técnica em pesquisas de saúde. Physis: Revista de Saúde Coletiva v. 19, p. 777–796. 2009. WHYTE, A. V. T. Guidelines for field studies in environmental perception. Paris: UNESCO, MAB Technical Notes 5, 118p. 1977.
- 228. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 21 219 O NOVO CÓDIGO FLORESTAL (LEI 12.651/2012): BREVES APONTAMENTOS SOBRE SUAS IMPLICAÇÕES JURÍDICAS E RESPECTIVOS REFLEXOS SOBRE A BIODIVERSIDADE CAPÍTULO 21 doi Fernando Martinez Hungaro RESUMO: O presente trabalho trata do Novo Código Florestal (Lei 12.651/2012), legislação destinada a substituir a Lei 4.771/1965 após 47 anos de vigência. Em tal enfoque, realiza- se a abordagem de algumas controvérsias relevantes, entre elas a falta de espaço para discussões amplas com segmentos diversos da sociedade, prioritariamente os ambientalistas e demais estudiosos do tema. Estuda-se, ainda, as implicações jurídicas da nova legislação, a partir de uma breve análise constitucional sobre a adequação do tema aos princípios ambientais vigentes. Por fim, trata-se também dos conflitos entre ruralistas e ambientalistas, espaço em que emergem os pequenos produtores rurais como beneficiários de novas possibilidades para desmatamento de suas propriedades. PALAVRAS-CHAVE: Direito Ambiental. Novo Código Florestal (Lei 12.651/2012). Reservas Legais. Biodiversidade. ABSTRACT: The present work deals with the New Brazilian Forest Code (Law 12.651/ 2012), legislation to replace Law 4771 / 1965 after 47 years of validity. In such an approach, some relevant controversies are addressed, among them the lack of space for broad discussions with diverse segments of society, primarily environmentalists and other scholars. There is also an approach about the legal implications of thenewlegislation,basedonabriefconstitutional analysis on the adequacy of the theme to the current environmental principles. Finally, there is a briefing about the conflicts between ruralists and environmentalists, a space in which small farmers emerge as beneficiaries of new possibilities for deforestation of their properties. KEYWORDS: Environmental Law. New Brazilian Forest Code (Law 12.651/2012). Legal Reserves. Biodiversity. 1 | INTRODUÇÃO O ano de 2012 marca profunda alteração na legislação ambiental nacional, haja vista que ocorre a entrada em vigor no Novo Código Florestal (Lei 12.651/2012) após quarenta e sete anos de vigência da Lei 4771/1965, a qual trazia o então vigente Código. Muitos foram os debates que precederam a redação do novo diploma legal, entretanto diversas controvérsias não foram sanadas e permanecem até os dias atuais. OproblemacomeçaquandooNovoCódigo Florestal prioriza os interesses do agronegócio e dos grandes latifundiários em detrimento das considerações dos ambientalistas e estudiosos
- 229. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 21 220 do tema. Adicionalmente, abre brechas para o desmatamento por parte dos pequenos produtores rurais, além de aumentar a área de enquadramento das pequenas e médias propriedades para quatrocentos hectares. Tais fatos geram inevitáveis discussões dotadas de fortes argumentos de ambos os lados, de modo que a falta de consenso minimiza a credibilidade do novo texto legal. Frente a tais aspectos, o presente trabalho buscou retroceder às discussões que levaram à promulgação do Novo Código Florestal (Lei 12.651/2012). Para tanto, iniciou- se a redação com um apontamento direcionado às principais alterações atinentes ao novo texto, ocasião em que se pontuou as alterações no âmbito das reservas legais, áreas de preservação permanente e o caráter eminentemente liberatório a algumas condutas antes restritas. Posteriormente, abordou-se determinadas questões jurídicas relativas ao Novo Código Florestal, com o enfoque voltado à sua constitucionalidade, momento em que se analisou a adequação da Lei 12.651/2012 aos princípios constitucionais adstritos ao meio ambiente. Na sequência, enfatizou-se a questão da biodiversidade, ponto em que se trouxe alguns prejuízos gerados pela falta de consideração dos argumentos dos estudiosos do tema. Por fim, tratou-se dos aspectos conflitantes relativos aos produtores rurais e ambientalistas, concentrando-se também nos pequenos produtores rurais. Desta feita, conclui-se o trabalho com a opinião de que o Novo Código Florestal, apesar de juridicamente adequado, é tecnicamente inadequado. Ademais, trata-se de um texto restrito a grupos sociais dotados de elevado poder econômico, posto deixar de lado a sadia discussão científica em sua elaboração. 2 | ALGUMAS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELO NOVO CÓDIGO FLORESTAL Na discussão ambiental atual, relevante é o peso que recebem as controvérsias atinentes ao Novo Código Florestal (Lei 12.651/2012). O debate se inicia no momento em que aqueles que realmente possuem conhecimento acerca do tema são excluídos das formações críticas de conhecimento que conduzem à sanção da nova legislação. Isto é, o novo diploma legal já nasce deixando de lado a incorporação dos argumentos advindos dos ambientalistas a respeito dos temas alterados, fato que inevitavelmente leva a incontáveis prejuízos no que tange à preservação ambiental e manutenção da biodiversidade. No mesmo compasso, priorizam-se os interesses capitalistas e políticos em detrimento dos pequenos proprietários e agricultores familiares. Todavia,caberessaltarqueoCódigoFlorestalanteriormentevigente(Lei4.771/65) também era objeto de severas críticas e dúvidas por parte dos ambientalistas. Em tal contexto, condizente é o pensamento de Jean Paul Metzger (2010, p. 1) quando resume algumas das ponderações dos estudiosos do tema: Existem muitas dúvidas sobre qual foi o embasamento científico que permitiu
- 230. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 21 221 definir os parâmetros e os critérios da lei 4.771/65 de 15 de Setembro de 1965, mais conhecida como Código Florestal. Dentre estas dúvidas, podemos incluir as bases teóricas que permitiram definir: i) as larguras das Áreas de Preservação Permanente (APP); ii) a extensão das Reservas Legais (RL) nos diferentes biomas brasileiros; iii) a necessidade de se separar RL da APP, e de se manter RL com espécies nativas; e iv) a possibilidade de se agrupar as RL de diferentes proprietários em fragmentos maiores. O Código Florestal estipula uma série de larguras mínimas de áreas de proteção ao longo de cursos d´água, reservatórios e nascentes. Qual foi a base científica usada para definir que corredores ripários deveriam ter no mínimo 30 m de proteção ao longo de cada margem do rio (além do limite das cheias anuais)? Será que essa largura não deveria variar com a topografia da margem, com o tipo de solo, com o tipo de vegetação, ou com o clima, em particular com a pluviosidade local? Portanto, identificadas as necessidades de mudança, inicia-se, na primeira década do século XXI, um movimento no sentido de corrigir as distorções contidas na legislação então em vigor. Contudo, logo surgem os descontentamentos dos cientistas a respeito do nível e da direção tomada pelas discussões. Exemplificando a situação peculiar, Aziz Ab´Sáber (2010, p. 3) pontua que: Em face do gigantismo do território e da situação real em que se encontram os seus macro-biomas – Amazônia Brasileira, Brasil Tropical Atlântico, Cerrados do Brasil Central, Planalto das Araucárias, e Pradarias Mistas do Brasil Subtropical – e de seus numerosos mini-biomas, faixas de transição e relictos de ecossistemas, qualquer tentativa de mudança no “Código Florestal” tem que ser conduzido por pessoas competentes e bioeticamente sensíveis. Pressionar por uma liberação ampla dos processos de desmatamento significa desconhecer a progressividade de cenários bióticos, a diferentes espaços de tempo futuro. Favorecendo de modo simplório e ignorante os desejos patrimoniais de classes sociais que só pensam em seus interesses pessoais, no contexto de um país dotado de grandes desigualdades sociais. Por muitas razões, se houvesse um movimento para aprimorar o atual Código Florestal, teria que envolver o sentido mais amplo de um Código de Biodiversidades, levando em conta o complexo mosaico vegetacional de nosso território. Em tal esteira, cabe aqui delimitar a discussão iniciando-se por algumas alterações relevantes introduzidas pelo Novo Código Florestal (Lei 12.651/2012), as quais foram selecionadas segundo o critério de seu impacto sobre o ordenamento jurídico e reflexos sobre a biodiversidade. Desenhado tal contexto, traz-se o apontamento de Ab´Sáber (2010, p. 4) quando assevera que, entre várias inconsistências, subsiste a proteção da vegetação em até sete metros e meio do rio. Ou seja, trata-se de reduzir aquilo que já era insuficiente, talvez por conta do desconhecimento em ciências ambientais por parte dos debatedores do projeto de lei que posteriormente entrou em vigência. Adicionalmente, aponta ainda o estudioso (2010, p. 4) para a impossibilidade em se generalizar a metragem de preservação quando se trata de um diploma legal a vigorar em um país de dimensões continentais. Isto é, deveria haver uma melhor segmentação conforme o mosaico de cursos d´água fluviais existentes no território brasileiro. Porém,
- 231. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 21 222 em se tratando de uma legislação efetivamente formulada por desconhecedores das questões ambientais ora relevantes, inevitável se insurge a conclusão de que critérios generalistas prevaleceram sobre as especificidades regionais. Ademais, não se pode deixar de mencionar o “caráter de liberação excessiva e abusiva” (AB´SÁBER, 2010, p. 3) contido na Lei 12.651/2012, afinal, a generalização pretendida certamente deixa de restringir determinados interesses capitalistas exploratórios. Caminhando-se no contexto das alterações relevantes trazidas pelo Novo Código Florestal, chega-se à questão das reservas legais, a qual se encontra em discussão desde o início da redação do projeto de lei até os dias atuais. Pois bem, o Código Florestal de 1965 (Lei 4.771/1965) trazia como exigência a proporção de preservação da vegetação nativa em 80% na Amazônia Legal, 35% no Cerrado e 20% em todas as outras regiões. Em tal disposição, não houve qualquer alteração para o Novo Código Florestal. O que efetivamente sofreu alteração foi a dispensa da área de reserva legal onde não estão sujeitos à constituição da reserva legal, nas atividades elencadas como empreendimentos de abastecimento público de água e tratamento de esgoto, nas áreas adquiridas ou desapropriadas por detentor de concessão, permissão ou autorização para exploração de energia hidráulica e nas áreas adquiridas ou desapropriadas com o objetivo de implantar ou ampliar rodovias e ferrovias. Houve também a redução da perda das áreas agricultáveis, uma vez que predomina agora a autorização ao proprietário rural em compensar as Áreas de Preservação Permanente para calcular a sua Área de Reserva Legal. Nesse contexto, Aziz Ab´Sáber (2010, p. 5) afirma se tratar de uma contradição relevante a permissão do Novo Código Florestal para o desmatamento de pequenas e médias propriedades produtoras ou parcialmente aproveitadas, principalmente pois a Lei 12.651/2012 define tais propriedades como aquelas que possuem área de até 400 hectares. Ou seja, há a introdução de elevado limite de área para a caracterização de uma propriedade como pequena ou média. Como ponto positivo atinente ao Novo Código Florestal (Lei 12.651/2012), aponta-se para a introdução da questão de regularização ambiental, a qual pune o desmatamento em Áreas de Preservação Permanente, assim como a falta de registro da Reserva Legal no Cadastro Ambiental Rural (CAR), com multas pecuniárias e até mesmo com a paralisação das atividades do produtor na área irregular. O presente tópico objetivou apresentar algumas alterações pontuais relevantes para o contexto do trabalho em tela, não tendo a pretensão de esgotar as inúmeras alterações introduzidas pelo novo diploma legal, as quais certamente enriquecem o debate advindo dos conflitos de interesses entre ruralistas e ambientalistas. Portanto, passa-se à análise de algumas implicações jurídicas decorrentes da sanção da Lei 12.651/2012.
- 232. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 21 223 3 | O NOVO CÓDIGO FLORESTAL FRENTE AO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO No âmbito das discussões até então traçadas a respeito do Novo Código Florestal (Lei 12.651/2012), necessário se faz também considerar a regular inserção do novo diploma legal na seara jurídica nacional, a fim de que se possa verificar se a legislação, sob a égide constitucional e infraconstitucional, satisfaz os planos da existência, validade e eficácia. Em tal contexto, inicia-se a análise da Lei 12.651/2012 sob a ótica da Constituição Federal de 1.988, a qual traça as molas mestras atinentes ao Direito Ambiental brasileiro. Para início de estudo, remete-se, portanto, ao artigo 170 da Carta Magna, dispositivo que trata da ordem econômica e financeira: Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. Ou seja, a legislação nacional de máxima hierarquia normativa estabelece que a atividade econômica deverá respeitar e, mais do que isso, defender o meio ambiente. Tanto é que a Emenda Constitucional 42 tratou de ampliar o artigo 170. Antes de 19 de dezembro de 2003, falava-se somente em defesa do meio ambiente, ao passo que, a partir de então, dispõe-se sobre o tratamento diferenciado de produtos e serviços conforme seu impacto ambiental. Ainda em se tratando da Constituição Federal, imprescindível é a leitura do artigo 225, que trata especificamente do meio ambiente: Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. § 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público [...] § 2º Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei. § 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. § 4º A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far- se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio
- 233. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 21 224 ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. § 5º São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais. § 6º As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas. Verifica-se, de tal maneira, que a Constituição Federal, em sua função de desenhar os princípios básicos do ordenamento jurídico e traçar os direitos e garantias fundamentais, elencou o meio ambiente como direito de todos, inclusive delimitando a atividade econômica para que esta não possa prejudicá-lo. Ante a tal situação, sendo o Novo Código Florestal uma lei ordinária, deve à Constituição Federal total obediência e compatibilidade, sob pena de adentrar no manto da inconstitucionalidade. Em tal diapasão, tem-se firmado o entendimento de que o Novo Código Florestal é sim constitucional, possuindo aplicabilidade imediata. Portanto, patente está a necessidade em separar alguns argumentos a fim de enriquecer o debate, ou seja, a Lei 12.651/2012 não é inconstitucional, uma vez que respeitou o devido procedimento legislativo para entrar em vigor e, mais do que isso, seus ditames se coadunam com a Constituição Federal. Isto é, não é porque um diploma legal é inadequado e criticado do ponto de vista prático que será ineficaz sob a ótica jurídica. Tais fatos vêm a dificultar eventuais modificações pretendidas pelos críticos do Novo Código Florestal, tendo em vista que a Lei 12.651/2012 tem passado pelo crivo da constitucionalidade em seus quatro anos de vigência. Assim, a transformação do Novo Código Florestal em um Código da Biodiversidade, terminologia usada por Aziz Ab´Sáber (2010, p. 3), provavelmente se dará apenas mediante propostas de alterações legislativas, as quais deverão ser aprovadas e chanceladas pelo devido procedimento constitucional para sua entrada em vigor. A situação do Código Florestal revogado em 2012 (Lei 4.771/1.965) exemplifica o contexto ora tratado, na medida em que se aborda um diploma legal manifestamente criticado pelos estudiosos do tema e que se manteve em vigor por 47 anos, sofrendo tão somente modificações legislativas pontuais, ao longo dos quase cinco séculos de vigência,paraseadequaranovasrealidades.Verifica-se,inclusive,osquestionamentos de Jean Paul Metzger (2010, p. 1) neste sentido: Existem muitas dúvidas sobre qual foi o embasamento científico que permitiu definir os parâmetros e os critérios da lei 4.771/65 de 15 de Setembro de 1965, mais conhecida como Código Florestal. Dentre estas dúvidas, podemos incluir as bases teóricas que permitiram definir: i) as larguras das Áreas de Preservação Permanente (APP); ii) a extensão das Reservas Legais (RL) nos diferentes biomas brasileiros; iii) a necessidade de se separar RL da APP, e de se manter RL com espécies nativas; e iv) a possibilidade de se agrupar as RL de diferentes proprietários em fragmentos maiores. Assim, traça-se a separação entre o juridicamente correto e o ambientalmente
- 234. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 21 225 adequado, sob a ótica de que aquilo que o legislador propôs nem sempre é o mais conveniente, mas acaba por vigorar ainda que a contragosto dos especialistas no tema. Transportando-se a questão para a Lei 12.651/2012, cabe ressaltar o documentário A Lei da Água, dirigido por André D´Elia (2014), o qual aclara as discussões entre ambientalistas e legisladores. Fato é que, diante de interesses difusos, o consenso apresenta complexidade para ser atingido, razão pela qual o Novo Código Florestal permanece em vigência já por quatro anos, ainda que sob fortes e crescentes críticas. 4 | A PRESERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE DENTRO DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL Efetuada a argumentação cabível acerca do Novo Código Florestal (Lei 12.651/2012) sob o ponto de vista jurídico-legal, a partir da qual se verificou ser a legislação ambiental recente enquadrada conforme a égide da constitucionalidade, caminha-se em direção a abordagem da biodiversidade dentro do novo diploma legal. Em termos cuja exposição fora realizada de modo introdutório anteriormente no presente texto, notório é que a preservação da biodiversidade é deixada de lado naquilo que Aziz Ab´Sáber (2010, p. 3) denomina “grandes erros do Novo Código Florestal”. Para tal estudioso do tema, subsiste a já mencionada liberação excessiva e abusiva na Lei 12.651/2012, que acaba por atacar de modo direto a biodiversidade, ou seja, ao invés de restringir determinadas ações e práticas, o novo texto legal age no intuito de abrandar as limitações, a saber (AB´SÁBER, 2010, p. 3): Entre os muitos aspectos caóticos, derivados de alguns argumentos dos revisores do Código, destaca-se a frase que diz que se deve proteger a vegetação até sete metros e meio do rio. Uma redução de um fato que por si já estava muito errado, porém agora está reduzido genericamente a quase nada em relação aos grandes rios do país. Imagine-se que para o Rio Amazonas, a exigência protetora fosse apenas sete metros, enquanto para a grande maioria dos ribeirões e córregos também fosse aplicada a mesma exigência. Trata-se de desconhecimento entristecedor sobre a ordem de grandeza das redes hidrográficas do território intertropical brasileiro. Na linguagem amazônica tradicional, o próprio povo já reconheceu fatos referentes à tipologia dos rios regionais. Para eles, ali existem, em ordem crescente: igarapés, riozinhos, rios e parás. Uma última divisão lógica e pragmática, que é aceita por todos os que conhecem a realidade da rede fluvial amazônica. Por desconhecer tais fatos os relatores da revisão aplicam o espaço de sete metros da beira de todos os cursos d’água fluviais sem mesmo ter ido lá para conhecer o fantástico mosaico de rios do território regional. Para Ab´Sáber (2010, p. 3), ocorre, portanto, a ignorância dos legisladores para a biodiversidade. Mais do que isso, houve, nas palavras do autor, uma rejeição dos congressistas a ideias externas, ou seja, os debatedores da nova legislação fecharam as portas aos ambientalistas, seguindo sua caminhada rumo à promulgação do Novo Código Florestal sem dar ouvidos àqueles que vivenciam diariamente a questão
- 235. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 21 226 ambiental e que podem, invariavelmente, fornecer contribuições relevantes para a formulação de políticas públicas dotadas de maior eficácia. Diante de tal quadro situacional, duas foram as consequências primordiais: os brasileiros receberam uma legislação que privilegia os interesses dos grandes latifundiários e de políticos com tendências ruralistas, ao passo que se gerou profundo descontentamento dos cientistas e demais debatedores voltados à questão ambiental. Portanto, tem-se um Novo Código Florestal que já nasce inadequado por se mostrar incapaz de dirimir as divergências de interesses relacionados à biodiversidade. 5 | OS CONFLITOS ENTRE PRODUTORES RURAIS E AMBIENTALISTAS As análises efetuadas no presente estudo demonstram que o Novo Código Florestal é válido e eficaz do ponto de vista jurídico-legal, porém é inadequado à solução de questões pertinentes à biodiversidade, além de ter sido estruturado de modo restrito a opiniões técnico-científicas, o que o empobrece no que tange às possibilidades de solução de assuntos que historicamente assolam a Nação sob o ponto de vista ambiental. Em tal aspecto, imprescindível se faz a demonstração dos conflitos entre ruralistas e ambientalistas. Trata-se de incompatibilidade histórica e que pode se acentuar a partir da vigência do Novo Código Florestal. Nos dizeres de Aziz Ab´Sáber (2010, p. 3), o problema nasce quando se introduz o primeiro grande erro da Lei 12.651/2012: a denominada estadualização dos fatos ecológicos de seu território específico, ou seja, subsiste no diploma legal recente uma descentralização no sentido de transferir aos estados-membros da Federação a tarefa de fiscalizar e punir as infrações ambientais. Ocorre que tal disposição é incompatível com o zoneamento físico e ecológico de todos os domínios de natureza brasileiros. Isto é, os macro-biomas e mini biomas não coincidem com as divisões políticas, o que leva a dificuldades na atribuição de responsabilidades aos estados, bem como divergências nas práticas fiscalizatórias. Indo além, Ab´Sáber (2010, p. 4) argumenta que questões delicadas como o desmatamento somente podem ser tratadas com a ação de órgãos federais específicos, como a Polícia Federal rural e o Exército Brasileiro. Adicionalmente, relevante se faz observar os conflitos de interesses entre ruralistas e ambientalistas, os quais são intensificados quando entram em cena os pequenos produtores rurais. O Novo Código Florestal estabelece uma flexibilização quando se trata do pequeno produtor, o que tratado como alteração grave pelos estudiosos ambientais, afinal os pequenos proprietários representam a maior proporção dos produtores rurais. Conforme pontua Ab´Sáber (2010, p. 5): Nas mudanças que se pretendem fazer para o atual Código Florestal existem alguns tópicos extremamente criticáveis. Ao se discutir o tamanho de propriedades familiaresdefiniu-seasmesmasaté400ha.Fatoquesignificaquetodasaspequenas e médias propriedades produtoras, ou parcialmente aproveitadas, até 400 ha poderão ser totalmente desmatadas. Trata-se de uma excessiva flexibilização que
- 236. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 21 227 poderá produzir um mosaico derruidor de florestas ao longo de rodovias, estradas, riozinhos e igarapés. Um cenário trágico para o futuro, em processo no interior da Amazônia brasileira. Fato que não foi considerado nem de passagem pelos idealizadores e relatores de um novo Código Florestal. Razão pela qual deixamos aqui além de uma crítica que julgamos absolutamente necessária, uma proposição de acréscimos de atividades para pequenas e médias propriedade familiares. Portanto, extrai-se que a Lei 12.651/2012 acaba por flexibilizar a legislação anteriormente vigente, abrindo brechas para a intensificação do desmatamento, principalmente por conceder maiores permissões para os pequenos produtores rurais quando no exercício de atividades potencialmente danosas ao meio ambiente. 6 | CONSIDERAÇÕES FINAIS Efetuadas as argumentações pertinentes ao tema que se propôs aqui analisar, conclui-se o presente trabalho com a perspectiva de que o ordenamento jurídico brasileiro recebe uma legislação válida e eficaz do ponto de vista jurídico-legal, porém eivada de vícios quando analisada sob o ponto de vista prático, razão pela qual já nasce empobrecida e inadequada. O Estado Democrático de Direito tem o profundo debate como um de seus pilares, cabendo a todos os cidadãos o direito à opinião. Infelizmente não é o que se depreende do Novo Código Florestal, a partir da conclusão de que não houve a devida participação daqueles segmentos necessários ao bom debate. Ao que parece, o Poder Legislativo se preocupou em criar uma lei adequada do ponto de vista processual e procedimental, mas falhou em debater com a sociedade e se abrir a ideias cabíveis e necessárias do ponto de vista ambiental. O resultado é a insatisfação de diversos segmentos socioeconômicos, o que se traduz negativamente na crença por mudanças e soluções nos diversos problemas ambientais que o Brasil enfrenta atualmente. Resta aos brasileiros lutar por alterações democráticas em um futuro próximo, na expectativa de obtenção legítima de adequações no tratamento da questão ambiental. REFERÊNCIAS AB´SÁBER, Aziz Nacib. Do Código Florestal para o Código da Biodiversidade. Revista Biota Neotrópica. Disponível em: <http://www.biota neotropica.org.br/v10n4/pt/abstract?po int-of- view+bn01210042010>. Acesso em: 01 jul. 2016. BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado, 1988. _______. Lei 12.651, de 25 de maio de 2012. Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; altera as Leis nos 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 11.428, de 22 de dezembro de 2006; revoga as Leis nos 4.771, de 15 de setembro de 1965, e 7.754, de 14 de abril de 1989, e a Medida Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências. Diário Oficial da República Federativa do Brasil. Brasília, DF, 28 mai. 2012. Disponível em: < http://www.
- 237. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 21 228 planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei /L12651compilado.htm>. Acesso em: 01 jul. 2016. LEI da Água, A. Direção: André D´Elia. Produção: André D´Elia e Fernando Meirelles. Documentário. 04´17”. Disponível em: < https://www.youtube.com /watch?v=n3wZxYgRyW Q>. Acesso em: 02 jul. 2016. METZGER, Jean Paul. O Código Florestal tem Base Científica? Disponível em: <http://www.lerf. esalq.usp.br/divulgacao/recomendados/artigos/metzger 2010.pdf>. Acesso em: 02 jul. 2016.
- 238. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 22 229 O TRABALHO PEDAGÓGICO DE PROFESSORES NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM MEDIADO PELAS TIC: ARTICULAÇÕES E RUPTURAS CAPÍTULO 22 doi Cinthya Maduro de Lima Universidade Federal do Pará – UFPA. Belém – PA. Dinair Leal da Hora Universidade Federal do Pará – UFPA. Belém – PA. RESUMO: Este trabalho é o recorte de uma dissertação, desenvolvida para o mestrado em Currículo e Gestão da Escola Básica (PPEB- UFPA), que tem como objetivo analisar o trabalho pedagógico de professores regentes e de professores de IE no processo de ensino- aprendizagem mediada pelas Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC). Como o estudo ainda está em fase de desenvolvimento, o objetivo proposto aqui é apresentar algumas das principais discussões, a partir da revisão de literatura, sobre a utilização das TIC na ação docente e sobre as concepções de educador e de educando na IE. As considerações provisórias indicam que o conhecimento sobre a temática permitirá ressignificar a relação entre professoresregenteseprofessoresdeIEeassim reafirmar e fortalecer a importância pedagógica do trabalho realizado em parceria, não só entre eles, mas também entre professores e os demais componentes da escola, pois só com a união e o trabalho desses profissionais em parceria com as famílias e os demais órgãos responsáveis pela manutenção da educação é que se poderá atender as aspirações da sociedade atual para a educação, que é a real mudança nos paradigmas educacionais. Considera-se também que dos professores, por estarem na “ponta” do processo educativo, não devem ser exigidos tarefas dissociadas de sua função docente, pois o tempo dispensado para a realização de outras tarefas implica em prejuízo ao atendimento dos alunos, já que, esse tempo poderia ser aproveitado para estudo, planejamento e organização de atividades relacionadas à aprendizagem dos alunos, foco central do trabalho do professor. PALAVRAS-CHAVE: Informática Educativa (IE). Professores. Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC). ABSTRACT: This paper is the clipping of a dissertation, developed for the master’s degree in Curriculum and School Management (PPEB- UFPA), which aims to analyze the pedagogical work of regent teachers and professors of EI in the teaching-learning process mediated by Information and Communications Technologies (ICT). As the study is still in the development stage, the objective here is to present some of the key discussions, from the literature review on the use of ICT in faculty’s activity on the conceptions of teacher and learner in EI. Provisional considerations indicate that
- 239. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 22 230 the knowledge about the subject will allow redefine the relationship between regent teachers and EI teachers and so reaffirm and strengthen the educational importance of the work carried out in partnership, not only between them, but also among teachers and the other staff of school, because only with the cooperation and the work of these professionals in partnership with families and other agencies responsible for the maintenance of education can meet the aspirations of the current society in regard to education, which is the actual change in educational paradigms. It is also considered that from the teachers, because they were on the “edge” of the educational process, should not be required of their teaching function as separated tasks, because the time to carry out other tasks implies damage to students ‘ attendance, as this time could be used to study, planning and organizing activities related to students ‘ learning, central focus of the work of professor. KEYWORDS: Educational Informatics (EI). Teachers. Information and Communication Technologies (ICT). 1 | INTRODUÇÃO A pesquisa sobre o trabalho pedagógico docente com o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) no processo de ensino aprendizagem se dá pela necessidade de conhecermos um pouco mais sobre a formação, a prática e a real função dos professores que atuam com a Informática Educativa (IE) nas escolas de educação básica, visto que é importante estabelecermos uma relação entre a função e o trabalho desses professores no processo de ensino-aprendizagem, com a IE, e a função dos demais professores regentes que atuam nas salas de aula convencional, para podermos caracterizar os diferente papéis exercidos por esses dois grupos de professores nas escolas, com vista a compreender a importância do trabalho pedagógico de cada professor neste processo de educação mediado pelas TIC e assim identificar as possíveis articulações e rupturas que possam existir na relação de trabalho entre eles. Nossa inquietação pelo estudo deste objeto se deu a partir de sete anos de trabalho com ensino fundamental (dois anos como técnica pedagógica e cinco anos como professora de Informática Educativa). Neste período foi possível perceber que a implantação da IE nas escolas gerou uma grande expectativa nas pessoas da comunidade escolar de que o uso das TIC na educação iria resolver os problemas de aprendizagem e melhorar a qualidade da educação do alunado. No entanto, sabemos que as coisas não acontecem de maneira tão simples assim, a realidade é que os problemas educacionais e o fracasso escolar dependem de muitos outros fatores que independem da utilização das TIC para serem solucionados, como fatores sociais, políticos, ideológicos e culturais. Neste período foi possível perceber também algumas distorções em relação a função do professor de IE nas esolas, como: a) desvio de função, pois com frequência
- 240. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 22 231 os professores de IE são requisitados pelos vários componentes da escola para assumirem ou executarem tarefas que não são de seu ofício, tais como: atividades de digitação de documentos, de “alimentação” de blogs, de manutenção/concerto de computadroes e outros, mas que por algum motivo, talvez falta de conhecimento sobre a real função deste profissional na escola, lhes são atribuídos; b) Falta de acompanhamento do professor regente às aulas de IE, visto que, na maioria das vezes o atendimento aos alunos é realizado apenas pelo professor de IE, pois a maioria dos professores regentes não acompanham suas turmas durante essas aulas; outros até chegam entrar na sala de Informática Educativa (SIE), mas não se envolvem na aula, agindo apenas como observadores; e só alguns poucos professores regentes acompanham suas turmas até a SIE e se fazem presentes contribuindo com a aula do professor de IE. Enquanto que o atendimento deveria ser realizado sempre pelos dois professores, uma vez que a SIE não é para uso exclusivo do professor de IE, mas sim de todos os professores e para as atividades pedagógicas da escola como um todo, no sentido de proporcinar ao aluno uma aula diferenciada e atrativa, pois de acordo com Silva e Giacomazzo (2018, p. 76), “as tecnologias apresentam-se como um meio estimulador do processo ensino aprendizagem”, com recursos que possibilitem ao professor trabalhar não só o conteúdo curricular obrigatório, mas também a construção do conhecimento pelo aluno, de forma mais criativa e inovadora. Os relatos acima citados nos impulsionaram a buscar respostas a seguinte questão Central: Como se dá o trabalho pedagógico do professor regente e do professor de IE no processo de aprendizagem mediado pelas TIC? Desta emergem as seguintes questões norteadoras: Quais as bases teóricas da informática educativa e suas contribuições para a ação pedagógica do professor e a aprendizagem do aluno no ensino fundamental? Qual a formação e/ou habilidades necessárias para o trabalho com IE? Como se caracteriza a atuação pedagógica de professores regentes e professores de IE no município de Ananindeua? Os questionamentos sobre a problemática abordada contribuiu para a definição do objetivo geral da investigação: Analisar o trabalho pedagógico de professores regentes e de professores de Informática Educativa no processo de aprendizagem mediado pelas TIC. Bem como dos objetivos específicos: 1) Discutir as bases teoricas da Informática Educativa e suas contribuições para a ação pedagógica do professor e a aprendizagem do aluno no ensino fundamental; 2) Descrever o processo de formação dos professores, necessário para o trabalho com Informática Educativa e; 3) Caracterizar a atuação pedagógica do professor regente e do professor de IE no ensino fundamental no município de Ananindeua. Diante do exposto, este trabalho tem por objetivo apresentar algumas das principais discussões, a partir da revisão de literatura, sobre a utilização das TIC na ação pedagógica e sobre concepções de educador e de educando na IE.
- 241. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 22 232 2 | REVISÃO DE LITERATURA Para a materialização deste estudo foram utilizadas como fontes de orientação as formulações conceituais de vários autores, como: Almeida (2000), Altoé e Fugimoto (2017), Cardoso, Azevedo e Martins (2013), Estevam e Fürkotter (2009), Cardoso, Azevedo e Martins (2017), Libâneo, Oliveira e Toschi (2012), Melo e Urbanetz (2008), Silva e Giacomazzo (2018) dentre outros. De acordo com Triviños (1987), a revisão de literatura tem por finalidade a familiarização com a temática levantada, a fim de formar base teorica para explicar, compreender e dar significado aos fatos relacionados ao objeto de pesquisa. 3 | AS TIC NA ESCOLA BÁSICA E O TRABALHO PEDAGÓGICO COM A INFORMÁTICA EDUCATIVA As principais discussões sobre a utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação nas Escolas, por meio do trabalho pedagógico com a IE, levam em consideração que, hoje, as TIC são essenciais e indispensáveis para a educação no contexto da globalização, definido por Libâneo, Oliveira e Toschi (2012) como o conjunto de transformações sociais, advindos, principalmente dos avanços da tecnologia, que no mundo globalizado, vem promovendo mudanças significativas na sociedade em quase todas as áreas do conhecimento, inclusive na educação, em que a implantação e a utilização das TIC “impõem novos ritmos e dimensões à tarefa de ensinar e aprender” (ALTOÉ; FUGIMOTO, 2009, p.164). Nesse sentido, a escola deve buscar meios de se adequar a esta nova realidade, em que o conhecimento está presente em vários ambientes sociais (casa, trabalho, clubes, parques, praças, entre outros), já que, segundo Estevam e Fürkotter (2009, p.90) “o saber onde e como aprender tornou-se mais importante que o próprio ato de aprender”. Martins e Teixeira (2015, p.53) afirmam que “é preciso reconhecer que vivenciamos um momento de futuros imprevisíveis e no qual as informações estão amplamente disponíveis fora da escola, em grande parte nos dispositivos midiáticos”. Dessa forma, os alunos, a partir das informações disponíveis, a todo o momento, na palma de suas mãos, por meio de smartphones conectados à internet (rede mundial de computadores), não mais se contentam com o ensino tradicional, no qual as aulas são unicamente expositivas e os alunos têm apenas que aceitar e acumular os conteúdos repassados pelo professor, elaborados e planejados por adultos longe do contexto e de sua realidade e que, na maioria das vezes, não leva em conta o interesse dos alunos, mas sim o que o se julga importante para o futuro deles (MARTINS; TEIXEIRA, 2015). O aluno ao utilizar o computador, baseado nas informações colhidas por ele,
- 242. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 22 233 por meio de uma rede de conhecimentos, tem a possibilidade de fazer a reflexão, a execução e a depuração das informações coletadas e, posteriormente, tirar suas próprias conclusões a respeito do assunto tratado e assim construir o seu próprio conhecimento (ESTEVAM; FÜRKOTTER, 2009). Nesse sentido, a escola precisa reconhecer que os alunos da sociedade do conhecimento têm habilidades para usar e aproveitar muito bem essa tecnologia e sabem que podem, a qualquer momento, consultar uma informação repassada pelo professor e questionar a sua veracidade. Dessa forma, precisamos reconhecer que: A instituição escolar, portanto, já não é considerada o único meio ou o meio mais eficiente e ágil de socialização dos conhecimentos técnico-científicos e de desenvolvimentos de habilidades cognitivas e competências sociais requeridas para a vida prática. A tensão em que a escola se encontra não significa, no entanto, seu fim como instituição socioeducativa ou o início de um processo de descolarização da sociedade. Indica, antes, o início de um processo de reestruturação dos sistemas educativos e da instituição tal como a conhecemos. A escola de hoje precisa não apenas conviver com outras modalidades de educação não formal, informal e profissional, mas também articular-se e integra-se a elas, a fim de formar cidadãos mais preparados e qualificados para um novo tempo (LIBANEO; OLIVEIRA; TOSCHI, 2012, p. 63). Diante deste contexto, as TIC vêm ganhando cada vez mais espaço efetivo nas escolas, pois são muitas as opções tecnológicas e mídias disponíveis para facilitar e incentivar a aprendizagem do aluno. Dentre elas podemos citar os computadores ligados à internet, software de criação de atividades e sites, televisão a cabo, projetores de imagens, sistema de rádio, jogos eletrônicos, dentre outros. Apesar disso, para que haja o real aprendizado, não é suficiente que a escola apenas tenha os equipamentos tecnológicos encaixotados ou que eles, simplesmente, sejam utilizados de qualquer maneira. “[...] é necessário pensar como eles estão disponibilizados e como seu uso pode desafiar as estruturas existentes ao invés de reforçá-las” (CARDOSO; AZEVEDO; MARTINS, 2013, p.5). Isso porque, estamos as TIC trazem um novo referencial de educação e, segundo Prado apud Almeida (2000, p. 16): Oaprendizadodeumnovoreferencialeducacionalenvolvemudançadementalidade [...]. Mudança de valores, concepções, ideias e, consequentemente, de atitudes não é um ato mecânico. É um processo reflexivo, depurativo, de reconstrução, que implica em transformação, e transformar significa conhecer. Precisamos reconhecer que, neste contexto de educação mediada pelas TIC, “o professor não é mais o centro do processo, passando a desempenhar o papel de mediador e facilitador da construção do conhecimento” (ESTEVAM e FÜRKOTTER, 2009, p. 94) construído pelo aluno, atual protagonista em meio ao processo de aprendizagem, que “origina-se na ação do aluno sobre os conteúdos específicos e sobre as estruturas previamente construídas que caracterizam o nível real de
- 243. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 22 234 desenvolvimento no momento da ação” (ALMEIDA, 2000, p.69). Nesse novo papel, cabe ao professor se conscientizar sobre a nova realidade educacional, influenciada pela sociedade do conhecimento e se adequar com nova postura e métodos de ensino que atendam às exigências de do novo modelo de educação. Segundo Estevam e Fürkotter (2009, p. 94) “trata-se de uma resposta à mudança de paradigma educacional, decorrendo de toda transformação social, econômica e política ocorrida com o advento da sociedade do conhecimento”. Sabemos, no entanto, que é sempre um desafio a uma instituição escolar e a um professor/educador, transformar suas estratégias didáticas, (re)construir um projeto pedagógico próprio, (re)fazer material didático e recuperar constantemente sua competência, mas é essencial termos a consciência sobre a importâncias dessas ações. Para Estevam e Fürkotter (2009, p. 91), “parece coerente diante dessa atual situação tomar o professor como profissional reflexivo, que repensa a sua prática a partir dela mesma”. Todavia, para que o professor/educador consiga alcançar o objetivo de rever seus conceitos e práticas pedagógicas, torna-se necessária a capacitação profissional, não só dele, mas de todos os envolvidos no planejamento e na organização do trabalho pedagógico, de forma a possibilitar, não apenas, a correta utilização das TIC nas atividades pedagógicas, mas também numa “perspectiva da constante análise sobre suas práticas educativas no cotidiano escolar” (CORREA; BONIFÁCIO; NUNES, 2007, p. 4), Assim, é importante a conscientização de que o uso das TIC através da IE não trarão melhorias no desempenho dos alunos se não vierem acompanhadas de posturas construtivistas, que possibilitem a construção de conhecimento a partir de situações que façam os alunos refletirem sobre a realidade que os cercam (CARDOSO; AZEVEDO; MARTINS, 2013). A construção dessa conscientização se dá de forma individual, pois é intrínseca à pessoa, mas a escola tem o dever de motivar a construção desses comportamentos pelos indivíduos que nela estão inseridas e, nesse sentido, o uso das TIC pode ser de grande valia, pois, conforme Almeida (2012, p. 15, grifo nosso): O uso do computador nesse contexto tem o significado de ajudar a fazer os diagnósticos da realidade e de facilitar o cruzamento entre as necessidades locais e os e conteúdo das ciências, da arte e da cultura disponíveis em suas enormes redes. Mas para isso é necessário um excelente projeto pedagógico e de cada professor em sua disciplina (ALMEIDA, 2012, p 15). O autor usa o termo computador para atribuir o significado do texto acima, mas sabemos que o avanço tecnológico nos possibilita a ampliação deste significado a os demais recursos tecnológicos, as TIC. Silva e Giacomazzo (2018, p. 68, grifo nosso), também acredita na contribuição das TIC para o processo de conscientização humana, ao entenderem que:
- 244. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 22 235 Praticas articuladas com as tecnologias de informação e comunicação são importantes no atual contexto pedagógico e escolar, a fim de que a educação possa acompanhar a sociedade contemporânea digital. Contudo, é necessário que o professor tenha conhecimento na área de tecnologias e que faça planejamentos com objetivos predefinidos, além de ter a sua disposição uma estrutura adequada para que todos os alunos tenham acesso aos recursos tecnológicos. Como podemos perceber, os dois últimos autores deram ênfase a importância do planejamento para o qualidade do trabalho pedagógico com o uso TIC, contudo, o segundo foi mais além, lembrando da necessidade de uma boa estrutura física na escola e de formação de professores para o uso desses recursos. A formação de professores é importante não só para a correta utilização das tecnologias na sala de aula, mas também para o possível acompanhamento e redirecionamento do trabalho desenvolvido com os alunos, assim como para o posicionamento crítico diante da utilização desses recursos, já que, segundo Estevam e Fürkotter (2009, p. 95) “para a eficácia da aprendizagem apoiada no uso das tecnologias, não basta capacitar o professor para que ele tenha a familiaridade com a máquina, é necessário um posicionamento crítico diante desta realidade”. Sendo assim, para que o uso das TIC no processo ensino aprendizagem favoreça a educação, formando cidadãos ativos e reflexivos, é necessário que sua implantação seja acompanhada de uma política de implementação que possibilite o conhecimento sobre a utilização desses novos recursos e o que eles implicam na educação dos alunos. Sendo assim, para que o uso das TIC no processo ensino aprendizagem favoreça a educação, formando cidadãos ativos e reflexivos, preparados para a sociedade atual, é necessário que sua implantação seja acompanhada de uma política de implementação que envolva todos os sujeitos abrangidos no processo educacional, diretores, coordenadores, professores (regentes e de IE), alunos e demais agentes de apoio educacional, assim como a comunidade escolar como um todo, com informações que possibilite o conhecimento sobre a utilização desses novos recursos e o que eles implicam na educação dos alunos e ações que viabilizem o trabalho colaborativo entre esses sujeitos, visando o entendimento de que a educação é um direito de todos para que um projeto educacional dê certo é preciso a participação de todos. 4 | CONSIDERAÇÕES PROVISÓRIAS O estudo preliminar das teorias que tratam da temática abordada, nos possibitou entenderqueoconhecimentosobreotrabalhopedadógicodocentecomaIEnoprocesso de ensino aprendizagem nos permirá ressignificar a relação entre o professor regente e o professor de informática educativa e assim reafirmar e fortalecer a importância pedagógica do trabalho realizado em parceria, não só entre eles, mas também ente professores e os demais componentes da escola, como coordenadores, gestores e
- 245. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 22 236 os demais agengtes da comunidade escolar, pois só com a união e o trabalho desses profissionais em parceria com as famílias e os demais órgãos responsáveis pela manutenção da educação é que poderemos atender as aspirações da sociedade atual para a educação, que é a real mudança nos paradigmas educacionais. Bem como foi possível entender que dos professores, sejam eles de sala de aula ou de SIE, por estarem na “ponta” do processo de ensino aprendizagem, não devem ser exigidos tarefas dissociadas de função docente, poque o tempo dispensado para a realização de outras tarefas implica em prejuízo ao atendimento dos alunos, já que, esse tempo poderia ser aproveitado para estudo, planejamento e organização de atividades relacionadas à aprendizagem dos alunos, foco central do trabalho do professor. REFERÊNCIAS ALMEIDA, M. E. B. PROINFO: A Informática e formação de Professores / Secretaria de Educação a Distancia. Brasília: Ministério da Educação, Seed, 2000. ALTOÉ, Anair; FUGIMOTO, Sonia Maria Andreto. COMPUTADOR NA EDUCAÇÃO E OS DESAFIOS EDUCACIONAIS. In: IX Congresso Nacional de Educação – EDUCERE./ III Encontro Sul Brasileiro de Psicopedagogia. PUCPR, 2009. P. 163-175. Disponível em: <http://www.pucpr.br/eventos/educere/ educere2009/anais/pdf/1919_1044.pdf>. Acesso: em 28 mai. 2017. CARDODO, Amanda Mayra; AZEVEDO, Juliana de Freitas; MARTINS, Ronei Ximenes. Histórico e Tendencias de Aplicação das Tecnologias no Sistema Educacional Brasileiro. Revista Digital da CVA – Ricesu, ISSN 15198529 v.8, n.3, dez. 2013. Disponível em <http://pead.ucpel.tche.br/revistas/ index.php/colabora/article/view/252>. Acesso em: 06 abr. 2017. CARVALHO, Daniella Duda Nunes de. Universidade de Brasilia: O uso das mídias pelos professores em um centro de ensino fundamental do Distrito Federal. 2013. 35f. Monografia (Especialização em Coordenação pedagógica. Universidade de Brasília. Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares. Brasília, 2013. Disponivel em: <http://bdm.unb.br/ bitstream/10483/8902/1/2013_DanielleDudaNunesdeCarvalho.pdf>. Acesso em: 23 abr. 2017. CORREIA, Cátia Caldas; BONIFÁCIO, Rosemary Sant’Anna; NUNES, Lina Carsoso. O CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DE INFOMÁTICA EDUCATIVA COMO POSSIBILIDADE DE MUDANÇA NA PRÁTICA DOCENTE. In: 30ª Reunião anual da Anped. 2007. Disponível em: <http:// www.anped.org.br/sites/default/files/gt08-3083-int.pdf>. Acesso em: 28 abr. 2017. ESTEVAM, Everton José Goldoni; FÜRKOTTER, Monica EDUCAÇÃO ESTATISTICA E TECNOLOGIA EDUCACIONAL: Apropriando contextos sob a perspectiva da formação de professores. Revista Teoria e Prártica da Educação, v.12, n.3, p.345-354, set./dez.2009. Disponível em: <http://eduem.uem.br/ojs/index.php/TeorPratEduc/article/view/7553>. Acesso em: 12 abr. 2017. LIBANEO, José Carlos; OLIVEIRA, João Ferreira; TOSHI, Mirza Seabra. Educação Escolar: políticas, estrutura e organização. 10. ed. rev. e ampl. - São Paulo; Cortez, 2012. MELO, Alessandro de; URBANETZ, Sandra Terezinha. Fundamentos da Didática. 20 ed. Curitiba: Ibipex, 2008. SILVA, Bruna da; Giacomazzo, Graziela Fátima. ESCOLA E TECNOLOGIAS: ANÁLISE DA PRÁTICA EDUCATIVA DOS PROFESSORES NOS ANOS INICIAIS DA REDE PÚBLICA DE MARACAJÁ-SC. Saberes Pedagógicos: Revista do Curso de Graduação de Pedagogia – UNESC. ISSN: 2526-4559. v. 2, n. 2, p. 72-89, jul. / dez. 2018. Disponível em: http://periodicos.unesc.net/pedag/article/view/4248. Acesso: 08 set. 2018.
- 246. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 22 237 TRIVIÑOS, Augusto Nibaldo Silva. Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa qualitativa em educação. São Paulo, Atlas, 1987.
- 247. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 23 238 PROCESSOS CRIATIVOS DE ENSINO DE DESENHO EM ESPAÇOS VIRTUAIS CAPÍTULO 23 doi Leda Maria de Barros Guimarães Faculdade de Artes Visuais/UFG Maria de Fatima França Rosa Faculdade de Artes Visuais/UFG Hélia Barbosa Faculdade de Artes Visuais/UFG RESUMO: O presente texto apresenta e discute uma experiência docente com a disciplina de Introdução a Linguagem Bi e tridimensional na Licenciatura em Artes Visuais na modalidade da EAD, na Faculdade de Artes Visuais da UFG, ocorrida em 2017. O objetivo é provocar outros olhares para as possibilidades pedagógicas dessa formação, especialmente, no que se refere ao desenvolvimento de processos criativos e poéticos considerados impossíveis na chamada “educação a distância”. Com base em processos netnográficos, procuramos descrevererefletirsobreapropostadadisciplina, os caminhos percorridos pelos estudantes e professores, natureza das interações e a forma como teoria e prática vão sendo articuladas por meia construção de repertórios de técnicas, materiais, suportes, gestualidades no processo compositivo ao longo de um fluxo processual de aprendizagem na Produção Bidimensional e Tridimensional. Consideramos como ponto fundamental que o(a) estudante fosse um pesquisador(a) de sua prática, buscando conhecer trabalho de colegas e de outros artistas e os processos que utilizaram em suas composições. Ao mesmo tempo em que foram desconstruindo pré-conceitos e mitos, foram construindo outros conceitos e adquirido novos repertórios, que podemos comprovar, por meio das atividades desenvolvidas pelos estudantes da proposta dos estudos teóricos e práticos durante o percurso da disciplina em questão. PALAVRAS-CHAVE:FormaçãodeProfessores, Experimentação. Poética. Bi e Tridimensional. INTRODUÇÃO Quando mencionamos cursos de formação de professores em artes visuais ofertados na “modalidade a distância” uma das perguntas mais frequentes é sobre como se dá o trabalho da “parte prática”, ou seja, o ensino de desenho, pintura, escultura, gravura e demais ateliês previstos no currículo? De antemão, temos que esclarecer dois pontos dessa dúvida. Em primeiro lugar, explicar que no contexto brasileiro, os cursos de Licenciatura ofertados pelas Instituições Públicas de Ensino Superior, não podem ser 100% a distância. É obrigatório que existam momentos presenciais, os quais cada IES e cada curso, organiza de acordo com as suas possibilidade e recursos disponíveis. Assim, EAD é apenas um clichê,
- 248. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 23 239 uma vez que os cursos são semipresenciais. A segunda explicação é que a chamada “parte prática” é outro clichê muito presente na organização da proposta curricular, uma vez que a oferta dessas práticas, onde prepondera a ênfase nos processos de criação, está entremeada com perspectivas históricas, filosóficas, reflexivas e pedagógicas, como poderemos perceber na narrativa que apresentamos. As autoras desse texto, consideraram importante apresentar reflexões sobre experiências docentes no enfrentamento das duas questões que introduzem esse texto. De certo que é um olhar recortado a partir de nossas percepções, muito se ganharia com outras escritas por exemplo, produzidas por estudantes que vivenciaram o processo. Assim, este artigo trata da experiência de processos pedagógicos no curso de Licenciatura em Artes Visuais na modalidade da EAD, na faculdade de Artes Visuais da UFG, na disciplina: Introdução ao Desenho e Introdução à Produção Bidimensional e Tridimensional em 2017. A disciplina teve como objetivos conhecer concepções de desenho, a experimentação da expressão criativa; conhecer o repertório e o processo compositivo dos estudantes adquiridos nas experimentações com os diferentes materiais gráficos, suportes e gestualidades ao longo do processo. Esse texto, foi escrito por meio da consulta de dados arquivados no Ambiente Virtual deAprendizagem do Moodle, onde a disciplina ocorreu. Utilizamos a netnografia como metodologia uma vez que esta se configura como alternativa para realizar estudos de campo na Internet (HINE, 2000) e em ambientes virtuais podendo também, ser adotada enquanto método interpretativo e investigativo para o comportamento cultural de comunidades on-line como é o nosso caso. Nessa oportunidade podemos refletir sobre a proposta dos exercícios, os fóruns de discussões, e o desenvolvimento das atividades pelos alunos, a aceitação da proposta, assim como os medos, os receios de não conseguirem executar as atividades. CONSTRUINDO A PROPOSTA Para aquelas pessoas que desconhecem a experiência do chamado ensino a distância nas IPES, talvez seja necessário explicar que geralmente, as disciplinas são elaboradas de forma colaborativa entre professores formadores e tutores (pelo menos podemos falar assim da FAV-UFG). Antes do mesmo do início, a equipe se reuniu várias vezes para desenhar um fluxo de aprendizagem ao longo do semestre. Depois da disciplina iniciada as reuniões passaram a ser semanais para discutimos sobre as leituras recomendadas, sobre os exercícios propostos, sobre interações nos fóruns, sobre dificuldades e ausências de estudantes, etc.As tardes de reuniões também foram tardes de produção criativa, os desafios propostos para os estudantes eram também enfrentando pela equipe na procura de evitar que professores seguissem o velho ditado “faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço”. Assim, entre discussões, café, tintas, pincéis e bolos, íamos recuperando também, nosso prazer da experimentação. Além das reuniões presenciais, a equipe manteve um grupo de WhatsApp no qual
- 249. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 23 240 intensas trocas eram feitas, dúvidas levantadas, pedidos de socorro, alegrias, (re) planejamentos, (re)avaliações, etc. Falar do todo esse processo da equipe nos ajuda a pensar em “quão distante é a educação a distância” para quem não está por perto. O fluxo de aprendizagem foi organizado em exercícios bidimensionais, tridimensionais e depois, propostas que relacionassem as várias possibilidades de construções bi e tri. Ainda no primeiro encontro presencial que aconteceu nas dependências da Faculdade deArtes Visuais em Goiânia, foram realizadas as primeiras experimentações. Os estudantes iniciaram os estudos com os elementos básicos do desenho: estudo do desenho a partir das noções; estudos a partir do objeto e modos de ver e representar o desenho e estudo dos conceitos e funções do desenho na Arte, conhecimento e experimentação de materiais, técnicas e processos. Na Introdução ao Tridimensional, os estudantes iniciaram os estudos dos elementos formais da tridimensionalidade: ponto, linha, plano, massa composição, volume, forma, peso, equilíbrio, ritmo, movimento, simetria e assimetria; semântica dos materiais: cor, textura, resistência e rigidez. E a prática teve como proposta o conhecimento e a experimentação de materiais, técnicas e processos. A fundamentação teórica da disciplina foi trabalhada de várias maneiras. Do texto “oficial”Ateliê deArtes Visuais: Linguagens Bidimensionais (Guimarães e Chaud, 2010) a outros que foram sendo incorporados tais como “Campo Plástico – Padrão Linear de Marcelo Duprat (1994), Edith Derdik (2007), Ostrower (1987) e outras referências que buscamos na fundamentação teórica e prática. Para Lacaz (apud Tinoco, 2006), a busca do artista ao inventar a sua poética é incansável, e enquanto produz a obra se inventa também o modo de fazer. No processo de criação foi proposto aos estudantes que buscassem descobrir novos meios de utilização e combinações entre os materiais gráficos e suportes em suas composições no bidimensional e no tridimensional, e que descrevessem as etapas dos procedimentos, os materiais utilizados, as possíveis combinações e os resultados, que foram registrados no CRE (Caderno de Registro de Experiências). Em Derdyk (2007), buscamos no seu processo de criação e de pesquisa em arte (a artista produz em seus trabalhos instalações nos quais o espaço é invadido pelas linhas, que tencionam, se aglomeram, com costuras e suturas), desenvolver as atividades com os estudantes que passavam do plano bidimensional ao tridimensional, em um processo de hibridação nas composições com linhas que saíram do desenho e foram para o espaço, criando formas no plano tridimensional. Uma vez que o curso de licenciatura em artes visuais tem como principal objetivo a formação de professores para o ensino da arte, é de fundamental importância que o/a mesmo/a seja capaz de compreender o conceito de desenho, de bidimensionalidade e tridimensionalidade.Paraisso,aprendersefaznecessárioeasdiscussõesquearticulam conceitos e definições a respeito da experimentação e composição nos planos bi e tridimensional, foram fundamentais para pensarmos a respeito das visualidades que
- 250. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 23 241 fazem parte de nosso cotidiano e estão imersas em nossos (s) contexto(s). Em meio a polarizações que envolvem as relações entre as linguagens artísticas pontuadas e legitimadas e as visualidades cotidianas. No exercício reflexivo para escrita desse texto, mesmo nos referindo a etapas, podemos perceber que a proposta se deu em um contínuo, que a ideia de fluxo não se perdeu, e foi sendo refeita de acordo com as diversas interações de todos as pessoas envolvidas. Fayga Ostrower não subdivide o processo criativo em fases ou etapas. Para ela o processo criativo é um processo existencial, tal qual o viver, que abrange o pensar e o sentir, o consciente e o inconsciente e uma grande dose de intuição. Fayga adverte que, contudo, o caminhar jamais será aleatório. (1987, p.76). A proposta da disciplina se pautou por um olhar mais amplo das noções de desenho, experimentações e composições nos planos bi e tridimensional. Ampliando essa ideia, nós direcionamos à formação de um/a professor/a problematizador/a e pesquisador/a de sua própria prática pedagógica. A proposta da disciplina teve como objetivo inicial a desmistificação dos mitos que” pululam” em torno do fazer artístico nas linguagens bidimensional e tridimensional, como o fato da pessoa ter que ter um” dom”, por exemplo para desenhar, uma ideia romântica de ser artista. PRIMEIROS ENCONTROS (OU NÃO) COM A RELAÇÃO MATERIAL, SUPORTE E GESTUALIDADE No primeiro encontro presencial aconteceu antes da nossa convivência no espaço no moodle. Oriundos dos polos deAnápolis, Aparecida de Goiânia, Cavalcante, Inhumas e Mineiros nossos estudantes chegaram na Faculdade de Artes Visuais para iniciar um curso superior sem muita noção do que iriam ter pela frente. Não nos conhecíamos ainda nem sabíamos que experiências de desenho aquelas pessoas traziam. Que desejos tinham em relação a formação? Nosso primeiro encontro foi marcado por incertezas, inquietações tais como: eu não sei desenhar, socorro!!! ou: eu já sei desenhar, o que será que vou fazer nessa disciplina? Inicialmente discutimos nossas experiências, e os desejos e medos sobre o desenho e a escultura, ou seja, na representação do bidimensional e do tridimensional, problematizando os conceitos impostos sobre padrões estéticos. Começamos pondo a mão na massa explorando diversos materiais e suportes, pedindo que pesquisassem o que riscava melhor onde, efeitos de intensidade, etc., lembrando que não é só a mão que desenha, o corpo todo age no desenho, e assim, pedimos que variassem posturas e gestualidades nessa experimentação. Já na semana seguinte, começamos nossa interação no moodle com um fórum intitulado: Existe vida após o presencial? Neste espaço foram discutidas as experiências do primeiro encontro e as mudanças ocorridas na forma de pensar e fazer o desenho. Como as discussões sobre bi e tridimensional realizadas no presencial foram trabalhadas nesses dias? Como você está se organizando para produzir
- 251. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 23 242 (espaços, materiais, suportes, etc.)? Compartilhe as experiências realizadas após o presencial. Várias postagens trouxeram as questões da ruptura do medo de desenhar sem o “peso do desenho errado” como a do estudante a seguir: [...] quando frequentei as aulas de artes no ensino fundamental, sempre ouvia os professores falarem: Este desenho está horrível, todo errado! Apaga e faz de novo, está só os garranchos! Isso não é desenho! Mas depois do encontro presencial e das leituras que estou fazendo sobre desenho me sento mais confortável e livre para desenhar e exporto os meus traços. Tenho ciência que ainda preciso melhor muito, mas já é um começo! E o melhor de tudo, sem tensão! Seguem alguns desenhos que fiz. (T.V. da S.) - domingo, 22 out 2017, 16:27). O ensino de artes visuais na escola é fundamental para o desenvolvimento da imaginação e do pensamento divergente para trabalhar os processos de criação. No entanto, sabemos que infelizmente, profissionais de outras áreas assumem a disciplinas de artes visuais e geralmente, prejudicam e atrapalham esse processo como vemos no depoimento dessa estudante que diz ser apaixonada por arte, mas que tinha e tem muito receio de se aventurar no desenho e nos conta que “quando criança... na sala de aula a professora me corrigiu, falando que minha flor não poderia ser marrom e que melhor seria o vermelho, pois ficaria mais bonita. Mas eu gostava tanto do marrom.... Mesmo assim cedi ao olhar de reprovação da professora. (Depoimento de L. R.deS.C.- sábado, 21 out 2017, 20:22) Aestudanteafirmaquenaauladoencontropresencialelaseaventurounovamente na arte do desenho e que agora irá aplicar um mote que trabalhamos em sala de aula parodiando o verso de Drummond “amar se aprende amando”, e para quem nunca fez um desenho, vou aplicar: Aprende-se a desenhar, desenhando! Então selecionei uma mesa e alguns papéis e vamos à construção. Vamos criar. Vejamos como a interação de professores e tutores com essas histórias de vida que os estudantes vão colocando é fundamental no processo de construção do conhecimento. A Tutora Luciene Lacerda (em 20 de outubro/2017) responde da seguinte forma a uma aluna: A cada depoimento que eu leio eu fico muito emocionada, porque eu percebo que a potência que é o desenho nas nossas vidas. Você me fez lembrar de um pensamento da Edith Derdik que é assim: “Objetos, pessoas, situações, animais, emoções, ideias, são tentativas de aproximação com o mundo. Desenhar é conhecer, é apropriar-se”. (Edith Derdyk,1994, p.24). Podemos tomar esse pensamento emprestado e vivenciar o desenho, retomar essa ação que nos faz aproximar de tudo que está ao nosso redor. Como citei um pensamento, deixo aqui a referência caso queira aprofundar na leitura. Edith Derdyk. Formas de pensar o desenho: O desenvolvimento do grafismo infantil. Série: Pensamento e ação no magistério. São Paulo: Scipione, 1994. Vemos que a relação afetiva vai se desenhando ao mesmo tempo em que as referências vão sendo colocadas com base nas peculiaridades que as histórias de vida se apresentam. Por mais que o conteúdo tenha sido planejado antes da disciplina
- 252. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 23 243 iniciar, é nessas interações que a vida se faz presente. A próxima atividade teve como proposta a pesquisa e a composição intencional commateriaisgráficosesuportes,utilizandoorepertorioadquiridonasexperimentações com os diferentes materiais gráficos e suportes, e a reflexão sobre o processo da composição nos planos bi e tridimensional. A experimentação continuava, mas agora, com mais consciência da busca de efeitos, natureza de materiais e suportes, etc. Tudo isso, deveria ir sendo anotado no CRE- Caderno de Registro de Experiências: Fig.01. Imagem do Caderno de Registro de Experimentações. CRE de uma estudante. Fonte- Moodle Ipê/FAV/UFG. 2017. Vejamos no exemplo a seguir como as anotações trazem uma consciência do processo criativo: Apesar dos resultados parecerem “uma livre experimentação” tão em voga nas atividades escolares da livre expressão, são radicalmente diferentes quando temos a pesquisa como base: Fig. 2. Imagem do Fórum: Da Experimentação Aleatória a Composição Intencional. Fonte- Moodle Ipê FAV/UFG. A escolha do material utilizado na produção desta obra se deu por conta de serem leves, flexíveis, ásperos, de fina espessura e recicláveis. Papel, papelão, madeira, bambu, arames, lixa e isopor. Estes suportes que compõe a obra foram garimpados no ateliê. O primeiro desenho a ser feito foi no isopor utilizando giz de cera, caneta
- 253. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 23 244 hidrográfica, lápis de olho, lápis de cor e caneta esferográfica. Neste suporte percebi sutilmente ao passar o giz de cera sobre a superfície áspera do isopor as cores iam aparecendo bem sutilmente.Aproveitei então para ativar o fundo do desenho, utilizando o laranja, amarelo e vermelho. Fui experimentando então com outros materiais gráficos. A caneta hidrográfica no isopor é também interessante de trabalhar, ao riscar o isopor logo absorve parte da tinta e tem que esperar um curto espaço de tempo para secar. O lápis de olho é o mais legal de trabalhar, ele tem um preto profundo e deixa resíduo no suporte permitindo fazer borrões e manchas. Percebi também que o isopor reflete luz, ou seja, há brilho no próprio suporte. (Por G.S. de A. - sábado, 28 out 2017, 18:22). Apesar dos resultados que surgiam, sentimos que os estudantes estavam ansiosos por algo mais palpável, onde pudessem, digamos, utilizar as experimentações, gostavam e achavam lúdico, mas, ainda não viam muito sentido.Assim, desenvolvemos a atividade seguinte com a seguinte proposta: “O mundo que me rodeia”. A proposta começava com um exercício de fotografar uma árvore (tema gerador) como exercício de observação e percepção visual de composição de linhas, formas, movimento em um elemento da natureza. Depois de fotografarem a arvore os estudantes passaram pelo exercício de análise da imagem, seguido da produção de 2 trabalhos a partir da imagem fotografada, buscando soluções diferentes de materiais, suportes, gestualidades. A fotografia serviu como ponto de partida para novos estudos nos quais, as experimentações anteriores poderiam ir sendo testadas. Fig. 3, 4 e 5. Imagens do Fórum. Produção - por P. P.B. 2017. Moodle FAV/UFG. 2017. Olá a todos...divido com vocês o meu trabalho, e digo logo antes que foi uma experiência e tanto ao criar esses dois quadros. Quis usar o tema de árvores em lugares com aparências diferenciadas mas com um mesmo sentido “Queimadas da flora”... De alguma forma foi inacreditável como me senti ligada ao meu desenho. Além da guache e a aquarela, usei papelão como suporte para o meu desenho e folha de chamex. Na segunda composição utilizei giz óleo e a partir das cores, tons sobre tons, tentei explorar a questão da mancha, explorar o filtro natural da fotografia para o desenho e pintura. (Por PALOMA P.B). Esse foi um momento de muita produção. As fotografias chegavam ao fórum em profusão, foi difícil escolherem uma para o trabalho. Outro dado importante é que este
- 254. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 23 245 exercício teve validade tanto para quem ainda estava iniciando como para aqueles mais experimentados, como podemos perceber nos dois exemplos abaixo: Fig. 6. e Fig. 7. Exercícios da etapa 2. L (fig.07) e E. (fig.08). Moodle FAV/UFG. 2017. • Postagem 1: A cada composição está ficando melhores as minhas experi- mentações, só que visualmente olhando não se percebe, mas pessoalmen- te percebo um grande avanço para mim que não tenho e não tinha a pratica com o desenho. Na minha experimentação utilizei (caderno de desenho co- mum) lápis de carpinteiro, tinta guache (composições de mistura de cores), pincel grosso e fino, para as folhas utilizei um pedaço de esponja de lavar louças. (Registro no CRE de L. F. Maia). • Postagem 2: Para este trabalho eu resolvi usar materiais que tivessem um vínculo maior com a árvore em si. Usei olho extraído da “Sangra D’água”, ár- vore conhecida popularmente por ter um “poder de cura” e o olho extraído da Mucuíba, árvore também usada na “medicina popular natural”. Como base usei papel canson, A-3, com 140 de gramatura, Lápis n° 2 para o rascunho e pincel Tigre n° 2 para a aplicação do óleo na folha. Para a reprodução do desenho eu usei o pontilhismo como referência técnica justamente para ex- perimentar a aderência desse material ao papel e consequentemente a mu- dança de cor após os olhos secarem. (Registro no CRE de E. S. Carvalho). Voltamos aos processos de criação, dessa feita, provocando os estudantes a se lançarem na aventura da construção tridimensional. No tópico “Emaranhando O Espaço” a ênfase foi na pesquisa, apropriação e transformação de matéria prima para composiçõesespaciais.Osestudantesforaminstigadosabuscarsoluçõescompositivas experimentando as relações de altura, largura e profundidade sem a preocupação de representação de uma determinada forma figurativa. Discutimos possíveis operações para esse processo: aglutinação, encaixes, justaposições, acúmulos, etc. Foi pedido também que eles indicassem o material escolhido utilizado na experimentação
- 255. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 23 246 tridimensional e descreverem as características do material (flexibilidade, espessura, textura, rigidez, maleabilidade). Fig. 8. J. P. D. Imagens do Fórum do Tópico 4: Emaranhando O Espaço. Moodle Ipê. FAV/EAD/ UFG. 2017. Na composição utilizei o material metálico tipo tela unidos pelo próprio arame, comecei a movimentar o material, observar sua resistência, maleabilidade, traços, transferências, fui fazendo um movimento de ondulação e torção resultando em um efeito interessante ao andar em torno do trabalho e observar formas geométricas, espaços vazios, formas semelhantes a fita de DNA, ondulações e transparência. (Tópico 4: Emaranhando O Espaço. Por J. P. D.). Um dado que sempre chamou nossa atenção nas mediações acontecidas nos fóruns é como os estudantes são afetados pelos trabalhos de colegas. Consideramos a importância pedagógica desse afetamento e resolvemos investir nessa potência, que tira a centralidade da atuação dos professores e ressalta relações mais horizontais nesses processos. Assim, no Tópico 5: O trabalho Que Mora Ao Lado, a proposta da atividade foi na percepção, analise e reflexão sobre a produção dos colegas. Foi pedido aos estudantes para escolher 1 ou 2 trabalhos com os quais mais se identificassem e que justificassem a escolha tentando desenvolver as seguintes reflexões: a) Como a produção escolhida me desafia a refazer o meu próprio trabalho? O que eu “pediria emprestado” para desenvolver ou dar continuidade a minhas construções bi e tridimensionais? Fig. 9 e Fig. 10. M. N. N. B. Fonte: Moodle Ipê. FAV/EAD/UFG. 2017.
- 256. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 23 247 Olá! Professores e colegas, me identifiquei com o trabalho da colega Paloma, pois pude perceber imagens em destaques. Ao qual aprecie bastante os traços usado para destacar as cores fortes e vibrantes, podendo ser adequadas também em um tom rústico ressaltando a qualidade e o contraste da arte exposta, uma arte bem introduzida que pode ser utilizada como forma de expiração as artes feitas no exterior desse mesmo emaranhado (por M. N.N. Batista). CONSIDERAÇÕES FINAIS A teoria e a pratica propostos nas atividades da disciplina possibilitou a reflexão sobre a nossa prática enquanto professores de arte. A partir da proposta percebemos mudanças na forma dos estudantes perceberem a arte que está a sua volta, e em outros contextos sócios culturais. No início dos registros em seu caderno digital, eles diziam que antes não tinham conhecimentos sobre o Bi e Tridimensional, mas que já havia ouvido a respeito, porém ainda não fazia parte na sua vida. E agora, após os estudos teóricos e a suas experiências nas atividades que foram propostas, eles relataram outro olhar e mudanças no conceito em relação ao desenho, na sua compreensão entre os planos bi e tridimensional. A cada postagem professores e estudantes puderam compartilhar as experiências e as mudanças, que já iam acontecendo em relação à percepção na forma de expressão nas linguagens Bi e tridimensional. Vejamos alguns exemplos nas falas de três estudantes: • Pude tocar experimentar fazer riscos, explorar todos os materiais que a es- tavam a minha disposição para experimento, percebi como cada um reagia em cada aplicação e suportes diferentes. (G.). • Para mim agora por traz de grandes obras tem seu princípio bem elaborado, artes visuais para mim era algo mais simples é agora mais complexo do que eu imaginava. Não é só riscar o que se vem na cabeça, é também elaborar as cores os traços, harmoniza pensar no todo do desenho. (C.). • Meus desenhos (se assim posso chama-los) sempre aconteceram em reu- niões ou sala de aula, enquanto o outro fala, e eu vou desenhando aleatoria- mente, mas agora, tenho que desenvolver um certo grau de consciência quanto aos traços, quanto a ideia de sombra e claridade, e o sentimento que quero passar. (V.). Consideramos como ponto fundamental que o estudante fosse um pesquisador de sua prática, buscando conhecer o trabalho dos colegas e de outros artistas, e os métodos que utilizaram em suas composições. Ao mesmo tempo em que foram desconstruindo pré-conceitos e mitos, foram construindo outros conceitos e adquirido novos repertórios, que podemos comprovar, por meio das atividades desenvolvidas pelos estudantes da proposta dos estudos teóricos e práticos, e com a nossa experimentação junto com os estudantes. Em suas reflexões os estudantes abordaram
- 257. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 23 248 aspectos significativos sobre as experimentações, e na medida em que foram experimentados diferentes materiais, eles foram descobrindo infinitas possibilidades de utilização na linguagem bidimensional, assim como na linguagem tridimensional. A proposta nas atividades foi de instigar a todos os cursistas a construírem repertórios técnicos, perceptivos, conceituais diversificados. Mas especialmente, repertórios de experiências que provocassem um novo “olhar”, sobre o que é o desenho. Como professoras, vimos acontecer: angústias, vontades, estudos e pesquisas, construção de espaços “ateliês” em cozinhas, em pequenas ou grandes áreas onde cada estudante pode vivenciar, a cada um a seu modo, tempos de devaneio, de vigília criativas e viver seu caos criador. Alguns, levaram suas experimentações para escolas, outras somente para os seus cadernos de registro, uns produziram muito, outros, só o que o tempo permitiu, mas, em todas as pessoas, se instaurou um outro tempo, o do processo de criação que permite descobertas de si, do outro e do mundo. REFERÊNCIAS DERDYK, Edith. Disegno. Formas de pensar o desenho. São Paulo – SP, ed. Scipione, 1994. DUPRAT, Marcelo. O Campo Plástico na Pintura de Paisagem - O Campo Plástico- PadrãoLinear. Link de acesso: https://docs.google.com/ presentation/d/1nc_p4QF4grDwro9uaE68RbNB3dkJCkIqS5EjTWldJlw/ pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.gfd5790d90_2_226 GUIMARÃES, Leda e CHAUD, Eliane Maria. E-Book. Ateliê de Artes Visuais: Linguagens Bidimensionais. Percurso 1. FAV/UFG. 2010. HINE, C. Virtual Ethnography. London: Sage, 2000 OSTROWER, Fayga. Universos da arte. Rio de Janeiro: Campus, 1996. 358 p. OSTROWER, Fayga. Criatividade e processos de criação. Petrópolis: Vozes, 2002. TINOCO, Eliane de Fátima Vieira. INSTITUTO ARTE NA ESCOLA. As máquinas de Guto Lacaz / Instituto Arte na Escola. Instituto Arte na Escola, 2006.
- 258. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 24 249 QUALIFICAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DO LIXO DA PRAIA DO MOA CAPÍTULO 24 doi Carlos Henrique Profírio Marques Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre, Cruzeiro do Sul – Acre. RESUMO: A região amazônica possui condições favoráveis para o incremento da produção de pescado, tornando imprescindível a utilização racional dos recursos naturais, para garantir um desenvolvimento sustentável em termos econômicos, sociais e ambientais das gerações presentes e futuras. Os resíduos, são considerados uma das principais formas de poluição ambiental. O presente trabalho tem o objetivo de coletar informações quantitativas e qualitativas do lixo da praia do Moa, localizada no encontro do rio Moa com rio Juruá, no município de Cruzeiro do Sul no Acre. A atividade foi realizada no dia 20 de setembro de 2017 para fazer alusão ao Dia Mundial de Limpeza de Rios e Praias. Com o apoio da Secretária de Meio Ambiente da prefeitura de Cruzeiro do Sul – AC e dos alunos dos cursos Técnico em Aquicultura e Técnico em Recursos Pesqueiros do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre – Campus Cruzeiro do Sul foram coletados; 1 rede de nylon (1 kg), 67 garrafas PET (11 kg), diversas sacolas plásticas (5 kg), 19 pedaços de isopor (30g), 36 peças de ferro (2 kg), 109 latinhas de alumínio (4,1 kg), 118 garrafas de vidro (54 kg), 40 pedaços de papel/papelão (2 kg), 1 unidade de madeira processada (2 kg) e 4 unidades de fraldas descartáveis (1 kg). Percebemos que os principais agentes poluidores são os usuários que utilizam a praia de forma recreativa (banhistas e turistas), tornando necessária uma atuação de educação ambiental através de ações mais pontuais através de um projeto de pesquisa ou extensão. PALAVRAS-CHAVE: Educação Ambiental, Resíduos Sólidos, Sensibilização ABSTRACT: The Amazon region has favorable conditions for increasing fish production, making it essential to use natural resources in a rational way to ensure sustainable economic, social and environmental development for present and future generations. Waste is considered one of the main forms of environmental pollution. The present work has the objective of collecting quantitative and qualitative information of the garbage from Moa beach, located in the encounter of the Moa river with Juruá river, in the municipality of Cruzeiro do Sul in Acre. The activity was held on September 20, 2017 to refer to the World Day of Clean Rivers and Beaches. With the support of the Secretary of the Environment of the municipality of Cruzeiro do Sul - AC and the students of the Aquaculture and Fisheries Technical Technicians courses of the Federal Institute of Education, Science and
- 259. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 24 250 Technology of Acre - Campus Cruzeiro do Sul were collected; 1 nylon net (1 kg), 67 PET bottles (11 kg), several plastic bags (5 kg), 19 pieces of styrofoam (30 g), 36 pieces of iron (2 kg), 109 aluminum cans (4.1 kg), 118 glass bottles (54 kg), 40 pieces of paper / cardboard (2 kg), 1 unit of processed wood (2 kg) and 4 units of disposable diapers (1 kg). We perceive that the main polluting agents are users who use the beach in a recreational way (bathers and tourists), making it necessary to perform environmental education through more punctual actions through a research project or extension. KEYWORDS: Environmental Education, Solid Waste, Awareness 1 | INTRODUÇÃO A região amazônica possui condições extremamente favoráveis para o incremento da produção aquícola e pesqueira, tornando imprescindível a utilização racional dos recursos naturais, para garantir um desenvolvimento sustentável em termos econômicos, sociais e ambientais das gerações presentes e futuras (BRASIL, 2014). São 30 milhões de hectares de lâmina d'água nas várzeas, 960 hectares de lâmina d'água nos reservatórios de usinas hidrelétricas e 130 milhões de hectares de estabelecimentos rurais e mais 1.600 km de costa marítima. Portanto, a produção de pescado é uma grande oportunidade para a Amazônia produzir uma proteína nobre e gerar postos de trabalho, emprego e renda, de forma sustentável, aproveitando o vasto território de águas da região e assim tornar-se uma das maiores regiões produtoras de pescado cultivado no mundo (BRASIL, 2010). No que concerne a Região do Vale do Juruá, especificamente a Cidade de Cruzeiro do Sul, onde está implantado um Campus do IFAC que abriga os cursos de Aquicultura (Técnico Subsequente) e Recursos Pesqueiros (Técnico Subsequente), os cursos desenvolvem práticas na área de produção de pescado, de uma forma geral, porém sabe-se que hoje a produção de pescado deve estar baseada pensando não somente no lado econômico, mas também social e ambiental, tornando imprescindível a utilização racional dos recursos naturais, de modo a garantir um desenvolvimento sustentável em termos sociais e ambientais das gerações presentes e futuras (FAO, 2016). Participando ativamente em todas as fases da vida do ser humano, tanto de composição como em volume, os resíduos, variam em função das práticas de consumo e dos métodos de produção. Existem preocupações em relação as consequências que estes podem trazer a saúde humana e para meio ambiente. A forma incorreta de ocupação do solo, a falta de controle ambiental e a ausência de recursos para realizar intervenções também agravam a situação dos resíduos sólidos (GÜNTHER, 2008). Os resíduos são normalmente depositados em locais desabitados a céu aberto, em rios, em córregos e consequentemente nos mares e nas regiões costeiras (RIBEIRO & MORELLI, 2009). Os resíduos sólidos produzidos pelos seres humanos quando não são destinados ao local adequado, podem gerar graves problemas ambientais, no
- 260. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 24 251 ambiente aquático (ARAÚJO & COSTA, 2006). Atualmente os resíduos são considerados uma das principais formas de poluição ambiental aquático. Já existem iniciativas para a combater essa problemática e assim tentar diminuir impactos causados pelo homem (RIBEIRO & MORELLI, 2009). Cada vez mais evidências científicas relatam sobre as consequências dos impactos dos resíduos da sociedade no ambiente, e reforçam a necessidade da promoção do desenvolvimento sustentável (FIALHO & ZANZINE, 2012). E por isso as discussões atuais estão voltadas para a redução de impactos das atividades poluentes através da destinação adequada dos resíduos sólidos (TRISTÃO & TRISTÃO, 2005). No dia 20 de setembro é do o Dia Mundial de Limpeza de Praias e Rios. Todos os anos em torno de 35 milhões de pessoas de mais de 130 países ao redor do mundo, voluntariamente, recolhem lixo em diversos pontos em rios e praias. Participantes como empresas, grupos comunitários, escolas, governos e pessoas de comunidades locais, fazem uma série de atividades e programas para exercer seus papéis na sociedade, buscando melhorias para o ambiente em que vivem, visando práticas sustentáveis e de sensibilização para com a destinação apropriada dos resíduos sólidos. Essa data é conhecida internacionalmente como Clean Up Day ou Clean Up de World.Acampanha, que ocorre desde 1993, é organizada globalmente pela ONG americana The Ocean Conservancy, e tem por objetivo limpar e conservar o meio ambiente, promover a educação ambiental, mudanças de hábito quanto ao descarte de resíduos, valorização dos rios e oceanos. Esse evento é realizado no terceiro sábado do mês de setembro e pode ser considerado como uma das maiores campanhas para sensibilização de limpeza de praias (Disponível em: http://www.cleanuptheworld.org/es). Diante do exposto, com o apoio da Secretária de Meio Ambiente (SEMEIA) da prefeitura de Cruzeiro do Sul - AC, o presente trabalho tem por objetivo além da sensibilização dos alunos dos cursos Técnico em Aquicultura e Técnico em Recursos Pesqueiros do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre (IFAC) – Campus Cruzeiro do Sul, com o intuito de direcioná-los e qualifica-los, gerando condição para que eles possam exercer sua profissão com vivência prática, profissional e técnica, e também coletar informações quantitativas e qualitativas do lixo da praia do Moa, localizada no encontro do rio Moa com rio Juruá, no município de Cruzeiro do Sul no dia 20 de setembro de 2017. 2 | MATERIAIS E MÉTODOS No dia 20 de setembro de 2017, utilizamos um ônibus para deslocamento IFAC Campus Cruzeiro do Sul até Praia do Moa, no Município de Cruzeiro do Sul; para a realização da limpeza da praia do Moa. Também foram necessários luvas plásticas, sacolas de lixo, Planilhas de coleta, Água mineral e Balança. A ação de coleta teve duração de 2 horas e posteriormente foi feita a separação,
- 261. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 24 252 pesagem das diferentes categorias de resíduos sólidos, descrevendo e caracterizando todos os detalhes na ficha de coleta. Essa estratégia visa mapear, por categoria, “os lixos” que poluem o rio, para que possamos no futuro identificar o poluidor e assim poder sugerir soluções para o problema, como a formulação de leis e políticas públicas voltadas ao descarte e destinação adequados dos resíduos sólidos. Ao final da atividade o caminhão de lixo coletou as sacolas e todos os resíduos ficaram aos cuidados do Departamento de Limpeza Pública da Prefeitura de Cruzeiro do Sul. Durante a atividade de Educação Ambiental, dois temas foram abordados: i) Aquicultura Responsável e Legislação Ambiental, com enfoque sobre a manutenção da qualidade de água e suas implicações legais referentes à descarte de efluentes e resíduos sólidos ii) Educação Ambiental, com enfoque na extensão pesqueira. 3 | RESULTADOS E DISCUSSÕES Através da educação ambiental buscamos construir valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente com o foco na sustentabilidade dos recursos pesqueiros e demais pessoas que utilizam o recurso água na região do Vale do Juruá. No início os alunos não estavam motivados para a ação de coleta de lixo, porém no final do evento todos estavam bastantes animados com a ação e houve uma interação das turmas. Sobre os plásticos, foram coletados 1 rede de nylon (1 kg), 67 garrafas PET (11 kg), diversas sacolas plásticas (5 kg), 19 pedaços de isopor (30g), 36 peças de ferro (2 kg), 109 latinhas de alumínio (4,1 kg), 118 garrafas de vidro (54 kg), 40 pedaços de papel/papelão (2 kg), 1 unidade de madeira processada (2 kg) e 4 unidades de fraldas descartáveis (1 kg). Foram coletados ao todo aproximadamente 83 kg de lixo (Tabela 1). TIPOS DE RESÍDUOS QUANTIDADE PESO Plástico Duro 1 rede de pesca de nylon (tarrafa) 1kg Plástico Duro 67 (Garrafas pet) 11 Plastico Mole (sacolas, embalagens) 5kg Isopor 19 unidades 30g Metal 36 unidades (Alumínio, Ferro) 2kg Metal 109 (latinhas) 4,1kg
- 262. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 24 253 Vidro 118 (garrafa de 600mL) 54kg Papel/papelão 40 unidades 2kg Madeira 1 unidade 2kg Outros Fraldas 4 unidades 1kg TOTAL 82,13 kg Tabela 1 – Resultado da limpeza de Praia do Rio Moa Fonte: presente trabalho De acordo com as informações obtidas através da coleta e quantificação do lixo da praia do Moa, percebemos que os principais agentes poluidores são os próprios usuários que utilizam a praia de forma recreativa (banhistas e turistas). Apresentamos alguns dos resultados da ação no XXVI Seminário de Iniciação Científica da Universidade Federal do Acre/Campus Floresta em outubro de 2017 através de apresentação de banners. A questão do lixo é um dos problemas do município, e essa ação serviu não só para limpar a praia, mas também para conscientizar os envolvidos e a todos os demais usuários da Praia do Moa que foram alcançados durante essa ação, pois ambiente limpo não é o que mais se limpa, e sim o que menos se suja, e só através da educação ambiental iremos sanar esse problema na cidade. Os alunos (Figura 1) assimilaram o conteúdo ministrado e alguns relataram que ação de limpeza da praia esclareceu muitas dúvidas que tinham em sala. Figura 1 – Alunos e professores com o lixo coletado na Praia do Moa. Fonte: Próprio autor
- 263. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 24 254 4 | CONCLUSÕES Com a realização desta aula prática, concluiu-se que é de grande importância, para a formação dos alunos, ações de educação ambiental, pois além de contribuir para a conscientização ambiental e transmissão de conhecimentos, é possível também direcioná-los e qualifica-los, gerando condição para que eles possam ser multiplicadores de conhecimento e atuem de forma ética e sustentável. Com a realização dessa atividade, os participantes refletiram sobre ações de sustentabilidade necessárias para a conservação e manejo do meio ambiente, especialmente relacionadas à destinação adequada dos resíduos sólidos e também houve o interesse para que a ação vire um projeto de extensão ou de pesquisa. REFERÊNCIAS BRASIL. MINISTÉRIO DA PESCA E AQUICULTURA. Amazônia, Aquicultura e Pesca: Plano de Desenvolvimento Sustentável. 2010. 28p. BRASIL. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Projeto Pedagógico: Curso Superior de Tecnologia em Agroecologia. Instituto Federal de Educação, Ciência e tecnologia do acre. 37p. 2014. FAO. El estado mundial de la pesca y la acuicultura 2016. Contribución a la seguridad alimentaria y la nutrición para todos. Roma. 2016. FIALHO, V. G.; ZANZINE, E. S. Educação Ambiental com Ferramenta de Ação na Recuperação de Área Degradada em Bonsucesso. Monografias Ambientais, vol. 7, n. 7, p. 1591-1600, mar-jun, 2012. Disponível em: http://cascavel.ufsm.br/revistas/ojs-2.2.2/index.php/remoa/article/view/4992. Acesso em: 11 janeiro 2019 . GÜNTHER, W. M. R. Resíduos Sólidos no contexto da Saúde ambiental. 2008. 136f. Livre Docência. Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. 2008. TRISTÃO, J. A. M.; TRISTÃO, V. T. V. Responsabilidade social empresarial: o projeto “Do lixo às flores”. Pesquisa em debate, v.5, n.2, 2008. Disponível em: http://pesquisaemdebate.net/docs/ pesquisaEmDebate_9/artigo_2.pdf Acesso em: 11 janeiro 2019. RIBEIRO, D. V.; MORELLI, M. R. Resíduos Sólidos Problema ou Oportunidade? Editora Interciência. 1a. Edição 136 páginas, 2009. ARAÚJO, M.C.B.; COSTA, M.F. (2006) - The significance of solid wastes with land-based sources for a tourist beach: Pernambuco, Brazil. Pan-American Journal of Aquatic Sciences, 1(1):28-34. Disponível em: http://www.panamjas.org/pdf_artigos/PANAMJAS_1(1)_28-34.pdf Acesso em: 11 janeiro 2019 Sites: https://oceanconservancy.org/
- 264. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 25 255 RESIDÊNCIA AGRÁRIA JOVEM: UMA PROPOSTA DE FORMAÇÃO QUE INTEGRA PESQUISA, PRÁTICA E ENSINO CAPÍTULO 25 doi Juliany Serra Miranda Mestranda do Programa de Pós-graduação em Cidades, Territórios e Identidades – PPGCITI. Universidade Federal do Pará – UFPA. Especialista em Educação do Campo (UFMG), juliany_serra@hotmail.com Denival de Lira Gonçalves Mestre em Ciências e Meio Ambiente (UFPA). Especialista em Docência do Ensino Superior (UFRJ). Coordenador Estadual do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária – PRONERA. Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA/SR-01/PA, denivallg@bol.com.br RESUMO: Apresentamos neste trabalho a experiência do curso “Técnico em Agroindústria para Juventude Rural de Assentamentos Rurais, Agricultura Familiar e Comunidades Tradicionais, integrantes de Empreendimentos Econômicos Solidários na Amazônia Paraense” executado pelo Instituto Federal de Educação CiênciaeTecnologiadoParáCampusCastanhal – IFPA/Castanhal. O curso em referência foi formatado com o objetivo de atender a chamada Pública MCTI/MDA- INCRA/CNPq nº 19/2014, que pretendia por meio da parcerias entre instituições de ensino, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária- INCRA, Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico- CNPq e o Conselho Nacional de Juventude – CNJ promover formação técnica para jovens de 15 a 29 anos residentes em áreas rurais do Brasil. Denominado por suas características de Residência Agrária Jovem (RAJ) o projeto político pedagógico do curso dialoga com os princípios e diretrizes da Educação do Campo e com o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA), e com as especificidades elencadas no edital supramencionado. O curso foi desenvolvido a partir da Pedagogia da Alternância, uma metodologia de organização do trabalho pedagógico que conjuga diferentes experiências formativas distribuídas ao longo de tempos e espaços distintos. Destacamos como um dos principais resultados dessa experiência, a oportunidade de integração entre os profissionais do IFPA com empreendedores econômicos solidários paraenses o que possibilitou o incremento das ações dessas cooperativas instrumentalizando-as para inserir seus produtos no mercado de forma mais eficiente. PALAVRAS-CHAVE:PedagogiadaAlternância; Construção do conhecimento; Organização Social; Cooperativismo. INTRODUÇÃO Partindo das inquietações dos povos do
- 265. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 25 256 campo que, no limiar dos anos de 1988, clamam por políticas públicas capazes de garantir a cidadania educativa tão necessária para sua transformação social e pleno desenvolvimento humano, nasce em abril do mesmo ano, o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária – PRONERA, atualmente executado pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA. Enquanto medida que visa promover a justiça social no campo por meio da democratização do acesso à educação, o PRONERA inicia acima de tudo um profícuo debate no que concerne aos direitos dos povos do campo com repercussões em outras esferas públicas (FELIX, 2015). Na perspectiva da experiência bem-sucedida do PRONERA que em seus quase trinta anos de atuação capacitou mais de 164 mil educandos1 , surgem a partir do ano de 2004, as primeiras inciativas no caminho de uma proposta educativa direcionada para a formação profissional, pautada numa matriz ideológica ambientalmente sustentável e plenamente adequada a natureza dos assentamentos agrários, mais especificamente da agricultura familiar. Nas palavras de Guedes (2015), nessa nova experiência de atuação do PRONERA, Configura-se, então, a Residência Agrária, herdando o acúmulo da discussão e prática da educação do campo pelos movimentos discentes e docentes por uma formação mais comprometida com o desenvolvimento dos povos do campo [...] possibilitou um olhar diferenciado aos assentamentos e [...] Além de garantir o desenvolvimento de uma pesquisa multidisciplinar, combinando as ciências agrárias com outras áreas do conhecimento (GUEDES, p. 274/298). O sucesso dos projetos de Residência Agrária, com seu viés participativo, onde as vivências dos atores formaram a estrutura primordial do ensino, baseado numa prática onde a resolução das dificuldades parte do próprio coletivo, possibilitou a ampliação do projeto para os cursos de natureza pós-média, para jovens estudantes. Nasce assim o Residência Agrária Jovem, uma parceria entre o INCRA, a Secretaria Nacional da Juventude – SNJ e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq. Por meio da chamada pública MCTI/MDA- INCRA/CNPq nº 19/2014 foram selecionados trinta (34) projetos para oferta de educação profissionalizantes para jovens de 15 a 29 anos residentes em áreas rurais do Brasil. Os projetos selecionados deveriam contemplar os princípios da Educação do campo e as especificidades da juventude rural, com foco no desenvolvimento das áreas de Reforma Agrária, através da formação técnica e profissional dos jovens, e da produção do conhecimento e de sua utilização para a promoção social das populações envolvidas no processo educativo. Esses horizontes podem ser percebidos nos objetivos traçados para o projeto: a) apoiar projetos de capacitação profissional e extensão tecnológica e inovadora de jovens de 15 a 29 anos, estudantes de nível médio, que visem contribuir significativamente para o desenvolvimento dos assentamentos de Reforma Agrária, da agricultura familiar e comunidades tradicionais, com foco na inovação tecnológica que desenvolva ações de experimentação, validação e disponibilização 1 Dados da II Pesquisa Nacional de Educação nas Áreas de Reforma Agrária (II PNERA) in: INCRA/MDA, 2016, p. 14.
- 266. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 25 257 participativa de tecnologias apropriadas ao desenvolvimento dos assentamentos do Plano Nacional de Reforma Agrária - PNRA, comunidades tradicionais, extrativistas e agricultura familiar; b) apoiar projetos que objetivam contribuir para a formação de jovens de 15 a 29 anos, a produção de conhecimentos, a capacitação técnico- profissional, a produção e disseminação de tecnologias sociais, considerando os princípios e objetivos da Política Nacional de Educação do Campo e do Pronera (7.352/2010), da Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (Lei nº 12.188, de 11 de janeiro de 2010) e do Programa de Fortalecimento da Autonomia Econômica e Social da Juventude Rural da Secretaria Nacional de Juventude da Secretaria Geral da Presidência da República (CNPq/INCRA, 2017). Baseando-se nesses direcionamentos, destaca-se o projeto do curso Técnico em Agroindústria para Juventude Rural de Assentamentos Rurais, Agricultura Familiar e Comunidades Tradicionais, integrantes de Empreendimentos Econômicos Solidários na Amazônia Paraense” proposto pelo Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Pará- IFPA, Campus de Castanhal, que está localizado no município de mesmo nome, na Região Nordeste do Estado do Pará. O objetivo geral do curso executado entre janeiro de 2016 e junho de 2017 foi de promover a formação técnica em agroindústria para 50 jovens oriundos de assentamentos rurais, agricultura familiar e comunidades tradicionais, integrantes de Empreendimentos Econômicos Solidários – EES na Amazônia Paraense, contribuindo para a compreensão crítica da realidade do campo e para sua transformação em direção a um novo paradigma fundamentado no desenvolvimento agrário sustentável. A fim de contemplar o objetivo proposto estabeleceu-se o cumprimento de 10 metas, que incluem tanto a formação profissional dos jovens; quanto à assessoria aos empreendimentos; e realização de estudos e produção de material de apoio à produção agroindustrial dos assentamentos. Ao objetivar a atenção as demandas dos movimentos sociais pelo acesso à educação básica, com direcionamento específico para a educação média numa perspectiva de articulação diversificada, o projeto de Residência Agrária Jovem Agroindústria para Juventude Rural de Assentamentos Rurais, Agricultura Familiar e Comunidades Tradicionais, integrantes de Empreendimentos Econômicos Solidários na Amazônia Paraense, consagra a qualificação adequada aos alunos-cidadãos e os cidadãos-alunos para a cidadania produtiva, o mundo do trabalho e o mercado de trabalho (CARNEIRO, 2015, p. 464). Neste trabalho pretendemos socializar de modo geral, os resultados alcançados com a execução do projeto, demonstrando por meio da análise quantitativa e qualitativa do cumprimento das metas propostas no projeto, as contribuições resultantes da experiência e os problemas e desafios a serem superados em novas experiências de formação profissional para a juventude rural.
- 267. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 25 258 “CURSO TÉCNICO EM AGROINDÚSTRIA PARA JUVENTUDE RURAL DE ASSENTAMENTOS RURAIS, AGRICULTURA FAMILIAR E COMUNIDADES TRADICIONAIS, INTEGRANTES DE EMPREENDIMENTOS ECONÔMICOS SOLIDÁRIOS NA AMAZÔNIA PARAENSE” OCursoTécnicoemAgroindústriaparaJuventudeRuraldeAssentamentosRurais, Agricultura Familiar e Comunidades Tradicionais, integrantes de Empreendimentos Econômicos Solidários na Amazônia Paraense, executado pelo Instituto Federal do Pará – Campus Castanhal em parceria com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico- CNPq e Conselho Nacional da Juventude – CNJ (Chamada Pública MCTI/MDA-INCRA/CNPq nº 19/2014 – Fortalecimento da Juventude Rural) destacou- se dentre as experiências formativas do IFPA/ Campus Castanhal por conciliar a formação técnica profissional com as vivências dos educandos no processo educativo. O Curso de Residência Agrária Jovem em Agroindústria como ficou popularmente conhecido, foi de extrema importância em um contexto de ocupação e desenvolvimento da agricultura familiar no Estado do Pará, que sempre foi prejudicada pela ausência de profissionais capacitados neste setor e, mais do que isso, com conhecimento das potencialidades econômicas e culturais reais da região e de seus espaços de vivência (LIMA, 2014,, p.28). É salutar destacarmos que o curso ocorreu em subsequência ao Ensino Médio, numa perspectiva de cidadania ampliada para aqueles eivados das políticas públicas educacionais para este setor. Assim, permite a superação da dicotomia educação científica e formação técnico-profissional, objetivando a construção de sujeitos capazes de empreender a mudança social através da atuação empreendedora de economia solidária, dotados de saberes e identidades, frutos de uma formação integral do profissional crítico e consciente (SILVA, 2016). Abraçando em sua estrutura metodológica a chamada Pedagogia da Alternância, o curso procurou garantir que os alunos passassem parte do tempo na escola e outro tempo nos empreendimentos de sua comunidade de origem, permitindo o acesso a educação formal no ambiente escolar, sem o abandono do trabalho produtivo. A Pedagogia da Alternância opera uma transformação da concepção de escola e nesta experiência pode-se dizer que aparece como um meio de orientação profissional e de subsídio na determinação de um projeto realista de inserção profissional (GIMONET, 2007, p.119). O Curso de Residência Agrária Jovem em Agroindústria traçou os espaços e os territórios diferenciados de atuação dos estudantes em empreendimentos econômicos solidários das localidades de origem dos educandos (caracterizado como espaço familiar) e a escola onde partilha os diversos saberes que possui, refletidos em bases científicas e os compartilha com os outros atores do processo educativo (caracterizado como espaço de reflexão). Esses espaços formam assim, o contexto onde a Pedagogia da Alternância atua enquanto transformadora numa caminhada de ação-reflexão, prática e teoria.
- 268. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 25 259 Por ter sido um curso que obedeceu a pedagogia da alternância, os alunos tiveram a oportunidade tanto de trazer as questões que os afligiam cotidianamente em seus empreendimentos para serem objeto de estudo em classe, quanto de levar novas técnicas para serem colocadas em prática. Esta troca trouxe benefícios para ambos pois o IFPA pode avaliar na prática os estudos desenvolvidos e os educandos constataram na prática a efetividade dos conhecimentos adquiridos, sentindo-se assim mais motivados ao aprendizado. A demanda por profissionais para planejar, organizar e monitorar o processo de aquisição, análise, preparo e conservação da matéria prima e o processamento dos produtos de origem animal: leite e carnes e de origem vegetal: frutos, hortaliças e de panificação de acordo com a legislação vigente, controlando seu impacto ambiental, bem como atuar na identificação de oportunidades de negócios no meio rural é crescente em função da importância estratégica da agricultura familiar para alimentação da sociedade mundial. Desta forma, há uma crescente demanda por processamento dos produtos agropecuários oriundos da produção empresarial e familiar da região, pois existem inúmeros empreendimentos agroindustriais, que necessitam de profissionais qualificados para atuarem em todas as fases do processo de produção. Atualmente a indústria alimentícia tem se expandido, havendo necessidade de qualificação de trabalhadores, para que possam utilizar adequadamente as normas e técnicas na produção e manipulação de alimentos, o que fortalece a necessidade de profissionalização de mão de obra para o campo. Neste sentido, o Técnico em Agroindústria subsequente ao Ensino Médio, está qualificado para acompanhar e supervisionar todas as fases da industrialização de alimentos, reconhecendo e contextualizando aos saberes e experiências teóricas e práticas das diversas áreas de conhecimento que integram o currículo do curso. Torna-se então, uma referência no Estado do Pará, em termo de formação técnica profissional, havendo reconhecimento efetivo deste, pelos Empreendimentos de Economia Solidária (EES), agricultores familiares e sociedade em geral. Toma dessa forma como ponto de referência numa educação básica efetiva, a formação plena do ser humano em seus mais variados aspectos constitutivos (SANTOS, DIÓGENES, 2013). As dificuldades na execução das ações do projeto em termos das infraestruturas, de bens e serviços nas comunidades foram superadas com apoio no processo de organização e planejamento dos empreendimentos que vêm aplicando concretamente os princípios básicos da economia solidária, em especial, a cooperação, solidariedade e união, que tem contribuído para a melhoria do processo de organização social, produção, comercialização dos produtos dos EES, replicando nas melhorias das condições de vida no meio rural. A constatação do êxito da proposta dá se por meio dos seguintes resultados:
- 269. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 25 260 • Formação de 40 Técnicos em Agroindústria habilitados para produção ali- mentícia, que compreende tecnologias relacionadas ao beneficiamento e industrialização de alimentos e bebidas; abrange ações de planejamento, operação, implantação e gerenciamento, além da aplicação metodológica das normas de segurança e qualidade dos processos físicos, químicos e biológicos presentes nessa elaboração ou industrialização. Inclui atividades de aquisição e otimização de máquinas e implementos, análise sensorial, controle de insumos e produtos, controle fitossanitário, distribuição e comer- cialização relacionadas ao desenvolvimento permanente de soluções tecno- lógicas e produtos de origem vegetal e animal. • Formação de lideranças capazes de se tornarem eficientes diretores dos empreendimentos comunitários na gestão da produção e de negócios; • Melhoria no processo de gestão dos empreendimentos econômicos solidá- rios, com o estabelecimento de um controle mínimo da movimentação admi- nistrativo-financeira das agroindústrias; • Fortalecimento da intercooperação, com a criação de uma rede de coopera- ção entre os empreendimentos econômicos solidários: Rede de Agroecolo- gia e Economia Solidária da Amazônia. • Melhoria na capacidade técnica de comercialização dos empreendimentos agroindustriais para acessar os mercados institucionais: PAA e PNAE. • Construção de metodologias participativas para a formação e assessoria e acompanhamento técnica voltada os empreendimentos agroindustriais, a fim de valorizar e reconhecer a identidade do grupo/comunidade e respeite suas formas de organização. • Inserção dos produtos da agricultura familiar nos mercados nacionais (local e regional) e internacionais. Além de apoiar as atividades de comercializa- ção junto aos mercados institucionais, assim como feiras locais e outras formas de venda indireta ao consumidor; • Reconhecimento do papel preponderante da mulher na manutenção e po- tencialização dos sistemas produtivos agroindustriais existentes nas unida- des familiares, bem como a relevância de suas ações para as práticas de produção e comercialização de produtos. • Organização de espaços coletivos, como feiras locais para a comercializa- ção coletiva da produção dos empreendimentos agroindustriais. • Participação dos jovens rurais em Conselhos Setoriais no município (Se- gurança Alimentar e Nutricional, Assistência Social, Desenvolvimento Rural Sustentável, Economia Solidária, Educação, Saúde), como forma de reivin- dicar ações para suas comunidades e para os empreendimentos solidários. Entretanto apesar do êxito na execução constatou-se que ainda há pontos a serem observados no planejamento e execução de novas turmas, dentre os
- 270. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 25 261 quais merecem destaque: • Assegurar recursos financeiros para as iniciativas (projetos e programas) de agroindustrialização que contemplem a relação campo/cidade, a partir dos princípios da agroecologia e economia solidária. • Garantir espaços e oportunidades de auto-organização dos jovens educan- dos e educandas. • Garantir condições de trabalho aos educadores e às educadoras com a im- plantação de projeto agroindustriais com o apoio de políticas públicas: Terra Sol e Terra Forte. • Garantir a oferta de novos cursos profissionalizantes em agroindustrializa- ção, assim como, também ofertar cursos de graduação em Engenharia de Alimentos para juventude rural em parceria com os movimentos sociais, as- sociações de agricultores familiares e cooperativas agrárias, com o apoio do PRONERA. • Fortalecer a política de Educação do Campo associada a uma política de incentivo à agricultura familiar e ao acesso aos mercados institucionais: Pro- grama de Aquisição de Alimentos (PAA) / Programa Nacional de Alimenta- ção Escolar (PNAE) de forma a facilitar a participação do agricultor familiar na oferta da alimentação escolar. CONSIDERAÇÕES FINAIS Promover ações educativas de caráter formador e transformador em direção ao desenvolvimento agrário sustentável é sem dúvida um desafio singular quando se fala em Educação para as populações do campo. Nessa linha de inciativas que visam a busca do exercício pleno da cidadania por meio da educação formal, o PRONERA através do caráter pioneiro na promoção das experiências de Residência Agrária Jovem, possibilitou a dinamização do processo produtivo das regiões onde os cursos foram desenvolvidos, tendo como protagonistas os próprios sujeitos do campo, o que nesta perspectiva configura-se como garantia de vida digna às famílias que integram e que produzem nos territórios agrários (DIAS,2016). O“CursoTécnicoemAgroindústriaparaJuventudeRuraldeAssentamentosRurais, Agricultura Familiar e Comunidades Tradicionais, integrantes de Empreendimentos Econômicos Solidários na Amazônia Paraense”, através do PRONERA foi uma experiência exitosa, pois conseguiu atingir o objetivo a que se propunha, promover a formação técnica de jovens em agroindustrialização de assentamentos rurais, agricultura familiar e comunidades tradicionais, integrantes de empreendimentos econômicos solidários na Amazônia Paraense, a fim de contribuir para a compreensão crítica da realidade do campo e para sua transformação em direção a um novo paradigma fundamentado no desenvolvimento agrário sustentável.
- 271. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 25 262 No entanto, verifica-se que a baixa implantação de serviços públicos nas comunidades onde estão localizadas as agroindustriais e os EES tornando-se um bloqueio efetivo à potencialização das dinâmicas produtivas locais. Portanto, as ações de ensino, pesquisa e extensão universitária devem ser articuladas com as demais políticas públicas de desenvolvimento. Assim, muito precisa ser feito para que a produção dos EES e dessa microrregião alcance níveis de produtividade capazes de movimentar o desenvolvimento local sustentável, tornado uma alternativa de geração de trabalho e de elevação de renda no meio rural e, consequentemente, contribuído para reduzir os índices de pobreza. REFERÊNCIAS CARNEIRO, Moacir Alves. LDB Fácil: leitura crítico-compreensiva artigo a artigo. 23ª edição. Revista e ampliada. Petrópolis: Vozes, 2015. CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO (CNPq). INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA (INCRA). CHAMADA MCTI/MDA-INCRA/CNPq N° 19/2014 - FORTALECIMENTO DA JUVENTUDE RURAL. Disponível em: < http://juventude.gov.br/articles/participatorio/0005/7866/Chamada_CNPq-MDA- INCRA_n.__19-2014_-_Juventude_Rural.pdf> Acesso em 04.03.2017. DIAS, Fabrício Souza. O Pronera como Política Pública para Emancipação dos Sujeitos do Campo, In: MOREIRA, Érika Macedo; LIMA, Mariana Cruz de Almeida. Cadernos de Educação do Campo/PRONERA – Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária. Editora e Gráfica Caxias, 2016. GUEDES, Camila Guimarães. O Programa Residência Agrária: história e concepção, In: MARTINS, Maria de F. Almeida; RODRIGUES, Sônia da Silva (Orgs.). Pronera: experiências de gestão de uma política pública. São Paulo: Compacta, 2015. INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA (INCRA). MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO (MDA). Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária – PRONERA/Manual de Operações. Brasília – DF, 2016. FÉLIX, Nelson Marques. Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA): História, Estrutura, Funcionamento e Características In: MARTINS, Maria de F. Almeida; RODRIGUES, Sônia da Silva (Orgs.). Pronera: experiências de gestão de uma política pública. São Paulo: Compacta, 2015. GIMONET, Jean-Claude. Praticar e Compreender a Pedagogia da Alternância dos CEFFAs. Tradução de Therry de Burghgrave. Petrópolis – RJ: Vozes, Paris: AIMFR – Associação Internacional dos Movimentos Familiares de Formação Rural, 2007. (Coleção Aidefa – Alternativas Internacionais em Desenvolvimento, Educação, Família e Alternância). LIMA, Suely Cristina Gomes de “Curso Técnico em Agroindústria para Juventude Rural de Assentamentos Rurais, Agricultura Familiar e Comunidades Tradicionais, integrantes de Empreendimentos Econômicos Solidários na Amazônia Paraense” Projeto de Intervenção. Castanhal/PA. IFPA/2014. SANTOS, Jean Mac Cole Tavares, DIÓGENES, Elione M. Nogueira. Políticas Públicas de Educação para o Ensino Médio no final do Século XX: história em contexto. Rev. on line de Política e Gestão Educacional, Araraquara, SP, Brasil, nº. 14, 2013. SILVA, Monica Ribeiro da. Políticas educacionais para o Ensino Médio e sua gestão no Brasil contemporâneo. Revista Dialogia, São Paulo, n. 23, p. 17-29, jan./jun. 2016.
- 272. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Sobre o Organizador 263 Prof. Dr. Willian Douglas Guilherme: Pós-Doutor em Educação, Historiador e Pedagogo. Professor Adjunto da Universidade Federal do Tocantins e líder do Grupo de Pesquisa CNPq “Educação e História da Educação Brasileira: Práticas, Fontes e Historiografia”. E-mail: williandouglas@uft.edu.br SOBRE o Organizador

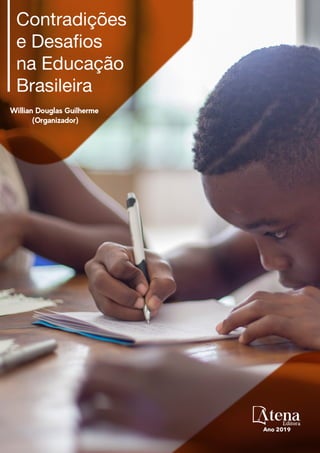
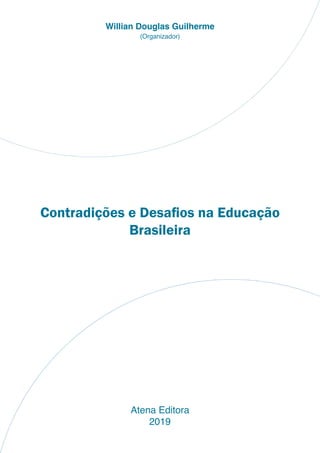
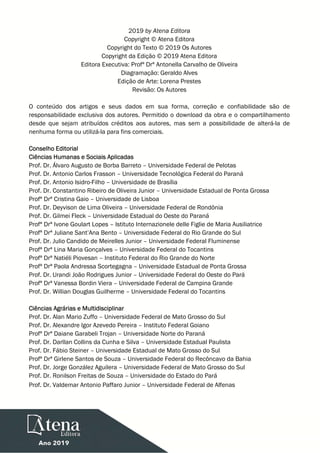
![Ciências Biológicas e da Saúde
Prof. Dr. Gianfábio Pimentel Franco – Universidade Federal de Santa Maria
Prof. Dr. Benedito Rodrigues da Silva Neto – Universidade Federal de Goiás
Prof.ª Dr.ª Elane Schwinden Prudêncio – Universidade Federal de Santa Catarina
Prof. Dr. José Max Barbosa de Oliveira Junior – Universidade Federal do Oeste do Pará
Profª Drª Natiéli Piovesan – Instituto Federal do Rio Grande do Norte
Profª Drª Raissa Rachel Salustriano da Silva Matos – Universidade Federal do Maranhão
Profª Drª Vanessa Lima Gonçalves – Universidade Estadual de Ponta Grossa
Profª Drª Vanessa Bordin Viera – Universidade Federal de Campina Grande
Ciências Exatas e da Terra e Engenharias
Prof. Dr. Adélio Alcino Sampaio Castro Machado – Universidade do Porto
Prof. Dr. Eloi Rufato Junior – Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Prof. Dr. Fabrício Menezes Ramos – Instituto Federal do Pará
Profª Drª Natiéli Piovesan – Instituto Federal do Rio Grande do Norte
Prof. Dr. Takeshy Tachizawa – Faculdade de Campo Limpo Paulista
Conselho Técnico Científico
Prof. Msc. Abrãao Carvalho Nogueira – Universidade Federal do Espírito Santo
Prof.ª Drª Andreza Lopes – Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Acadêmico
Prof. Msc. Carlos Antônio dos Santos – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
Prof.ª Msc. Jaqueline Oliveira Rezende – Universidade Federal de Uberlândia
Prof. Msc. Leonardo Tullio – Universidade Estadual de Ponta Grossa
Prof. Dr. Welleson Feitosa Gazel – Universidade Paulista
Prof. Msc. André Flávio Gonçalves Silva – Universidade Federal do Maranhão
Prof.ª Msc. Renata Luciane Polsaque Young Blood – UniSecal
Prof. Msc. Daniel da Silva Miranda – Universidade Federal do Pará
Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(eDOC BRASIL, Belo Horizonte/MG)
C764 Contradições e desafios na educação brasileira [recurso eletrônico] /
Organizador Willian Douglas Guilherme. – Ponta Grossa, PR:
Atena Editora, 2019. – (Contradições e Desafios na Educação
Brasileira; v. 1)
Formato: PDF
Requisitos de sistema: Adobe Acrobat Reader
Modo de acesso: World Wide Web
Inclui bibliografia
ISBN 978-85-7247-373-6
DOI 10.22533/at.ed.736190106
1. Educação e Estado – Brasil. 2. Educação – Aspectos sociais.
3. Educação – Inclusão social. I. Guilherme, Willian Douglas. II. Série.
CDD 370.710981
Elaborado por Maurício Amormino Júnior | CRB6/2422
Atena Editora
Ponta Grossa – Paraná - Brasil
www.atenaeditora.com.br
contato@atenaeditora.com.br](https://image.slidesharecdn.com/e-book-contradicoes-e-desafios-da-educacao-brasileira-191106204413/85/Contradicoes-e-Desafios-na-Educacao-Brasileira-4-320.jpg)


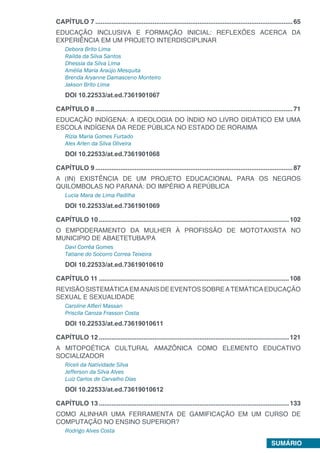






![Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 1 5
trabalham com os PCN´s e menos ainda com o tema ética. Entendo ser relevante
ampliar o número de escolas da cidade de Abaetetuba que trabalhem com o tema
da Ética, pelos PCN’s, tal iniciativa ajudaria na diminuição das situações de violência
nas escolas que vêm crescendo. O trabalho com os PCN’s também ajudaria na
discussão sobre demais temas sociais, abrindo pautas de metodologias novas para
projetos nas escolas que estabeleça uma ligação como as disciplinas formais de forma
interdisciplinar, para trabalhar a ética e os valores no Ensino Fundamental, como
o princípio de valores éticos e morais trabalhando nos currículos, como atividades
inseridas no cotidiano do aluno.
REFERÊNCIAS
BAUMAN, Zymunt, 1925 – Identidade: entrevista a Benetto Vecchi /Zygmunt Bauman, tradução,
Carlos Albert Medeiros. _ Rio de Janeiro: Zahar, 2005.
LOBATO, Vivian da Silva. Violência e indisciplina no contexto escolar: percepções de professores. A
Pesquisa no Baixo Tocantins: Resultados de Pesquisa/ Lina Gláucia Dantas Elias... [et al], (Orgs.).
São Paulo: Editora Livraria da Física, 2015.
LOBATO, Vivian da Silva; SOUSA, Irleide Marques de; SANTOS, Juliana Gonçalves dos. Percepções
de professores sobre violência: um estudo em uma escola ribeirinha. A Pesquisa no Baixo
Tocantins: Resultados de Pesquisa/ Lina Gláucia Dantas Elias... [et al], (Orgs.). São Paulo: Editora
Livraria da Física, 2015.
RIOS, Terezinha A. Ética e competência. 6 Ed São Paulo Cortez 1997.
SARMENTO, Hélder B. M. Violência e ética no cotidiano das escolas. / Hélder Boska de Moraes
Sarmento (Org.); Carlos Jorge Paixão; Cely do Socorro Costa Nunes. – Belém: Unama, 2009.
ABRAMOVAY, Miriam, Coord. Conversando sobre violência e convivência nas escolas. / Miriam
Abramovay. Rio de Janeiro: FLACSO - Brasil, OEI, MEC, 2012. 83 p. Disponivel em:http://cdnbi.
tvescola.org.br/resources/VMSResources/contents/document/publicatio ns/1449252746513.pdf.
Acesso em: 20/10/2016
ABRAMOVAY, Miriam; CUNHA, Anna Lúcia; CALAF, Priscila Pinto. Revelando tramas, descobrindo
segredos: violência e convivência nas escolas. Brasília: Rede de Informação Tecnológica
Latino-americana - RITLA, Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF, 2009.
496 p. Bibliografia:p.469-495:http://www.abglt.org.br/docs/Revelando_Tramas.pdf. Acesso
em:15/10/2016
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: apresentação
dos temas transversais, ética / Secretaria de Educação Fundamental. – Brasília: MEC/SEF, 1997.
146p. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro082.pdf. Acesso em: 16/07/2016
GOMES, Tatiana. A ética como tema transversal nos parâmetros curriculares nacionais: a
questão da autonomia. Piracicaba, SP 2010. Disponívelhttps://www.unimep.br/phpg/bibdig/pdfs/
docs/11032011_160910_dissertaca otatiana.pdf. Acesso em: 18/07/2016
GONÇALVES, Helenice Maia. Os professores e o tema transversal ética. Revista de Educação
PUC-Campinas, Campinas, n. 22, p. 57-66, junho 2007. Disponívelem:http://periodicos.puccampinas.](https://image.slidesharecdn.com/e-book-contradicoes-e-desafios-da-educacao-brasileira-191106204413/85/Contradicoes-e-Desafios-na-Educacao-Brasileira-14-320.jpg)





![Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 2 11
fundamental para que o indivíduo possa se apropriar do mundo simbólico e assim
ampliar sua capacidade cognitiva.
Diante dos pressupostos teóricos expostos, reafirma-se a importância da afetividade
não só na relação professor-aluno, mas também como estratégia pedagógica. O
professor afetivo com seus alunos (aqui com o sentido de atencioso), estabelece
uma relação de segurança, evita bloqueios afetivos e cognitivos, favorece o trabalho
e ajuda o educando a superar erros e a aprender com eles. Assim, se o professor
for afetivo com seus alunos, a criança aprenderá a sê-lo. (LEPSCH, 2015, p.26)
A relação entre o professor e o aluno em sala de aula, por meio da afetividade,
vai além de uma relação pedagógica. O professor desperta no aluno o interesse que
transpassa as dimensões cognitivas e afetivas por meio de seu envolvimento com
cada um deles (REIS et al., 2012, p.348). Portanto o professor, segundo o mesmo
autor, deve estabelecer diálogos com os alunos com a finalidade de formar vínculos
de confiança mútua, e por meio da afetividade, poder atingir a motivação do aluno que
aprende.
Segundo Piaget, não existem estruturas cognitivas a priori, existem estruturas
biológicas. Ele acredita que os conhecimentos não são provenientes apenas do
sujeito ou apenas do objeto, mas de sua interação construtiva, assumindo uma
posição intermediária entre o racionalismo e o empirismo. Para ele o conhecimento
é um processo dinâmico e evolutivo em que o sujeito constrói ativamente os seus
conhecimentos (LEGENDRE, 2013).
O fator chave para o desenvolvimento de acordo com Piaget é o processo de
equilibração que se baseia na alternância contínua da assimilação e da acomodação,
interações e construções que geram modificações graduais das estruturas de ação do
pensamento, o que permite aumentar sua capacidade de trocas com o meio. O sujeito
passa por múltiplas etapas de equilíbrio e desequilíbrio (LEGENDRE, 2013).
Para Piaget (1989), o pensamento cognitivo passa por diferentes estágios
evolutivos que consideram os limites de idade e diversos fatores como motivação,
influências culturais e maturação.
Os estágios iniciais correspondem às emoções, sensações boas ou ruins, prazer
ou dor. Na etapa seguinte a criança através da linguagem passa a se socializar,
incorporando valores e ações. Em seguida acontece o início da vida escolar, onde
iniciam-se processos de reflexão, lógica, compreensão, em que o sujeito passa
a ter mais autonomia. Em continuidade, o sujeito é marcado por desequilíbrios
momentâneos, que dão um “colorido afetivo” causado pela maturação do instinto
sexual. Neste momento da adolescência, a afetividade constitui nas palavras de Piaget
“[...] uma mola de ações, das quais resulta uma nova etapa [...]” (PIAGET, 1989, p.61).
Na teoria piagetiana, a afetividade é considerada um fator que pode alterar o
desenvolvimento cognitivo acelerando ou retardando-o. Nesse sentido, a cognição
e a afetividade ocorrem juntas, são indissociáveis e complementares, sustentam e](https://image.slidesharecdn.com/e-book-contradicoes-e-desafios-da-educacao-brasileira-191106204413/85/Contradicoes-e-Desafios-na-Educacao-Brasileira-20-320.jpg)























![Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 4 35
technique of discourse analysis. Seven effective teachers from the municipal network
participated. Teachers’ discourses reveal that they rarely work in the classroom, which
has difficulties to act in the moment of racism among the students.Also, they show not to
dominate the understanding of color / race, of the same indicate recurrent experiences
of racial discrimination in the classroom. In relation to the valuation of the black child,
they do not work. Regarding Law No. 10,639,2003 they know the existence, but they
do not know exactly what it is about, they do not know the content of the legislation
regarding History Teaching, Afro-Brazilian and African Culture, they did not know
about ethnic-racial issues. It is concluded that teachers lack continuous education and
training in the field of ethnic-racial relations, theoretical conception of curriculum in
Early Childhood Education, appropriation of the use of languages and experiences in
the everyday classroom, especially in the field of ethnic- racial relations.
KEYWORDS: Teachers. Ethnic-racial. Racism.
1 | INTRODUÇÃO
A Lei Federal Nº 10.639/03, ampliada pela Lei Nº 11.645/08, modifica
historicamenteaeducaçãonoBrasil,aoalteraraLDBNº9.394/96,exigindoainclusãono
currículo temas relacionados ao ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana.
Para Santos et al. (2014, p. 107) a lei é considerada um “avanço do Século XXI” por
representar “uma nova história de afirmação de direitos em prol da valorização da
cultura afro-brasileira e africana nos currículos oficiais da Educação básica no Brasil”.
No Brasil, a promulgação a Lei 10.639/03, fruto dos movimentos sociais, em
especial do “movimento negro”, visando diminuir as desigualdades relacionadas ao
“racismo, preconceito e discriminação racial acumulados historicamente” (SANTOS,
et al., 2014, p. 110), reproduzido pelo currículo tradicional. Nesse contexto, de luta do
Movimento Negro, a Lei Nº 10.639/03, estabelece a obrigatoriedade de os currículos
das escolas o ensino afro-brasileiro e africano, considerado um avanço no campo
da política curricular, todavia, ainda carece de efetivação nas práticas pedagógicas
de professores, com o intuito de concretizar ações de valorização de identidades de
crianças afrodescendentes nas escolas.
Consideramos, portanto, que a prática pedagógica de professores no trato das
relações étnico-raciais na rede municipal de Bragança requer formação continuada
e aperfeiçoamento, principalmente na compreensão das muitas infâncias e da
diversidade infantil com vista as singularidades e “especificidades desse grupo
geracional” (SOUZA, 2009, p. 32). Ainfância para Souza (idem) é “fruto de construções
culturais e históricas imbricadas por conceitos” que “[...] contribui significativamente
para revelar crianças como sujeitos sociais, que constroem saberes, competências e
comportamentos partilhados com seus pares”. Por isso, a autora defende uma ação
pedagógica pela valorização da identidade de crianças negras na Educação Infantil
com vista ao combate da discriminação social presente na comunidade escolar.](https://image.slidesharecdn.com/e-book-contradicoes-e-desafios-da-educacao-brasileira-191106204413/85/Contradicoes-e-Desafios-na-Educacao-Brasileira-44-320.jpg)

![Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 4 37
e comando explicativo acerca do objetivo deste estudo. A entrevista semiestruturada
permite uma flexibilidade e uma dinâmica de relação pessoal entre pesquisador e
pesquisado, que facilita um maior esclarecimento de pontos que se apresentam
com menor clareza para o sujeito entrevistado (MOROZ; GIANAFALDONI, 2006).
A pesquisa de campo empírico foi realizada em três escolas da rede municipal de
Bragança, que atende a Educação Infantil e Ensino Fundamental Anos Iniciais.
O Município de Bragança, na gestão atual por meio da Secretária de Educação
adota o currículo com base na teoria de Paulo Freire, a partir de temas de geradores,
anteriormente, a gestão passada trabalhou com a proposta curricular dos complexos
temáticos com base em Pistrak (Escola do Trabalho). As mudanças na proposta
curricular têm promovido aos professores ações formativas a respeito do currículo e
de questões relacionadas as infâncias e étnico raciais.
As três escolas pesquisadas atendem em média 220 alunos matriculados no
turno da manhã e tarde. As escolas possuem em média 85 servidores que atuam
na educação. O acesso à escola para a realização da pesquisa de campo empírico
foi facilitado pela gestão escolar, que nos apresentou aos sete professores, que se
dispusera em colaborar com o estudo.
Nomêsdemaioejunhode2017realizou-seacoletadosdados,comaparticipação
de 07 professores, da Educação Infantil. O critério para escolha dos professores seguiu
algumas orientações, apresentarem tez da pele negra; cabelo afro, ainda que tenham
recorridos aos produtos químicos para alisarem, trabalharem no nível da Educação
Infantil.
Aentrevista com os professores aconteceu no espaço da biblioteca.As entrevistas
duraram em média 1h e 20min. Alguns professores tiveram dúvidas em compreender
as questões levantadas, assim como, procurou-se reformular as perguntas para não
induzir os mesmo as respostas prontas.
O roteiro da entrevista composto por questões visando traçar o perfil sócio cultural
de professores e pontos direcionados para as relações étnico-raciais e práticas de
racismos vivenciadas pelos docentes na sala de aula de Educação Infantil. A entrevista
foi gravada com uso dos recursos tecnológicos (celular), anotações no diário de bordo,
devidamente transcrita.
De posse do material coletado, realizou-se a organização e tabulação das
informações, seguindo orientações da técnica da análise do discurso, que facilitou a
leitura do corpus de análise.
A técnica da análise do discurso, segundo Chizzotti (2010, p. 120) “recobre um
amplo espectro de teorias e práticas [...] uma diversidade de orientações de pesquisa
e disciplinas”. Ainda, assim a base desta pesquisa é a análise do discurso crítica, pois
o discurso para Chizzotii (2010, p. 120) não tem sentido único, mas na perspectiva da
“linguagem comum pode significar o diálogo entre falantes”, portanto, a concepção
de análise de discurso nesta pesquisa tem o sentido de conjunto de ideias expressos
em texto. Assim, “o discurso é a expressão de um sujeito no mundo que explicita sua](https://image.slidesharecdn.com/e-book-contradicoes-e-desafios-da-educacao-brasileira-191106204413/85/Contradicoes-e-Desafios-na-Educacao-Brasileira-46-320.jpg)





![Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 4 43
[et al.] (Organizadores). - São Paulo: Editora Livraria da Física, 2014. - (Coleção Formação de
Professores & relações étnico-raciais).
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil [recurso eletrônico].
-- Brasília: Supremo Tribunal Federal, Secretaria de Documentação, 2017. Disponível em: https://goo.
gl/p7qj7Q. Acessado dia 29 de julho de 2017.
_____. Lei Nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente
e dá outras providências. Disponível http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm Acessado
no 21/08.
_____. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 14, de 12 de setembro de 1996. Modifica os arts. 34,
208, 211 e 212 da Constituição Federal e dá nova redação ao art. 60 do Ato das Disposições
constitucionais Transitórias. Disponível http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/
emc14.htm Acessado 21/08.
_____. Lei nº 10.639, de janeiro de 2003, altera a lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que
estabelece as diretrizes e base da educação nacional, para incluir no currículo oficial da Rede
de Ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira”. https://goo.gl/MaJT9Z.
Acessado no dia 25/05.
_____. Lei nº 11.645, de 10 de março de 2008. Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
modificada pela Lei no 10.639, de 9 de janeiro de 2003, estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática “História e
Cultura Afro-Brasileira e Indígena”. https://goo.gl/vLB5LR. Acessado no dia 25/05.
CHIZZOTTI, Antônio. Pesquisa qualitativa em ciências humanas e sociais / Antônio Chizzoti. 3 .
ed. – Petrópolis, RJ: Vozes. 2010.
GOMES, N, L.; Silva, P. B. G. O desafio da diversidade. In. Gomes, N. L.; Silva, P.B.G..Experiências
étinco-cultural para a formação de professores. 2. Ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2006. P. 223-277.
HALL, Stuart. A identidade Cultural na Pós-Modernidade. 10 ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2005.
MOROZ, Melania. O processo de pesquisa: iniciação/Melania Moroz e Mônica Helena Tieppo Alves
Gianfaldoni. – Brasília: Líber Livro Editora, 2ª edição, 2006.
MOURA, Dayse. Identidade racial na educação infantil: o que pensam as professoras acerca
da educação das relações raciais e da construção de uma autoimagem positiva da criança negra?.
Disponível em https://goo.gl/xL4woj. Acesso em: 23/07.
SANT’ANA, Antonio Olímpio. Superando o Racismo na escola. 2º edição revisada / Kabengele
Munanga, organizador. - [Brasília]: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Continuada,
alfabetização e Diversidade, 2005.
SANTOS, Raquel Amorim dos. A Lei nº 10.639/2003: Pesquisas e Debates / Wilma de Nazaré Baía
Coelho...[et al.] (Organizadores). - São Paulo: Editora Livraria da Física, 2014. - (Coleção Formação
de Professores & relações étnico-raciais).
SILVA. Maria José Lopes da. Superando o Racismo na escola. 2º edição revisada / Kabengele
Munanga, organizador. - [Brasília]: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Continuada,
alfabetização e Diversidade, 2005.
SOUZA, Ana Paula Vieira e. As Culturas infantis no espaço e tempo do recreio: constituindo
singularidade sobre a criança; Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Federal do Pará,
Instituto de Ciências da Educação, Programa de Pós-Graduação em Educação, Belém, 2009.](https://image.slidesharecdn.com/e-book-contradicoes-e-desafios-da-educacao-brasileira-191106204413/85/Contradicoes-e-Desafios-na-Educacao-Brasileira-52-320.jpg)




![Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 5 48
inicialmente construídos com vista ao desenvolvimento pleno de crianças.
A falta em compreender as questões étnico-raciais no currículo escolar, da não
sensibilidade em promover discussões sobre o preconceito e o racismo com as crianças
em Educação Infantil reflete diretamente na prática pedagógica de professores, que
muitas vezes são realizadas nas escolas por meio de projetos pontuais em Educação
Infantil.
Professora A: Há quatro anos, foi trabalhado esse tema aqui na escola, um projeto
com essa temática, porém não recordo o nome do projeto, por que ocorreu há
muito tempo. O projeto se desenvolveu a partir de situações vivenciadas dentro de
sala, e aí! A escola toda se mobilizou na ação.
Professora B: [...] por meio de um projeto a criança pode estar construindo o
autoconceito sobre as relações étnico-raciais.
Observa-se que os projetos são as atividades mais recorrentes na prática
pedagógica de professores da Amazônia bragantina, pontualmente são tratados nos
currículos da escola, descontextualizados do saber cultural de crianças, essas ações
mormente não promovem grandes mudanças nas discussões sobre as questões
étnico-raciais, pois faz-se necessário que esse conhecimento faça parte do Projeto
Político Pedagógico da escola, com ações e metas ao longo do ano.
Os discursos de Professores da Amazônia bragantina revelam raro domínio no
campo teórico-metodológico das relações étnico-raciais, o que contribui de forma
significativa para invisibilizar ações de combate ao racismo entre as crianças em sala
de aula. Eles revelam lacunas na sua formação inicial, indicando a necessidade de
formação continuada para esses professores atuantes em Educação Infantil, visando
contribuir com sua prática pedagógica ampliando e valorizando a criança negra.
A Formação Continuada no dizer de Chagas (2016) para as relações étnico-
raciais deve ser permanente, que possa contribuir com a prática do professor em
relação às transformações sociais e culturais no campo escolar, sejam elas promovidas
pelo órgão maior Secretaria Municipal de Educação (SEMED-BRAGANÇA) ou pelas
próprias escolas pesquisadas, como indica a fala das professoras.
Professora A: A escola geralmente não oferece formação, mais a prefeitura oferece
esses discursões por meio do planejamento anual.
Professora B: [...] foi um planejamento de apenas dois dias, oferecido pela SEMED-
Bragança, no ano de 2015. Foi muita informação importante sobre as relações
étnicas raciais em um curto período, entretanto a formação não foi direcionada
para a Educação Infantil, não ensinando a como se trabalhar essas questões em
sala de aula, se deu de forma geral abrangendo todos os níveis.
Tendo em vista o contexto de diversidade cultural existente dentro das salas
de aulas, é imprescindível que o docente esteja em constantes formações, para que
possa realizar suas práticas de acordo com a realidade vivenciada no ambiente escolar,](https://image.slidesharecdn.com/e-book-contradicoes-e-desafios-da-educacao-brasileira-191106204413/85/Contradicoes-e-Desafios-na-Educacao-Brasileira-57-320.jpg)
![Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 5 49
e que vise principalmente o respeito e a valorização das diferenças contidas dentro
de sala, assim contribuindo para que desconstrua a visão etnocêntrica que permeia
o ambiente escolar, remetendo-nos a entender que “a aprendizagem não se realiza
de forma estática, mas que acontece como um processo dinâmico que compreende
a reelaboração do saber aprendido em contraste com as experiências do cotidiano”
(GONÇALVES; SOLIGO, 2016 p.10).
Percebe-se ainda a ausência desses debates na Formação Inicial, pois não
tiveram contato com a temática das relações étnico-raciais, tendo efeitos negativos em
desconhecer a Lei nº 10.639/2003, o que a invisibiliza e não a articula com o contexto
cultural das crianças. No dizer das Professoras elas não conhecem a Lei.
Professora A: [...] não tenho conhecimento sobre a lei.
Professor B: A lei poderia até contribuir se ela fosse efetivada, se todas as escolas
trabalhassem, se todos se colocassem pra trabalhar. Não só a escola, mas a SEMED,
órgão maior pudesse estar sensibilizando para que todas as escolas falassem
sobre a temática, de forma bem direcionada. Seria uma excelente colaboração
para que essa lei pudesse estar em vigor e funcionar.
Esta realidade reafirma a necessidade de formações constantes conforme diz
Chagas (2016), para que o conhecimento sobre as relações étnico-raciais e a Lei Nº
10.639/03 sejam refletidas na prática docente, isso significa dizer que os discursos
de Professores evidenciam que a responsabilidade é do Sistema Escolar, que tem a
obrigatoriedade em promover formação sobre o racismo. Contudo, a gestão escolar
tem função de intervir no meio social em que está localizada, nesse sentido a escola
da Amazônia bragantina não tem se posicionado de maneira satisfatória, como espaço
social de transformação da sociedade.
3 | CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante dos aspectos observáveis por meio dos enunciados discursivos de
Professores da rede Municipal de Ensino Infantil de Bragança foi possível perceber que
elas não desenvolvem com frequência discussões acerca das questões étnico-raciais
e raramente existe a preocupação do Sistema Educacional da Amazônia bragantina a
respeito da formação docente para as relações étnico-raciais. Essas lacunas na prática
docente interferem negativamente na construção identitários de crianças. Percebeu-se
ainda, que os professores desconhecem a Lei 10.639/03 e isso reflete em sua pratica
pedagógica e no desenvolvimento social e cultural de crianças. A aplicabilidade desta
Lei no currículo escolar é fundamental para o combate do racismo em educação, pois
consolida e expande as políticas de ações afirmativas em todo o território nacional,
assim como, garante o direito de igualdade, de oportunidades, visando descontruir o](https://image.slidesharecdn.com/e-book-contradicoes-e-desafios-da-educacao-brasileira-191106204413/85/Contradicoes-e-Desafios-na-Educacao-Brasileira-58-320.jpg)










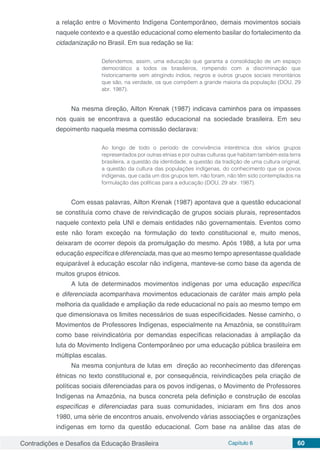


![Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 6 63
Disponível em: http://portal.trf1.jus.br/sjpa/comunicacao-social/imprensa/noticias/justica-federal-
declara-inexistente-terra-indigena-no-municipio-de-santarem.htm. Acesso: 10 ago. 2016.
ONU. Organização das Nações Unidas: Declaração de Princípios. Genebra, julho de 1985.
Disponível em: https://www.senado.gov.br/publicacoes/anais/constituinte/8a%20-%20SUB.%20
EDUCA%C3%87%C3%83O,%20CULTURA%20E%20ESP.pd.pdf; Acesso em: 14 nov. 2017.
PROPOSTA da União das Nações Indígenas encaminhada à Comissão da Família, Educação,
Cultura, Esporte, Comunicação, Ciência e Tecnologia. Cf. LOPES, Danielle Bastos. O Movimento
Indígena na Assembleia Nacional Constituinte (1984-1988). Dissertação (Mestrado em História
Social) – Faculdade de Formação de Professores de São Gonçalo: Universidade do Estado do Rio de
Janeiro, são Gonçalo, [s.n.] 2011, p. 153-154. Disponível em: http://www.docvirt.com/docreader.net/
docreader.aspx?bib=Acerv BibI&PagFis=1; Acesso em: 14 nov. 2017.
UNIÃO, Diário Oficial. Ata da 16ª Reunião da Subcomissão da Educação, Cultura e Esportes,
realizada em 29 de abril de 1987. In. Atas das Comissões da Assembleia Nacional Constituinte.
Anais da Constituinte. Senado Federal – Brasília/DF, 2017. Disponível em: https://www.senado.gov.
br/publicacoes/ anais/constituinte/8a%20-%20SUB.%20EDUCAÇÃO,%20CULTURA%20E%20ESP.
pd.pdf; Acesso em: 14 nov. 2017.
BRASIL. Educação Escolar Indígena: diversidade sociocultural indígena ressignificando a
escola. Cadernos SECAD. Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (Secad/
MEC). Brasília/DF, 2007.
FERNANDES, Fernando Roque. Cidadanização e Etnogêneses no Brasil: apontamentos a uma
reflexão sobre as emergências políticas e sociais dos povos indígenas na segunda metade do
século XX. Revista Estudos Históricos, v. 31, n. 63, p. 71-88, 2018. Disponível em: http://www.scielo.
br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-21862018000100071&lang=pt; Acesso em: 17 maio 2018.
FERNANDES, Rosani de Fátima. Educação Escolar Kyikatêjê: novos caminhos para aprender e
ensinar. Dissertação de Mestrado defendida no Instituto de Ciências Jurídicas através do Programa
de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Pará – UFPA; Belém [s.n.], 2010.
Disponível em: http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/6449; Acesso em: 13 dez. 2017.
LEITE, Yonne; SOARES, Marília Faco e SOUZA, Tânia Clemente de. O papel do alunado na
alfabetização de grupos indígenas: a realidade psicológica das descrições linguísticas. In:
OLIVEIRA FILHO, João Pacheco de (org.). Sociedades Indígenas e Indigenismo no Brasil. Ed. Marco
Zero; RJ, 1987.
LOPES, Danielle Bastos. O Movimento Indígena na Assembleia Nacional Constituinte (1984-
1988). Dissertação (Mestrado em História Social) – Faculdade de Formação de Professores de São
Gonçalo: Universidade do Estado do Rio de Janeiro, são Gonçalo, [s.n.] 2011. Disponível em: http://
www.docvirt.com/docreader.net/docreader.aspx?bib=AcervBibI&PagFis=1; Acesso em: 14 nov. 2017.
LUCIANO, Gersem José dos Santos. O índio brasileiro: o que você precisa saber sobre os povos
indígenas no Brasil de hoje. 1ª edição. Ed. Brasília: MEC/SECAD Museu Nacional/UFRJ, 2006.
Disponível em: http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001545/154565por.pdf; Acesso em: 13 dez.
2017.
RODRIGUES, Gilberto César Lopes. Surara Borari, Surara Arapium: a educação escolar
no processo de reafirmação étnica dos Borari e Arapium da Terra Indígena Maró. Tese de
Doutorado apresentada ao Programa de Pós-Graduação da Universidade Estadual de Campinas, SP
[S.N.], 2016. Disponível em: http://repositorio.unicamp.br/handle/REPOSIP/305041; Acesso em: 13
dez. 2017.](https://image.slidesharecdn.com/e-book-contradicoes-e-desafios-da-educacao-brasileira-191106204413/85/Contradicoes-e-Desafios-na-Educacao-Brasileira-72-320.jpg)
























![Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 9 88
século XX. Período este em que os discursos liberais republicanos propagaram a ideia
de ‘liberdade’ e ‘igualdade’ e propuseram que a educação fosse oferecida pelo Estado
e estivesse ao alcance de todos.
A ESCRAVIDÃO NEGRA NO BRASIL E NO PARANÁ
No início do período republicano, os discursos ideológicos enfatizavam a criação
das escolas públicas, em forma de Grupos Escolares, que atenderiam a todas as
crianças do Brasil. No período histórico delimitado para esta pesquisa, pouco se tem
escrito sobre a educação para as crianças negras paranaenses e de que forma essa
educação oferecida pelo Estado ocorreu. Deste modo, esta pesquisa se justificou
pela necessidade de se analisarem os cenários de luta e enfrentamentos dos negros
quilombolas no Paraná, assim como sua interação no interior da sociedade escravista
que passava por uma mudança conjuntural, procurando discutir os ideais Republicanos
de educação no País.
O tráfico de escravos para o Brasil, exercido por três séculos e meio (do
século XVI até meados do XIX), trouxe mais de três milhões de africanos, que foram
distribuídos por várias regiões do País. A escravidão negra foi praticada e legitimada
por meio de um discurso que, primeiramente, apoiado na religião que ideologicamente
propagava a ideia de que Deus determinava, naturalmente, qual seria a condição de
vida das pessoas na sociedade. De acordo com esse discurso, pela sua cor, os negros
eram vistos como pecadores, sendo a escravidão a única condição para alcançarem
a salvação divina.
Posteriormente, pautada na Revolução Francesa (1879), a outra justificativa para
a escravidão negra se deu com base no Positivismo de Comte. Para ele os negros,
por não serem europeus, eram primitivos e bárbaros, pertencentes a uma civilização
considerada atrasada perante a Europa, e, deste modo, deveriam ter a “oportunidade”
de, por meio da escravidão, tornarem-se humanos ao entrarem em contato com
outras civilizações. Essa justificativa teve como objetivo encobrir e mascarar as reais
intenções dos europeus ao arrancarem os negros de sua terra natal para escravizá-los
em terras distantes.
Aexploração do trabalho do negro escravo no Brasil se deu em todas as instâncias
econômicas do País, ou seja, na agricultura, na mineração, nos serviços domésticos
e também nos centros urbanos. A escravatura influenciou, “[...] decisivamente o modo
pelo qual se organizavam as diversas esferas da sociedade. Desde o começo da
época colonial até fins do período monárquico, marcou não só a economia, mas
também a política e a cultura” (IANNI, 1988, p. 11). A presença do negro foi notada
nas plantações, nas roças, “[...] nas cidades e nos campos, os escravos constituíam
a principal força de trabalho. Vendedores, ambulantes, artesãos, carregadores,
empregados domésticos, carreiros, percorriam as ruas da cidade na sua incessante
labuta” (COSTA, 2008, p.23).](https://image.slidesharecdn.com/e-book-contradicoes-e-desafios-da-educacao-brasileira-191106204413/85/Contradicoes-e-Desafios-na-Educacao-Brasileira-97-320.jpg)
![Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 9 89
O Brasil foi o último País do mundo a abolir a escravidão, mesmo com a criação das
leis internacionais de 1831 e 1850 que proibiram o tráfico de escravos, o País continuou
recebendo milhares de africanos. O comércio e o tráfico negreiro representavam
a lucratividade e o acúmulo de enormes fortunas, e, em uma sociedade de classe,
onde somente algumas “[...] poucas famílias de poderosos controlavam a política e
a administração, era difícil fazê-las respeitar a lei, sobretudo quando esta feria seus
interesses. Igualmente difícil era encontrar quem ousasse desafiá-los” (COSTA, 2008,
p. 27). Desta forma, o tráfico de negros escravos para o Brasil continuou por mais de
cinquenta anos após a criação da Lei de 1831.
O negro escravo era considerado como sendo uma “coisa”, desumanizado não
tendo direito a nada, nem a sua própria existência lhe pertencia. Como propriedade
de seu senhor, sofreu muitas humilhações e castigos. Eram frequentes os açoites, os
estupros, as mutilações e os espancamentos que, por muitas vezes, levavam a morte.
No Paraná, província de São Paulo até o ano de 1853, a estrutura econômica
concentrou-se, basicamente, na mineração (século XVII); na pecuária (século XVIII), e
na extração da erva – mate (século XIX), ciclos esses que sucediam e coexistiam ao
longo dos períodos históricos. Apesar de o número de negros escravizados na região
paranaense não ser tão expressivo comparando-se com as regiões de São Paulo, Minas
Gerais e Rio de Janeiro eles estiveram presentes nos diversos trabalhos realizados
no interior das fazendas e posteriormente nos centros urbanos, onde exerciam as
“[...] ocupações menos qualificadas socialmente. Em atividades agropecuárias, no
artesanato urbano, nos serviços domésticos, nos transportes locais e entre as vilas”.
(IANNI, 1988, p.111).
A presença da população negra escravizada no Paraná pode ser verificada por
meio de vestígios presentes nas antigas fazendas que formaram a região. Dados
levantados em 1884 apontaram um número de 6.721 escravos distribuídos nos
municípios do Paraná.
Município Número de escravos
Antonina 733
Lapa 661
Curitiba 527
Palmeira 505
Castro 402
Guarapuava 371
São José dos Pinhais 359
Campo Largo 309
Palmas 301
Jaguariaíva 296
Paranaguá 284
São José da Boa Vista 279](https://image.slidesharecdn.com/e-book-contradicoes-e-desafios-da-educacao-brasileira-191106204413/85/Contradicoes-e-Desafios-na-Educacao-Brasileira-98-320.jpg)

![Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 9 91
dominante de promover ideologicamente o branqueamento da região por meio da
negação e invisibilização da população negra paranaense.
MICRORREGIÃO DE CERRO AZUL
Comunidade Remanescente: Quilombola João Surá;
Quilombola Praia Do Peixe; Quilombola Porto Velho;
Quilombola Sete Barras ; Quilombola Córrego das
Moças; Quilombola São João; Quilombola Corrego
do Franco; Quilombola Estreitinho; Quilombola Três
Canais; Comunidade Negra Tradicional do Bairro dos
Roque; Comunidade Negra Tradicional de Tatupeva.
MICRORREGIÃO DE CURITIBA
Comunidade Remanescente Quilombola de Areia
Branca; Quilombola Palmital dos Pretos; Comunidade
Negra Tradicional Sete Saltos.
MICRORREGIÃO DA LAPA
Comunidade Remanescente Quilombola da Restinga;
Quilombola do Feixo; Quilombola da Vila Esperança.
MICRORREGIÃO DE PARANAGUÁ
Comunidade Remanescente: Quilombola Rio Verde ;
Quilombola de Batuva .
MICRORREGIÃO DE PONTA GROSSA
Comunidade Remanescente: Quilombola Da Serra
do Apon; Quilombola de Mamãs ; Quilombola do
Limitão ; Quilombola do Tronco ; Quilombola do Sutil ;
Quilombola de Santa Cruz.
MICRORREGIÃO DE GUARAPUAVA
Comunidade Remanescente: Quilombola Despraiado;
Quilombola Vila Tomé ; Quilombola Cavernoso 1;
Quilombola Invernada Paiol de Telha; Quilombola
AdelaideMariadaTrindadeBatista;QuilombolaCastorina
Maria da Conceição - (Fortunato); Comunidade Negra
Tradicional Tobias Ferreira – (Lagoão); Quilombola
Campina dos Morenos.
MICRORREGIÃO DE PRUDENTÓPOLIS
Comunidade Remanescente: Quilombola São Roque;
Quilombola Rio do Meio.
MICRORREGIÃO DE TOLEDO
Comunidade Remanescente: Quilombola Manoel
Ciriaco dos Santos ; Quilombola Apepú.
MICRORREGIÃO DE IBAITÍ
Comunidade Remanescente: Quilombola Água Morna ;
Quilombola Guajuvira.
QUADRO 2 Comunidades Remanescentes Quilombolas/ Comunidades Negras
TradicionaisFonte: Instituto de Terras, Cartografia e Geociências Terra e cidadania, CURITIBA,
2008.
No período pós-abolição criou-se o Mito da Democracia Racial com o objetivo
de mostrar que no Brasil não existia preconceito contra os negros e que todos eram
cidadãos brasileiros. Entretanto, ser emancipado politicamente não representou para
os negros a emancipação humana, pois, no pós-abolição os negros ex-escravos e seus
descendentes foram impedidos do acesso aos bens e serviços, os direitos concedidos,
teoricamente por meio da Constituição Brasileira de 1891, não se concretizaram na
prática. Nesse contexto,
[...] o negro cidadão é apenas o negro que não é mais juridicamente escravo. Ele
foi posto na condição de trabalhador livre, mas nem é aceito plenamente do lado
de outros trabalhadores livres, brancos. [...] É o escravo que ganhou a liberdade
de não ter segurança; nem econômica, nem social, nem psíquica. É uma pessoa
cujo estado alienado vai manifestar-se agora plenamente, pois é na liberdade](https://image.slidesharecdn.com/e-book-contradicoes-e-desafios-da-educacao-brasileira-191106204413/85/Contradicoes-e-Desafios-na-Educacao-Brasileira-100-320.jpg)
![Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 9 92
que ele compreenderá que foi e é espoliado. Ele se tornou o cidadão que deverá
compreender que já não estará mais integrado, ainda que hierarquicamente na
posição mais inferior, mas integrado. Livre, ele estará só escoteiro dos meios de
subsistência, dos instrumentos de produção. E tomará consciência de que não tem
meios de consegui-los, salvo pela venda da sua força de trabalho, operação essa
para a qual não foi preparado (IANNI, 1972, p.49, 50).
Em 1871, após a promulgação da Lei do Ventre Livre, discutiu-se pela primeira
vez a questão da educação para os negros, pois, se acreditava que eles poderiam
ser utilizados como mão de obra no novo sistema de trabalho, livre e assalariado.
Nos Congressos Agrícolas, realizados no Rio de Janeiro e em Pernambuco, em 1878,
também se cogitou a possibilidade de se criarem escolas técnicas para preparar os
negros para o trabalho livre e assalariado, no entanto,
[...] a crença de que a liberdade gradativa dos escravos deveria ser acompanhada
da presença da escola para transformar os ingênuos e os homens livres, parasitas
da grande propriedade e da natureza pródiga, em trabalhadores submetidos às
regras do capital [...] não se efetivou e, surpreendentemente, essas discussões
desapareceram (SCHELBAUER, 1998, p. 52).
A educação voltada para a formação do negro deixou de ser colocada como
necessária, pela classe dominante que estava preocupada com a abolição da
escravatura, quando ocorreu a substituição do trabalho escravo pelo trabalhador livre
e assalariado, e à medida “[...] que os imigrantes se integravam às fazendas de café
garantindo a continuidade da produção, os apelos à criação de colônias agrícolas,
fazendas-escolas e colônias orfanológicas deixaram de ecoar” (SAVIANI, 2008, p.
164).
Com a abolição da escravatura e a transição do Império para a República, os
discursos ideológicos sobre a educação foram utilizados para justificar e fortalecer o
novo regime no País. Nestes discursos afirmava-se que a educação seria oferecida a
todas as crianças, pois, por meio dela se daria a solução para os problemas existentes
e o caminho para o progresso do Brasil. Na ideologia burguesa liberal a ascensão
econômica e social era uma recompensa pelo mérito pessoal, ou seja, a ideia que
se propagava era a de que por meio da educação, do trabalho e da dedicação todos
teriam acesso à propriedade privada.
Os discursos liberais republicanos propagaram ideologicamente que a educação
oferecida pelo Estado seria ofertada a “todos”, inclusive aos negros, proibidos, até
então, de frequentarem as escolas. Mas qual foi o real interesse nesse ideal, uma
vez que, na sociedade de classes, o Estado, representa a organização política da
classe dominante e serve como instrumento de dominação? Desta forma, considera-
se fundamental a compreensão do projeto republicano para a educação no Brasil e
de que forma os negros tiveram acesso, ou não, à instrução publica oferecida pelo
Estado.
Nesse contexto, final do século XIX e início do século XX, foram criados os](https://image.slidesharecdn.com/e-book-contradicoes-e-desafios-da-educacao-brasileira-191106204413/85/Contradicoes-e-Desafios-na-Educacao-Brasileira-101-320.jpg)

![Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 9 94
as relações, econômicas, políticas e sociais, presentes no contexto analisado, pois,
as transformações que ocorrem em uma determinada sociedade são frutos das
contradições existentes no interior destas relações. Desta forma, o método para análise
dessa pesquisa terá como pressuposto teórico o Materialismo Histórico e Dialético,
pois, é na produção dos bens materiais da existência da sociedade que,
[...] os homens estabelecem relações determinadas, necessárias, independentes
da sua vontade, relações de produção que correspondem a um determinado grau
de desenvolvimento das forças materiais. O conjunto destas relações de produção
constitui a estrutura econômica da sociedade, a base concreta sobre a qual se
eleva uma superestrutura jurídica e política e à qual correspondem determinadas
formas de consciência social (MARX, 1977, p.23).
Deste modo, a análise para se compreender o objeto em estudo, deve partir das
condições materiais de existência dos homens. Analisar a forma como se deu a (in)
existência de um projeto educacional para os negros no Paraná no final do século XIX
e início do século XX pressupõe uma pesquisa dialética, que contemple as condições
econômicas, políticas e sociais presentes na sociedade brasileira da época.
Para tanto foram escolhidas como categorias de análise e investigação –
Contradição; Luta de Classes e Totalidade - com as quais se procurou aproximar
do objeto em estudo. A análise destas categorias, no âmbito das transformações
da sociedade brasileira no final do século XIX e início do século XX, tratando
especificamente dos ideais republicanos e processo educacional das crianças negras
no Paraná, considerou que:
[...] o conhecimento histórico-educacional configura um movimento que parte
do todo caótico (síncrese) e atinge, por meio da abstração (análise), o todo
concreto (síntese). Assim, o conhecimento que cabe à historiografia educacional
produzir consiste em reconstruir, através das ferramentas conceituais (categorias)
apropriadas, as relações reais que caracterizam a educação como um fenômeno
concreto (SAVIANI, 2008, p. 3).
Percorre-se um caminho em busca da essência da realidade, que não se dá
imediatamente, mas de forma nebulosa e confusa, procurando desvelar o real
apresentado na forma de fenômeno. A partir do conhecimento da totalidade é possível
então retornar ao objeto de estudo compreendendo as conexões e a contextualização
dos fatos reais. Trata-se então de reconstruir a trajetória do fenômeno à essência
(SAVIANI, 2004).
Os procedimentos metodológicos que foram adotados na pesquisa consistiram
em:
• Revisão bibliográfica: Esta etapa consistiu na realização de um levantamen-
to bibliográfico sobre a temática da pesquisa;
• Pesquisa documental: levantamento e catalogação de documentos sobre
negros e sobre Quilombos/Comunidades Remanescentes Quilombolas, dis-](https://image.slidesharecdn.com/e-book-contradicoes-e-desafios-da-educacao-brasileira-191106204413/85/Contradicoes-e-Desafios-na-Educacao-Brasileira-103-320.jpg)
![Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 9 95
poníveis no Arquivo Público e Biblioteca Pública do Paraná em Curitiba; Bi-
blioteca Pública, Museu do Tropeiro; Casa da Memória; Secretaria da Edu-
cação e Prefeitura de Castro; Casa da Memória; Biblioteca Pública e Museu
Campos Gerais em Ponta Grossa;
• Análise da documentação levantada e catalogada, dentre elas, os relatórios
dos inspetores de ensino do Paraná - 1922/1923/1924;
• Recursos gráficos: foram utilizados os seguintes: “[...] “itálico” para as fontes
primárias. “Sem itálico” para as fontes secundárias” (NASCIMENTO, 2008,
p. 22). As citações de fontes primárias mantiveram a redação original, sem
qualquer atualização ortográfica.
O levantamento e a catalogação das fontes primárias e secundárias sobre os
negros, bem como os dados levantados sobre as Comunidades Remanescentes
Quilombolas do Paraná, não podem ser considerados como suficientes para a
compreensão do objeto de estudo apresentado, ou seja, as fontes não puderam falar
por si só, mas, fizeram parte da análise da totalidade da realidade.
Narevisãobibliográfica,realizadanafaseinicialdapesquisa,fez-senecessárioum
levantamento acerca das produções científicas existentes sobre os negros no Paraná.
O levantamento dos trabalhos, na perspectiva da História da Educação, teve como
critério de análise os seguintes questionamentos: Existem estudos sobre a educação
dos negros e sobre os Quilombos do Paraná na área da História da Educação?
O procedimento metodológico utilizado para a realização do estudo consistiu
no levantamento de pesquisas de mestrado e doutorado, das instituições de Pós
Graduação no País, disponíveis no banco de dados da CAPES até o mês de outubro
de 2015, com as seguintes palavras chave: Negros no Paraná; Quilombos e Educação;
Escravos no Paraná e Quilombos no Paraná.
A partir do levantamento se verificou que as pesquisas acerca da escravidão
negra no Brasil não são recentes, entretanto, no Paraná os estudos sobre a educação
dos negros é um tema que ainda é pouco estudado. As pesquisas realizadas estão
ligadas à Sociologia, à História, à Geografia, à Antropologia e à Educação. Pareceu
pertinente citar aqui os trabalhos encontrados no levantamento realizado.
Autor Titulo Local/Área Ano
Andressa
Lewandowski
“Agentes e agências: o processo de
construção do Paraná negro”
(Dissertação).
Universidade Federal
do Paraná/Antropologia
Social
2009
Maicon Silva
Steuernagel
“Entre margens e morros: a geografia
narrativa dos filhos da Pedra Branca”
(Dissertação).
Universidade Federal
do Paraná/Antropologia
Social
2010
Jose Antonio Marcal Política de ação afirmativa na
universidade federal do Paraná e a
formação de intelectuais negros (as)
(Dissertação)
Universidade Federal do
Paraná/ Educação
2011](https://image.slidesharecdn.com/e-book-contradicoes-e-desafios-da-educacao-brasileira-191106204413/85/Contradicoes-e-Desafios-na-Educacao-Brasileira-104-320.jpg)

![Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 9 97
fundamental importância para o pesquisador, pois, delimita “[...] o objeto da pesquisa
e realizar a sua problematização de forma que situe e defina o estudo proposto. A
elaboração do estado do conhecimento é, também, uma pesquisa para outra e que
pode ser trabalhado de diversas formas” (NASCIMENTO, 2006, p 130).
Assim, a presente pesquisa foi organizada em quatro capítulos: No primeiro
capítulo buscou-se contextualizar o período histórico no qual os negros foram
escravizados no Brasil. Abordou-se também a existência da escravidão no Paraná
e a utilização da força de trabalho do negro escravo na mineração, na agricultura de
subsistência, na pecuária, nos trabalhos domésticos, nos ofícios rurais e urbanos da
região, bem como, a compreensão da formação dos Quilombos paranaenses como
movimento de resistência à escravidão.
No segundo capítulo procurou-se identificar os movimentos abolicionistas no
Paraná em defesa da abolição gradual da escravatura.Abordaram-se também as ideias
liberais sobre a propriedade privada e o trabalho livre e assalariado. Os princípios do
liberalismo, liberdade, igualdade e fraternidade, que se apresentaram juntamente com
o capitalismo, quando o Brasil passou a incorporar as ideias de liberdade de comércio e
derepresentaçãopolíticaparaaclassedominante.Aentradadetrabalhadoreseuropeus
no Paraná, incentivada pelos abolicionistas, que, ideologicamente, enfatizaram a
superioridade do imigrante branco, considerado “dotado” de uma inteligência e força
espiritual elevada, perante o negro.
No terceiro capítulo buscou-se compreender como se deu a integração dos
negros à sociedade paranaense pós-abolição da escravatura. Foram abordados os
discursos ideológicos da classe dominante que, por meio do Mito da Democracia
Racial, procurou transmitir a ideia de que no Brasil não existia o racismo e que todos
os cidadãos brasileiros eram “iguais”, portanto, “todos tinham direitos iguais”. Assim,
como se procurou evidenciar o movimento da classe dominante no qual se propagou
a inexistência e, consequentemente, a invisibilidade do negro quilombola no Paraná
republicano.
No quarto capítulo tratou-se da análise sobre a educação pública e estatal
republicana e a (in) existência de um projeto educacional para os negros no Paraná
no final do século XIX e início do século XX, a partir da documentação oficial. Com a
criação dos Grupos Escolares e a modernização do Paraná a educação foi colocada
como a responsável pela ascensão social da população. O acesso a esses Grupos
Escolares deveria ser garantido a “todas as crianças”, entretanto, era restrito de negros
nestes espaços, e, os poucos que neles tiveram acesso sofreram com a discriminação
presente na sociedade.
ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
A trajetória percorrida para a construção dessa pesquisa se deu em busca de
compreender e identificar a existência, ou não, de um projeto educacional para os](https://image.slidesharecdn.com/e-book-contradicoes-e-desafios-da-educacao-brasileira-191106204413/85/Contradicoes-e-Desafios-na-Educacao-Brasileira-106-320.jpg)



















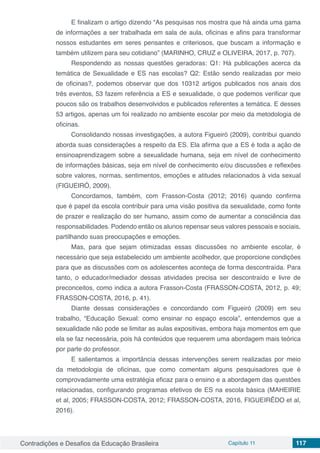
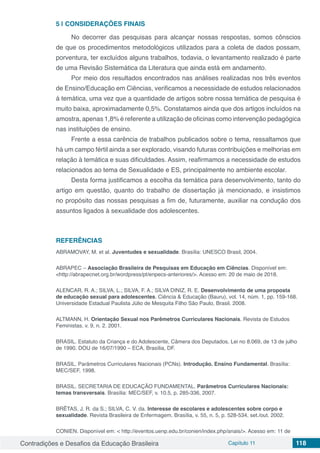




![Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 12 123
2 | ENREDANDO TEORIA E VIDA
Esse projeto apresenta uma posição ética estética sobre uma educação
socializadora com a tradição oral inclinada à mitopoética amazônica, e se endereça
a ir construindo reflexões pedagógicas e teórico metodológicas junto as emergências
e vivências das narrativas míticas e ou cotidianas sobre encantarias, visagens e
assombrações contadas por crianças da educação infantil e fundamental das escolas
da Cidade de Colares, Estado do Pará/Brasil – Vilas de Jenipauba, Mocajatuba e
Juçarateua. Devido às dificuldades financeiras da universidade e o acesso às
referidas localidades, não foi mais possível realizar tais atividades nas mesmas.
Nesse sentido, procurou-se outro ambiente para realizar as atividades do referido
projeto nas localidades mais próxima onde se situa o campus, proposto a partir de
um questionamento num evento realizado na universidade. Após várias reuniões foi
decidido que a localidade mais próxima para se realizar o projeto seria a agrovila de
São Raimundo, distante à 3 km do município de Castanhal/PA.
Ainda hoje, muitas comunidades “interioranas” ainda mantêm bem viva a
sua cultura ancestral e isso está muito presente no cotidiano de seus habitantes,
principalmente em alguns momentos de seus afazeres, como na pescaria, na casa
de farinha, nas atividades agrícolas, nas conversas de vizinhos à porta de casa. São
momentos mágicos em que a mitopoética amazônica reaparece nas narrativas orais
com muita força. O mito é vivido como verdade pelo povo dessas comunidades. Assim,
todos na região têm uma estória para contar, sempre afirmando que viram ou ouviram
personagens encantados.
Loureiro (2001) nos serve de bússola, pois escutamos de suas palavras não um
conceito definitivo para a expressão “mitopoética”, mas posicionalidades polissêmicas
da experiência estética com a narrativa mítica que se entrelaça com a história da
ocupação da Amazônia e sua população tradicional e o imaginário construído a partir
desse “hibridismo cultural”. Escreve assim Loureiro (p. 93-94), na seção c. A vocação
mitológica do imaginário:
[...] Verdadeiramente, a experiência estética representa uma forma sui generes
de experiência humana. Uma experiência íntima, ampla e profunda, rica de
sensibilidade e emoção, que testemunha uma vivência singular e que revela uma
capacidade intensa de criação de formas. Uma experiência por dentro, acima
e superadora do cotidiano, que é marcada por vaga e contemplativa atitude de
prazer em face da realidade. Na Amazônia seus mitos, suas invenções no âmbito
da visualidade, sua produção artística são verdades de crença coletiva, são objetos
estéticos legitimados socialmente, cujos significados reforçam a poetização da
cultura da qual são originados. A própria cultura amazônica os legitima e os institui
enquanto fantasias aceitas como verdades. Assim, nesse mundo, os homens,
por meio da cultura, passam a usufruir a confiança de estar em seu mundo,
expressando uma linguagem poética que vem diretamente da alma, que faz a
alma se extravasar como uma fonte incessante, que permite a essa alma nativa se
descobrir em um mundo que é seu e no qual funda a compreensão da vida e da
natureza nas quais ela está inserida.](https://image.slidesharecdn.com/e-book-contradicoes-e-desafios-da-educacao-brasileira-191106204413/85/Contradicoes-e-Desafios-na-Educacao-Brasileira-132-320.jpg)
![Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 12 124
Com base nos estudos feitos após o trabalho de conclusão do curso de pedagogia
em duas escolas rurais com crianças de três a dez anos, podemos afirmar que os
narradores infantis possuem uma eloquência bem definida, acreditam no mítico e
fazem dos personagens das histórias aliados na defesa ou no medo que eles possam
transmitir.
“Teve um dia a Matinta Pereira nova estava subiando fiti-fiti-fiti, perto da casa tia
Geni e a outra subiando perto da casa da vovó, eram duas irmãs novas e elas ficam
com o cabelo na cara para ninguém conhecer e falar quem é só dizer: - vem tomar
café de manhã! Que ela aparece” (Emily Vitória, 5 anos, Educação Infantil).
Ao ouvirmos a criança sentimos na sua narração uma verdade: nessa experiência
de vida da criança-narrador, observamos processos de socialização e interação
cultural entre as gerações e com o lugar, em seu desenvolvimento sociolinguístico,
um desenvolvimento intelectual que passa pelo pensamento mágico e anímico,
explicações indutivas míticas que sinalizam saberes históricos, uma trajetória para as
explicações científicas que em suas palavras duvida do fato ocorrido sem desqualificá-
lo enquanto uma verdade absoluta, mas noutra possibilidade de explicação natural.
Alves (2007) nos diz:
As crianças amazônidas, em particular, vivem em um meio social carregado de
significações, ideologias, histórias e em uma cultura muito singular, cercada de
narradores que transmite toda a poética da Amazônia, ouvindo histórias desde
o nascimento tem um repertório narrativo carregado de elementos típicos do
imaginário do amazônida (p. 140).
AAmazônia ainda preserva em suas comunidades rurais e ribeirinhas o costume
de contar/ouvir e participar como protagonistas das histórias.
Na Amazônia, um “berço” das encantarias brasileiras, não é e nem será
diferente, mesmo que o futuro se empenhe para mudar essa realidade. Apesar de
suas complexidades como escreve Loureiro (2001) “[...] A Amazônia não é, contudo,
uma região fácil de definir [...]”.
Nestesentido,oprojetodeextensãovisacontribuirparaaeducaçãoporintermédio
da cultura, numa relação dialógica com a comunidade, através de mecanismos
de valorização da cultura rural amazônica, objetivando o conhecimento mútuo e a
descoberta de elementos de comunhão, desenvolvendo nas crianças o respeito pela
região, tendo em perspectiva a melhoria da aprendizagem com a participação social
da universidade pública.
Dentro do campo educacional, a pedagogia a princípio, o reconhece em plena
atividade no brinquedo imaginativo, no faz de conta. Na psicologia, o imaginário
estaria imbrincado ao sintoma quando estudamos o campo da psicopatologia. Qual
seria nosso campo de interesse nesse imaginário num primeiro momento? Por conta
do projeto de extensão várias “janelas” foram abertas e começamos a tentar articular
os campos que poderiam ser pensados como trabalhos acadêmicos, um deles diz](https://image.slidesharecdn.com/e-book-contradicoes-e-desafios-da-educacao-brasileira-191106204413/85/Contradicoes-e-Desafios-na-Educacao-Brasileira-133-320.jpg)
![Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 12 125
respeito a relação entre memória coletiva, imaginário infantil e patrimônio imaterial.
Quanto ao imaginário infantil, Bachelard (2009) nos pontua a potencialidade
deste nas suas mais variadas expressões. Mas, observando sujeitos adultos contando
experiências com as narrativas de encantarias, visagens e assombrações, observamos
que esse imaginário parece vir à tona com uma força do presente que chegamos a
perguntar: O infantil na criança é ponto de partida para pensarmos a memória coletiva
nas gerações ancestrais? Seriam os mais velhos o ponto de apoio para entendermos a
lembrança, o esquecimento e a ressignificação da memória? Essa pergunta nos remete
a um campo que trata exclusivamente de um “infantil” como parte do imaginário. Então
precisamos considerar a criança, a infância e o infantil em nossas análises – como
nos inspira a psicanálise? Seriam dois contextos históricos, culturais e geracionais a
serem considerados a princípio? Essas perguntas estão pulsando cotidianamente em
nossos estudos, observações e escutas.
3 | A MITOPOÉTICA COMO EXPRESSÃO DO IMAGINÁRIO INFANTIL
Reconhece-se nas narrativas míticas, campo de elaboração e subjetivação das
identidades e “diferenças” culturais; essa incursão observada por nós, educadores,
demarca uma preocupação com a criança enquanto sujeito de resistências culturais,
nestas e outras imagens culturais reconhecemos nossa cidadania amazônida.
É através da expressividade da oralidade que as crianças constroem imagens de
sua cultura – afetos, valores, paixões etc. As narrativas ouvidas pelas crianças são
feitos heroicos de pessoas reais que ficaram expostas a situações do encantamento
ou assombração. Estes feitos as colocam em situações especiais frente à comunidade.
Essas narrativas nos remetem ao que diz Bachelard (2009) sobre a percepção
dos educadores ao lidar com as histórias e com as imagens infantis que as produções
de nossa cultura são capazes de mostrar: [...] as sínteses me encantam, me fazem
pensar e sonhar ao mesmo tempo. São totalidades de pensamento e de imagens.
Abrem o pensamento pela imagem, estabilizam a imagem pelo pensamento (p. 81).
Atentar para a criatividade e o resgate produzido pela memória, em sala de aula
se apresenta bastante rico, é tarefa do educador, ciente de sua responsabilidade,
utilizá-las como elemento educativo e a interação entre a Comunidade e Escola,
possibilitando uma maior proximidade entre as crianças e a sua Cultura.
[...] Muito mais do que metodologias e métodos, o acontecimento poético – que
pode emergir entre a criança e o adulto, criança e criança, entre corpo e mundo
– exige de docentes e educadores a coragem de reinvenção que passa pela
experiência de imaginar-se e fazer-se (FRANCKOWIAK & RICHTER, 2005).
Esses sujeitos, heróis ou sobreviventes, passam a ser os entes culturais humanos
vivos; suas histórias se inscrevem nas memórias coletivas como “resistência cultural”,](https://image.slidesharecdn.com/e-book-contradicoes-e-desafios-da-educacao-brasileira-191106204413/85/Contradicoes-e-Desafios-na-Educacao-Brasileira-134-320.jpg)


![Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 12 128
dúvida, podem favorecer as condições para a preservação do patrimônio cultural, mas
ele só é efetivamente preservado por meio de vivências e experiências objetivas e
subjetivas das pessoas.
Assim, a nova legislação de preservação do patrimônio cultural só será eficaz na
medida em que seja amplamente conhecida pelos diferentes segmentos da sociedade
e que as comunidades locais e a sociedade abrangente tenham condições de estar
mobilizadas para a prática permanente, para a transmissão e aprendizado e troca
de saberes, a pesquisa, documentação, apoio e reconhecimento da riqueza cultural
brasileira, de maneira crítica e participativa.
Um dos principais desafios da política de salvaguarda do patrimônio cultural
imaterial é, sem dúvida, sua articulação com as políticas públicas nas áreas da
educação, do trabalho, da ciência e tecnologia, do meio ambiente, e outras,
estratégia fundamental para a melhoria e fortalecimento das condições sociais,
ambientais e econômicas que permitem a transmissão e a continuidade dos bens
culturais imateriais. Não menos importante é também sua ampliação por meio do
envolvimento e da integração com as esferas estadual e municipal, assim como a
sensibilização da sociedade para o desempenho do seu papel fundamental nessa
tarefa[...] (MinC/IPHAN, p. 41, 2010).
O que torna os espaços educativos, entre eles, a escola e as comunidades como
lócus privilegiados de valorização da diversidade cultural, daí a importância de projetos
culturais e educacionais para a motivação permanente às culturas e as identidades
tradicionais das comunidades, divulgando-as e utilizando-as como parâmetros
socioeducativos para o processo de construção de sujeitos históricos desse saber, que
sejam conhecidas e reconhecidas na própria comunidade e na sociedade abrangente.
Alguns currículos buscam em outras posturas éticas-estéticas, práticas educativas
que reconheçam não somente as transformações sociais, mas a tradição e as suas
traduções contemporâneas. Algumas práticas pedagógicas, como Lopes (2001)
observa e se assemelham a sintomas históricos na formação de professores e fazem
eco nas suas ações educacionais, muitas vezes são interpretadas como compensação
e reparação de uma ilusão pedagógica; a incessante busca da superação das falhas
históricas possivelmente imprimidas pelo excesso de um discurso racional técnico.
Não é o caso aqui neste artigo, não se trata de uma intervenção pedagógica,
mas das inter-versões de sujeitos situados em questão, por conta de uma escuta
estética de pesquisa de um “possível” cotidiano comunitário educacional e escolar
cultural socializador que utilize a mitopoética amazônica como pulsora de resistências
culturais afirmativas de diferenças e identidades.
5 | SOBRE O IMAGINÁRIO E A MITOPOÉTICA AMAZÔNICA
Elegemos duas composições conceituais teóricas como bússola para pensarmos
a articulação ao projeto e pesquisa a priori. Não iniciaremos uma reflexão que tente](https://image.slidesharecdn.com/e-book-contradicoes-e-desafios-da-educacao-brasileira-191106204413/85/Contradicoes-e-Desafios-na-Educacao-Brasileira-137-320.jpg)


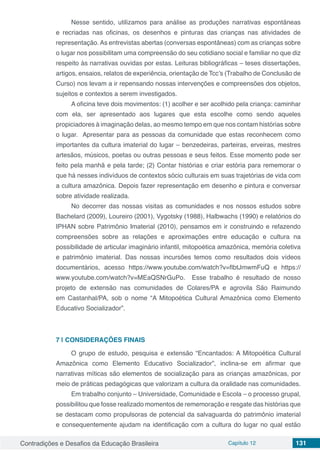

![Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 13 133
COMO ALINHAR UMA FERRAMENTA DE GAMIFICAÇÃO EM
UM CURSO DE COMPUTAÇÃO NO ENSINO SUPERIOR?
CAPÍTULO 13
doi
Rodrigo Alves Costa
Universidade Estadual da Paraíba (UEPB)
Patos - PB
André Luiz Henriques Bernardo
Universidade Estadual da Paraíba (UEPB)
Patos - PB
Ingrid Morgane Medeiros de Lucena
Universidade Estadual da Paraíba (UEPB)
Patos – PB
RESUMO: Este trabalho trata-se da aplicação
de um simulador do microprocessador Z-80
na disciplina de Arquitetura de Computadores
no curso de Computação da Universidade
Estadual da Paraíba, sob a hipótese que a
mesma proporcionaria uma maior compreensão
sobre o assunto de processadores aos alunos.
Para aferir a melhoria na aprendizagem,
foram aplicadas duas avaliações de mesmo
nível, uma antes da explicação e execução de
rotinas no simulador, e outra depois. Elas foram
aplicadas utilizando o ambiente qualificador
de aprendizagem Kahoot!, baseado em
gamificação, motivador para os estudantes
durante o processo avaliativo. Verificou-se um
aumento de 8,3% na média de acertos e altos
índices de satisfação com a experiência.
PALAVRAS-CHAVE: microprocessador, Z-80,
simulador.
ABSTRACT: This paper describes the
application of a Z-80 microprocessor simulator
in the discipline of Computer Architecture in
the Computer Science course of the State
University of Paraiba, under the hypothesis that
it would provide better understanding on the
subject of Processors to the students. To assess
the improvement in learning, two evaluations
were applied, one prior to the explanation and
execution of routines in the simulator, and
another one afterwards. These were applied
using the Kahoot! learning environment, based
on gamification, which served as a motivator
for the students during the evaluation process.
There was an increase of 8.3% in the average
number of hits and high satisfaction rates with
the overall experience.
KEYWORDS: microprocessor, Z-80, simlator.
1 | INTRODUÇÃO
De acordo com a ementa do curso de
Computação do Campus VII da Universidade
Estadual da Paraíba [Costa et al. 2016], o
componente curricular de Arquitetura de
Computadores está associado ao ensino
de toda a estrutura básica de hardware
de computadores. Um dos assuntos
mais importantes nessa disciplina é o de
Processadores. Devido à complexidade no](https://image.slidesharecdn.com/e-book-contradicoes-e-desafios-da-educacao-brasileira-191106204413/85/Contradicoes-e-Desafios-na-Educacao-Brasileira-142-320.jpg)
![Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 13 134
processamento de instruções e na construção do mesmo, muitas vezes docentes se
limitam a teorizar sobre arquiteturas e funcionalidades básicas.
Este trabalho surge da hipótese que, através da explanação e execução de
rotinas de simuladores de Processadores em turmas cujo conteúdo é abordado, a sua
aprendizagem será otimizada. Para verificação dessa hipótese e, consequentemente,
a manutenção de um grau satisfatório de envolvimento dos estudantes ao longo da
experiência, decidiu-se utilizar uma ferramenta de gamificação, o Kahoot! [Dellos
2015]. A gamificação é uma abordagem que pode auxiliar o problema da motivação no
contexto educacional, através de elementos de jogos, proporcionando engajamento
no processo de ensino-aprendizagem [da Rocha Seixas et al. 2016]. Nesse sentido,
o Kahoot! é um ambiente que possibilita a realização de avaliações e questionários
através de um sistema de pontuação em jogos pré-concebidos, criando um ambiente
gamificado, no qual se busca acertar questões que são propostas como desafios
[Dellos 2015].
Por sua vez, para Monteiro (2012), uma boa estratégia para o ensino de
Processadores consiste em mostrar uma arquitetura simplificada de um processador,
para servir como apoio aos fundamentos sobre seus componentes internos, funções e
integração de procedimentos de instrução individual e em bloco, como um programa.
Em meados de 1973, foi concebido o Z-80, um processador de 8 bits que, devido
à sua simplicidade e seu baixo custo, se tornou popular, sendo o mais vendido da
história. Versões modernizadas (conservando o mesmo projeto básico, mas produzidos
com técnicas modernas, trabalhando com frequências mais altas) são utilizados em
eletrônicos até hoje, como calculadoras, MP3 Players e impressoras. Devido à sua
simplicidade, além de possuir de baixo custo, também é de fácil implementação
[Stallings 2010].
Comefeito,existemdiversosprocessadoresquepoderiamterversõessimuladoras
desenvolvidas, tais como: 8080a, 8088 e 4040 da Intel e o 64000 da Motorola [Stallings
2010]. No entanto, com a alta disponibilidade e interfaces simplificadas do Z-80, por
ele apresentar uma arquitetura eficaz, por essa conter todos os componentes típicos
de processadores e por ele ser muito usado como metodologia de ensino [Mudge e
Buzzard 1983], o Z-80 tornou-se uma escolha natural para a aplicação como escolha
metodológica da intervenção descrita neste artigo.
2 | PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
De acordo com Gil (2011), o objetivo fundamental de um trabalho científico é
descobrir respostas para problemas mediante o emprego de procedimentos.Aprofundar
um conhecimento extenso e detalhado sobre um objeto, a fim de realizar um estudo
profundo caracteriza um estudo de caso [Gil 2011]..
Neste sentido, Gil (2011), aponta que trabalhos descritivos propõem definições de
características de populações definidas, como as que estudam características de um](https://image.slidesharecdn.com/e-book-contradicoes-e-desafios-da-educacao-brasileira-191106204413/85/Contradicoes-e-Desafios-na-Educacao-Brasileira-143-320.jpg)
![Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 13 135
grupo. A saber, ao fim da atividade, foi aplicado um questionário de satisfação, no qual
se utilizou a escala de “Questionário de Experiência com o Usuário” (QEU) [Falavigna
2015], buscando medir a atratividade em relação ao simulador do Z-80. De acordo
com Triviños (1987), na pesquisa quantitativa descreve-se principalmente, do conceito
da medida e comparação de dados de maneira elementar, discreta.
Este trabalho abordou uma turma do curso de Computação, grupo que caracteriza
um estudo de caso. A avaliação da experiência com questionários determina o caráter
descritivo do estudo, comparativo e quantitativo, levando em consideração os dados
obtidos nas avaliações realizadas antes e depois da explanação do conteúdo. Assim,
este trabalho trata-se de um estudo de caso descritivo com abordagem quantitativa
discreta.
2.1 Preparação Para A Intervenção
O primeiro passo do trabalho foi pesquisar e obter uma implementação satisfatória
do microprocessador Z-80. Após pesquisa inicial, observou-se implementações com
basenas aplicações de Diab e Demashkieh (1991) e Mudge e Buzzard (1983). Como a
segunda implementação estava pronta para aplicação e o código disponível para uso,
enquanto a primeiro estava parcialmente em pseudo-código, sua implementação foi
escolhida.
Uma parte significativa do código, para os propósitos da aplicação em sala de aula,
precisou ser alterado. A principal modificação necessária foi adicionar instruções para
mostrar a quantidade de ciclos por instrução da linguagem Assembly. As alterações
podem ser encontradas nas linhas 47, 54 e 60 na Figura 1, que possui a nova versão
do código, em linguagem Java.
Para realizar a apresentação e aplicação do simulador do microprocessador Z-80
em sala de aula, foi realizada uma revisão sobre o tema de microprocessadores e
temas tais como unidade central de processamento, instrução, memória de instrução.](https://image.slidesharecdn.com/e-book-contradicoes-e-desafios-da-educacao-brasileira-191106204413/85/Contradicoes-e-Desafios-na-Educacao-Brasileira-144-320.jpg)
![Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 13 136
Figura 1: Código modificado do simulador do microprocessador Z-80
Com base em Cypriano (1984), Monteiro (2012) e Stallings (2010), adotados na
ementa da disciplina, foram elaboradas 20 questões sobre processadores, das quais
10 foram aplicadas antes da apresentação do simulador e 10 depois. O método de
avaliação foi o Kahoot! (ver Figura 2), de fácil identificação e organização dos dados
gerados, e 16 alunos participaram.
Figura 2: Possibilidades de interação com o Kahoot!
Como os alunos não estavam recebendo nenhuma pontuação extra na disciplina
para participar da atividade, uma estratégia para envolvê-los foi utilizar a plataforma,
que acaba motivando através da estrutura baseada em jogos. Não se trata de um
aplicativo: os estudantes não precisam de um Kahoot!, precisam apenas de qualquer
dispositivo com navegador da Web [Dellos 2015].
Assim,últimopasso daintervenção foia portabilidadedas questõese apreparação
do QEU, para medição de satisfação com a experiência, para o Kahoot!. O questionário
conteve questões que buscavam entender se: i) os alunos gostaram da experiência, ii)
já haviam tido alguma experiência com simuladores de hardware, iii) consideravam que](https://image.slidesharecdn.com/e-book-contradicoes-e-desafios-da-educacao-brasileira-191106204413/85/Contradicoes-e-Desafios-na-Educacao-Brasileira-145-320.jpg)

















![Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 15 154
dos pigmentos na manufatura de tintas com diferentes métodos de produção;
experimentação da capacidade de uso didático dos produtos; experimentação da
capacidade expressiva das tintas em trabalhos artísticos.
Os instrumentos de coleta de dados utilizados durante essas etapas foram:
1- Tabela de classificação dos pigmentos: Serviu para a apreensão e registro
de dados sobre a qualidade dos pigmentos coletados e seu comportamento
na composição das tintas.
2- Oficina: Através da interação com os participantes, permitiu a obtenção de
dados sobre a adequação dos materiais na confecção de tintas artesanais e
da acessibilidade dos métodos de manufatura de tintas.
3- Experimentação dos pigmentos na produção de tintas artesanais a partir de
modos de preparo pesquisados e/ou desenvolvidos para saber em que tipos
de tinta cada pigmento pode ser empregado, pois os pigmentos adequam-se
melhor a este ou aquele tipo de tinta. Por exemplo, o Terra de Siena pode ser
usado em qualquer tinta, o Terra Verde em tinta a óleo e aquarela (SMITH,
2012, p.26-9).
4- Diário virtual: As etapas da pesquisa foram registradas gráfica e visualmente
em um blog (http://coreseterras.blogspot.com.br/).
3 | RESULTADOS E DISCUSSÃO
Sendo utilizada desde a pré-história, tinta é um material que sofreu diferentes
mudanças ao longo da história humana. As tintas utilizadas atualmente são resultado
da industrialização moderna, das descobertas de novas substâncias e do surgimento
de outros meios de produção.
Uma definição muito recente de tinta é apresentada por Francisco e Francisco Jr.
(2012): “A tinta é uma mistura de vários insumos que juntos passam por um processo
de cura [...], formando assim um filme opaco e aderente” (p. 41). Sendo utilizadas
para embelezar peças e ambientes, proteger superfícies ou na criação artística,
os elementos que compõem a tinta atualmente são: resinas ou veículos; solvente;
pigmentos; e alguns outros aditivos empregados de acordo com a necessidade que a
utilização das tintas exigir.
Entendendo um pouco mais sobre a composição básica da tinta, posso dizer,
citando Francisco e Francisco Jr (2012, p. 41), que o pigmento é um particulado
sólido, orgânico ou inorgânico, natural ou sintético, insolúvel no substrato no qual será
incorporado, ele não pode reagir quimicamente com o material em que será disperso. A
característica primordial dos pigmentos é dar cor a um objeto ou parte dele, tornando-o
atrativo ao ser humano.
A Parte líquida da tinta é composta pelo solvente e a resina. O solvente é um](https://image.slidesharecdn.com/e-book-contradicoes-e-desafios-da-educacao-brasileira-191106204413/85/Contradicoes-e-Desafios-na-Educacao-Brasileira-163-320.jpg)


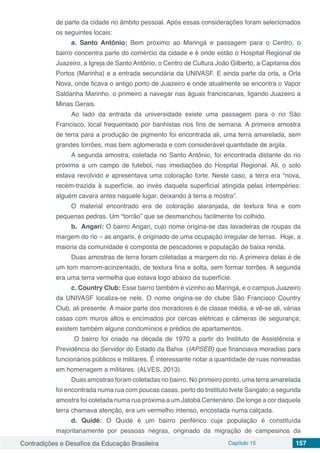






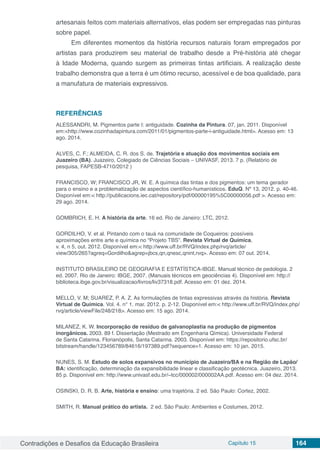










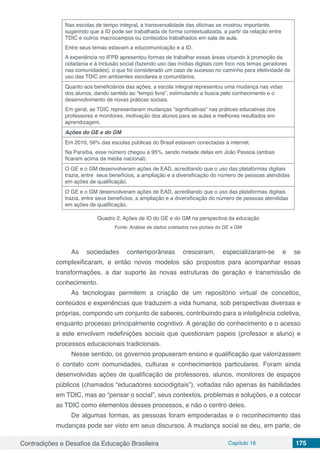













![Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 18 189
Fundamental e Ensino Médio. O PEB é o profissional licenciado para atuar ou na
Educação Infantil e Anos Iniciais (1º ao 5º) do Ensino Fundamental (no caso do
graduado em Pedagogia – Licenciatura Plena) ou nos Anos Finais (6º ao 9º) do Ensino
Fundamental e Ensino Médio (graduados em Licenciaturas específicas).
AGE deve ser exercida de maneira integrada pelo Diretor, Vice-diretor, Supervisor
Pedagógico e Orientador Educacional. Lück (2001) corrobora esta noção ao propor
que a equipe gestora trabalhe de modo sinérgico. Objetivos e metas comuns devem
pautar a atuação da equipe para que se obtenha uma Educação de qualidade.
A Gestão Escolar ocorre em três dimensões (pedagógica, administrativa e
financeira). Elas são complementares entre si e permitem ao gestor alcançar níveis de
autonomia juntamente com o coletivo da instituição de ensino (LÜCK, 2009).
Conforme Gebran (2009), as TICs são ferramentas que conjugam os recursos de
armazenamento e processamento da informação. Elas possibilitam a comunicação,
interação e colaboração entre pessoas separadas no espaço e/ou no tempo. Peré
(2009, p. 206) complementa o conceito ao indicar que as novas TICs são “basadas en
Internet” (baseadas em Internet).
A cibercultura, termo proposto por Lévy (1999), corresponde à cultura criada pela
utilização das TICs na sociedade. As formas de pensar, registrar e divulgar ideias
transcendem as barreiras do meio físico e adquirem cada vez mais um caráter virtual.
Ao assumir o trabalho didático, o PEB se sente despreparado para desenvolver
um ensino com tecnologias. Imbernón (2011, p. 43) corrobora esta ideia ao considerar
que o “tipo de formação inicial que os professores costumam receber não oferece
preparo suficiente para aplicar uma nova metodologia, nem para aplicar métodos
desenvolvidos teoricamente na prática de sala de aula”.
A mera utilização de TICs na sala de aula não inova o ensino. É necessário
desenvolver competências e habilidades para tal uso. Imbernón (2011, p. 40) afirma:
Devemos evitar a perspectiva denominada genericamente “técnica” ou “racional-
técnica” e basear os programas de formação no desenvolvimento de competências
[...] que consistem em determinados tipos de estratégias tendentes a realizar a
mudança com procedimentos sistemáticos [...].
Conforme Prensky (2017), os nativos digitais são a nova geração de estudantes
(geração Z) e a geração Y. Pischetola (2016, p. 40) destaca que eles são “uma geração
extremamente habilidosa no uso técnico das mídias digitais e no acesso aos recursos
da web”. A GE deve estar atenta ao ensino que se oferece aos nativos digitais, pois as
TICs podem dinamizar o trabalho didático e estimular o interesse discente.
3 | RESULTADOS E DISCUSSÃO
Conforme Gil (2002), classifica-se a investigação como qualitativa em relação à
abordagem. No que se refere aos objetivos, a pesquisa é exploratória. Já em relação](https://image.slidesharecdn.com/e-book-contradicoes-e-desafios-da-educacao-brasileira-191106204413/85/Contradicoes-e-Desafios-na-Educacao-Brasileira-198-320.jpg)






![Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 19 196
papel importante para a inclusão digital dos alunos, possibilitando mudanças das
práticas, através do acesso e conhecimento do código digital, passaporte para o
pertencimento à sociedade da informação; investigar como os alunos integram as
ferramentas computacionais em sua prática discente, e, investigar se as tecnologias
utilizadas no processo de educação à distância enriquecem a mediação pedagógica e
a interação entre os alunos.
2 | REVISÃO DA LITERATURA
2.1 Letramento
O letramento está relacionado ao uso efetivo que as pessoas fazem da
alfabetização que tiveram. Denominam-se agências de letramento, os diversos
espaços que orientam as práticas de indivíduos e comunidades para letramentos.
Assim, pessoas e comunidades podem ser letradas em espaços diversos e por meio
de práticas distintas (KLEIMAN, 1995).
No livro "Letramento e Alfabetização” específica que "a urgência de se falar em
letramento manifestou-se da conquista de conhecimento que se deu, especialmente
entre os linguistas, de que havia algo além da alfabetização, que era mais abundante
e determinante” (TFOUNI, 2010, p.32).
Scribner e Cole (1981) definem letramento como “um conjunto de práticas sociais
que usam a escrita, enquanto sistema simbólico e enquanto tecnologia em contextos
específicos, para objetivos específicos”. Para os autores, a prática da escrita depende
da relação individual que o sujeito tem com ela e esta será definida ou determinada
pelas condições necessárias ao seu uso, ou seja, pelos objetivos que as situações e
contextos impõem, podendo estas ser modificadas quando as condições mudam.
Soares (2006, p.47) define letramento como “o estado ou condição de quem
não apenas sabe ler ou escrever, mas cultiva e exerce as práticas sociais que usam
a escrita”. Embora os termos alfabetização e letramento tenham conceitos adverso,
ambos são processos indissociáveis.
[...] um indivíduo alfabetizado não é necessariamente um indivíduo letrado;
alfabetizado é aquele indivíduo que sabe ler e escrever; já o indivíduo letrado,
o indivíduo que vive em estado de letramento, não é só aquele que sabe ler e
escrever, mas aquele que usa socialmente a leitura a escrita, pratica a leitura e
a escrita, responde adequadamente às demandas sociais de leitura e escrita
(SOARES, 2006, pp. 39-40).
Ao situar as concepções de letramento, Street (1984) utiliza os termos “letramento
autônomo” e “letramento ideológico”. O “letramento autônomo” é dominante nesta
sociedade tecnológica e esse modelo concebe a escrita como um modelo completo,
não estando presa ao contexto de sua produção. O “letramento ideológico” relaciona
a aquisição da escrita com o desenvolvimento cognitivo e considera o parâmetro da](https://image.slidesharecdn.com/e-book-contradicoes-e-desafios-da-educacao-brasileira-191106204413/85/Contradicoes-e-Desafios-na-Educacao-Brasileira-205-320.jpg)
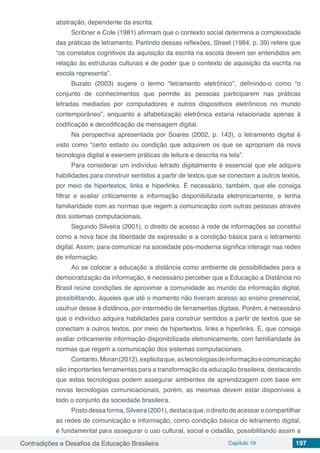
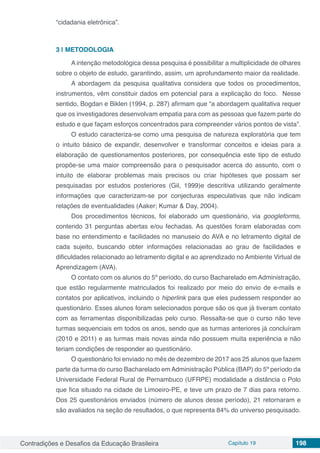





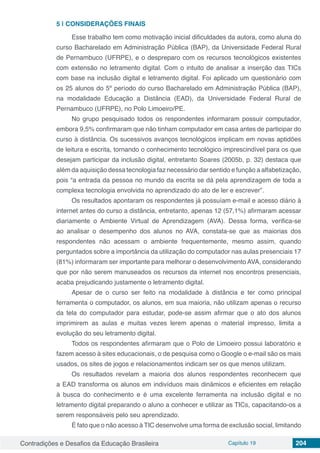





![Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 20 210
RESULTADOS E DISCUSSÃO
As categorias de pensamento originadas a partir da discussão sobre o
entendimento das mulheres e sua participação no MFS foram: (I) MFS é a seleção
de árvores pra serrar; (II) MFS é a atividade que sustenta; e (III) MFS possibilita a
participação das mulheres fazendo artesanato.
Embora parte das participantes inicie o diálogo indicando “eu não sei nada de
manejo”, “Eu não entendo desse negócio de manejo sustentável” e “quem sabe mais
disso é o meu marido, (...) eu não entendo nada de madeira”, ao longo da discussão
grupal, as diferentes percepções vão tomando forma, indicando um entendimento
particular sobre a atividade. Inicialmente as mulheres manifestam que o saber sobre
a madeira e seu uso é de posse masculina, principalmente pelo fato de que são os
homens que tradicionalmente têm tido contato direto com a experiência prática. Assim,
se considerarmos que o saber no campo é principalmente obtido pela prática, então
assume-se que o saber é de quem pratica aquela atividade, ou seja, dos homens.
Como existe uma divisão do trabalho, também baseada em classes e gênero,
estas categorias estruturam as interações das pessoas com a natureza (Garcia,
1992). Ainda que as mulheres em geral, não tenham se apropriado das práticas de
exploração da madeira numa interação mais direta no âmbito do MFS, o discurso sobre
tais práticas vai se incorporando à medida que se recordam das rodas de conversa
formais e informais proporcionadas pela equipe técnica do LMF e do próprio diálogo
familiar. E nessa interface que o saber feminino se constrói, não menos importante
que o saber masculino, mas emergente e atuante com todos os demais atores, sejam
mulheres ou homens.
Para essas mulheres o MFS é um tipo de atividade legal de exploração de
madeira, acompanhada de especialistas que selecionam árvores para serrar, ou seja,
“Marca uma área, e as árvores pra tirar da mata” de modo que, “aquela árvore da
floresta que é escolhida, você vai poder serrar, e vai ter o direito de usar ou vender a
madeira legalmente... Não é que você vai e serra qualquer árvore”.
Com base no entendimento das mulheres, na seleção das árvores pelo MFS
há um cuidado para que os impactos causados pela atividade sejam minimizados: “É
assim, eles [especialistas] veem o tempo de tirar [a madeira] e depois vão cortando de
novo ne?! Num é uma coisa pra chegar derrubando tudo né” e isso possibilita maior
eficiência na produção e a própria sustentabilidade da atividade de exploração, já que
nessa atividade “Num é que vai derrubar tudo [as árvores] e fica nada”. Isso vai de
encontro com princípios e objetivos MFS que buscam organizar as ações necessárias
para ordenar os fatores de produção com base na produção contínua e sustentada
dos produtos (Higuchi, 1996) ou seja, no MFS “Não se deixa acabar [as árvores],
tira só o que precisa” uma vez que na prática “você tira só aquelas árvore que já tá
marcada, na idade certa pra derrubar... Não é a mata toda!”
Em acréscimo, o MFS constitui uma atividade que sustenta. As participantes](https://image.slidesharecdn.com/e-book-contradicoes-e-desafios-da-educacao-brasileira-191106204413/85/Contradicoes-e-Desafios-na-Educacao-Brasileira-219-320.jpg)
![Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 20 211
explicam que “a palavra sustentável, é o que você vai se sustentar daquilo ali, né?”,
e para isso “no manejo você tira aquelas árvores-mãe [indivíduos maduros aptos à
extração] e fica os ‘filho’ né?! Fica as outras árvores da floresta”. Tais informações,
curiosamente, são corroboradas por um clássico da literatura na área de MFS, Higuchi
(1996), que diz que a aplicação de técnicas destinadas à produção de madeira e
a condução da regeneração natural dos indivíduos remanescentes constituem
estratégias do MFS no intuito de garantir a contínua operação da capacidade instalada
para o desdobro do produto da floresta. Ou seja, entende-se como MFS, uma prática
que vem de encontro com possibilidade de manter a floresta e as pessoas pois “é mais
do que pra sustentar né?! É aquilo que vai continuar”.
Não só a atividade de MFS, mas o próprio uso dos recursos da floresta configura
uma relação que inclui as mulheres sobre seu espaço e seus entendimentos sobre o
uso eficiente e sustentável dos recursos naturais. Higuchi, Freitas & Higuchi (2013)
explicam que o saber comum daqueles que vivem numa relação mais direta com a
floresta constitui um forte repertório para o entendimento e atuação nesse espaço.
Desse modo, o diálogo a respeito dos saberes das mulheres sobre as diferentes
possibilidades do MFS para a comunidade torna-se cada vez mais rico e estimulante.
Sobre isso, Castro & Abramovay (2005) discorrem que atualmente as mulheres estão
assumindo importantes papeis e se posicionando em prol do coletivo, questão presente
nas falas das participantes: “é pra o bem da comunidade”, “nosso manejo que vai
fazer, vai aproveitar muita madeira e vai gerar rendas pra nossa comunidade”, “É tirar
a madeira, e traz um pouco de beneficio para todos... ajuda muito”.
A expectativa de envolvimento direto ou indireto das mulheres sobre o MFS é
direcionada especialmente ao (re)aproveitamento dos subprodutos da floresta que
pode servir como fonte de renda (alternativa) para a comunidade, às famílias, e às
próprias mulheres. Para elas a efetiva participação das mulheres no MFS é o artesanato.
A utilização de “pedacinhos de madeira (remanescentes da exploração), sementes,
cipós, ouriços, galhos” é vital nesse aspecto, pois “tem vários tipos de artesanatos que
a mulher também pode fazer” além de que “a mulher ‘divulga' bem nesse trabalho,
melhor do que o homem”, “a mulher pode criar uma empresa pra vender e anunciar os
produto, tudo legalmente”. A literatura dispõe de exemplos que trazem essa conexão
da mulher e o ambiente por meio de atividades de artesanato (López, et al., 2008;
Higuchi, Alves & Sacramento, 2009). Em acréscimo, Castro & Abramovay (2005),
admitem a demanda cultural de mulheres amazônicas pela valorização do artesanato.
Esse envolvimento das mulheres sobre os subprodutos do manejo florestal (que
envolve os demais produtos da arvore além da ‘tora’) é justificado principalmente no
sentido de que quando se menciona a prática de MFS, as primeiras menções envolvem
principalmente a fase de serrar a madeira, o que envolve as técnicas específicas e
certa experiência. Nessa construção de pensamento, fatores como esforço físico e
habilidades para o trabalho braçal no MFS, além dos perigos e condições rusticas a que
são submetidos os envolvidos, consistem em barreiras que inibem a possibilidade de](https://image.slidesharecdn.com/e-book-contradicoes-e-desafios-da-educacao-brasileira-191106204413/85/Contradicoes-e-Desafios-na-Educacao-Brasileira-220-320.jpg)











![Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 21 223
3 | O NOVO CÓDIGO FLORESTAL FRENTE AO ORDENAMENTO JURÍDICO
BRASILEIRO
No âmbito das discussões até então traçadas a respeito do Novo Código
Florestal (Lei 12.651/2012), necessário se faz também considerar a regular inserção
do novo diploma legal na seara jurídica nacional, a fim de que se possa verificar se
a legislação, sob a égide constitucional e infraconstitucional, satisfaz os planos da
existência, validade e eficácia.
Em tal contexto, inicia-se a análise da Lei 12.651/2012 sob a ótica da Constituição
Federal de 1.988, a qual traça as molas mestras atinentes ao Direito Ambiental
brasileiro. Para início de estudo, remete-se, portanto, ao artigo 170 da Carta Magna,
dispositivo que trata da ordem econômica e financeira:
Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na
livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames
da justiça social, observados os seguintes princípios:
VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme
o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e
prestação; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)
Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade
econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos
casos previstos em lei.
Ou seja, a legislação nacional de máxima hierarquia normativa estabelece que a
atividade econômica deverá respeitar e, mais do que isso, defender o meio ambiente.
Tanto é que a Emenda Constitucional 42 tratou de ampliar o artigo 170. Antes de 19
de dezembro de 2003, falava-se somente em defesa do meio ambiente, ao passo que,
a partir de então, dispõe-se sobre o tratamento diferenciado de produtos e serviços
conforme seu impacto ambiental.
Ainda em se tratando da Constituição Federal, imprescindível é a leitura do artigo
225, que trata especificamente do meio ambiente:
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e
futuras gerações.
§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder
Público [...]
§ 2º Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar
o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida
pelo órgão público competente, na forma da lei.
§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente
sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais
e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os
danos causados.
§ 4º A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal
Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-
se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio](https://image.slidesharecdn.com/e-book-contradicoes-e-desafios-da-educacao-brasileira-191106204413/85/Contradicoes-e-Desafios-na-Educacao-Brasileira-232-320.jpg)
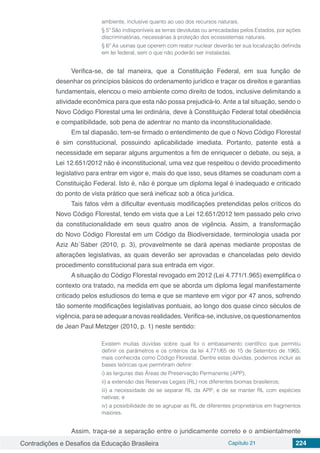

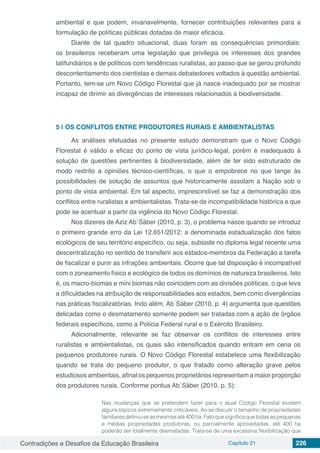






![Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 22 233
por meio de uma rede de conhecimentos, tem a possibilidade de fazer a reflexão,
a execução e a depuração das informações coletadas e, posteriormente, tirar suas
próprias conclusões a respeito do assunto tratado e assim construir o seu próprio
conhecimento (ESTEVAM; FÜRKOTTER, 2009).
Nesse sentido, a escola precisa reconhecer que os alunos da sociedade do
conhecimento têm habilidades para usar e aproveitar muito bem essa tecnologia e
sabem que podem, a qualquer momento, consultar uma informação repassada pelo
professor e questionar a sua veracidade.
Dessa forma, precisamos reconhecer que:
A instituição escolar, portanto, já não é considerada o único meio ou o meio
mais eficiente e ágil de socialização dos conhecimentos técnico-científicos e de
desenvolvimentos de habilidades cognitivas e competências sociais requeridas
para a vida prática. A tensão em que a escola se encontra não significa, no
entanto, seu fim como instituição socioeducativa ou o início de um processo
de descolarização da sociedade. Indica, antes, o início de um processo de
reestruturação dos sistemas educativos e da instituição tal como a conhecemos. A
escola de hoje precisa não apenas conviver com outras modalidades de educação
não formal, informal e profissional, mas também articular-se e integra-se a elas,
a fim de formar cidadãos mais preparados e qualificados para um novo tempo
(LIBANEO; OLIVEIRA; TOSCHI, 2012, p. 63).
Diante deste contexto, as TIC vêm ganhando cada vez mais espaço efetivo nas
escolas, pois são muitas as opções tecnológicas e mídias disponíveis para facilitar
e incentivar a aprendizagem do aluno. Dentre elas podemos citar os computadores
ligados à internet, software de criação de atividades e sites, televisão a cabo, projetores
de imagens, sistema de rádio, jogos eletrônicos, dentre outros.
Apesar disso, para que haja o real aprendizado, não é suficiente que a escola
apenas tenha os equipamentos tecnológicos encaixotados ou que eles, simplesmente,
sejam utilizados de qualquer maneira. “[...] é necessário pensar como eles estão
disponibilizados e como seu uso pode desafiar as estruturas existentes ao invés de
reforçá-las” (CARDOSO; AZEVEDO; MARTINS, 2013, p.5). Isso porque, estamos as
TIC trazem um novo referencial de educação e, segundo Prado apud Almeida (2000,
p. 16):
Oaprendizadodeumnovoreferencialeducacionalenvolvemudançadementalidade
[...]. Mudança de valores, concepções, ideias e, consequentemente, de atitudes
não é um ato mecânico. É um processo reflexivo, depurativo, de reconstrução, que
implica em transformação, e transformar significa conhecer.
Precisamos reconhecer que, neste contexto de educação mediada pelas TIC,
“o professor não é mais o centro do processo, passando a desempenhar o papel de
mediador e facilitador da construção do conhecimento” (ESTEVAM e FÜRKOTTER,
2009, p. 94) construído pelo aluno, atual protagonista em meio ao processo de
aprendizagem, que “origina-se na ação do aluno sobre os conteúdos específicos
e sobre as estruturas previamente construídas que caracterizam o nível real de](https://image.slidesharecdn.com/e-book-contradicoes-e-desafios-da-educacao-brasileira-191106204413/85/Contradicoes-e-Desafios-na-Educacao-Brasileira-242-320.jpg)








![Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 23 242
(espaços, materiais, suportes, etc.)? Compartilhe as experiências realizadas após o
presencial. Várias postagens trouxeram as questões da ruptura do medo de desenhar
sem o “peso do desenho errado” como a do estudante a seguir:
[...] quando frequentei as aulas de artes no ensino fundamental, sempre ouvia os
professores falarem: Este desenho está horrível, todo errado! Apaga e faz de novo,
está só os garranchos! Isso não é desenho! Mas depois do encontro presencial e
das leituras que estou fazendo sobre desenho me sento mais confortável e livre
para desenhar e exporto os meus traços. Tenho ciência que ainda preciso melhor
muito, mas já é um começo! E o melhor de tudo, sem tensão! Seguem alguns
desenhos que fiz. (T.V. da S.) - domingo, 22 out 2017, 16:27).
O ensino de artes visuais na escola é fundamental para o desenvolvimento da
imaginação e do pensamento divergente para trabalhar os processos de criação. No
entanto, sabemos que infelizmente, profissionais de outras áreas assumem a disciplinas
de artes visuais e geralmente, prejudicam e atrapalham esse processo como vemos
no depoimento dessa estudante que diz ser apaixonada por arte, mas que tinha e
tem muito receio de se aventurar no desenho e nos conta que “quando criança... na
sala de aula a professora me corrigiu, falando que minha flor não poderia ser marrom
e que melhor seria o vermelho, pois ficaria mais bonita. Mas eu gostava tanto do
marrom.... Mesmo assim cedi ao olhar de reprovação da professora. (Depoimento de
L. R.deS.C.- sábado, 21 out 2017, 20:22)
Aestudanteafirmaquenaauladoencontropresencialelaseaventurounovamente
na arte do desenho e que agora irá aplicar um mote que trabalhamos em sala de aula
parodiando o verso de Drummond “amar se aprende amando”, e para quem nunca fez
um desenho, vou aplicar: Aprende-se a desenhar, desenhando! Então selecionei uma
mesa e alguns papéis e vamos à construção. Vamos criar.
Vejamos como a interação de professores e tutores com essas histórias de
vida que os estudantes vão colocando é fundamental no processo de construção
do conhecimento. A Tutora Luciene Lacerda (em 20 de outubro/2017) responde da
seguinte forma a uma aluna:
A cada depoimento que eu leio eu fico muito emocionada, porque eu percebo
que a potência que é o desenho nas nossas vidas. Você me fez lembrar de um
pensamento da Edith Derdik que é assim: “Objetos, pessoas, situações, animais,
emoções, ideias, são tentativas de aproximação com o mundo. Desenhar é
conhecer, é apropriar-se”. (Edith Derdyk,1994, p.24). Podemos tomar esse
pensamento emprestado e vivenciar o desenho, retomar essa ação que nos faz
aproximar de tudo que está ao nosso redor. Como citei um pensamento, deixo aqui
a referência caso queira aprofundar na leitura. Edith Derdyk. Formas de pensar o
desenho: O desenvolvimento do grafismo infantil. Série: Pensamento e ação no
magistério. São Paulo: Scipione, 1994.
Vemos que a relação afetiva vai se desenhando ao mesmo tempo em que as
referências vão sendo colocadas com base nas peculiaridades que as histórias de
vida se apresentam. Por mais que o conteúdo tenha sido planejado antes da disciplina](https://image.slidesharecdn.com/e-book-contradicoes-e-desafios-da-educacao-brasileira-191106204413/85/Contradicoes-e-Desafios-na-Educacao-Brasileira-251-320.jpg)













![Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 25 256
campo que, no limiar dos anos de 1988, clamam por políticas públicas capazes de
garantir a cidadania educativa tão necessária para sua transformação social e pleno
desenvolvimento humano, nasce em abril do mesmo ano, o Programa Nacional de
Educação na Reforma Agrária – PRONERA, atualmente executado pelo Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA. Enquanto medida que visa
promover a justiça social no campo por meio da democratização do acesso à educação,
o PRONERA inicia acima de tudo um profícuo debate no que concerne aos direitos
dos povos do campo com repercussões em outras esferas públicas (FELIX, 2015).
Na perspectiva da experiência bem-sucedida do PRONERA que em seus quase
trinta anos de atuação capacitou mais de 164 mil educandos1
, surgem a partir do ano
de 2004, as primeiras inciativas no caminho de uma proposta educativa direcionada
para a formação profissional, pautada numa matriz ideológica ambientalmente
sustentável e plenamente adequada a natureza dos assentamentos agrários, mais
especificamente da agricultura familiar. Nas palavras de Guedes (2015), nessa nova
experiência de atuação do PRONERA,
Configura-se, então, a Residência Agrária, herdando o acúmulo da discussão e
prática da educação do campo pelos movimentos discentes e docentes por uma
formação mais comprometida com o desenvolvimento dos povos do campo [...]
possibilitou um olhar diferenciado aos assentamentos e [...] Além de garantir o
desenvolvimento de uma pesquisa multidisciplinar, combinando as ciências
agrárias com outras áreas do conhecimento (GUEDES, p. 274/298).
O sucesso dos projetos de Residência Agrária, com seu viés participativo, onde
as vivências dos atores formaram a estrutura primordial do ensino, baseado numa
prática onde a resolução das dificuldades parte do próprio coletivo, possibilitou a
ampliação do projeto para os cursos de natureza pós-média, para jovens estudantes.
Nasce assim o Residência Agrária Jovem, uma parceria entre o INCRA, a Secretaria
Nacional da Juventude – SNJ e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico – CNPq.
Por meio da chamada pública MCTI/MDA- INCRA/CNPq nº 19/2014 foram
selecionados trinta (34) projetos para oferta de educação profissionalizantes para
jovens de 15 a 29 anos residentes em áreas rurais do Brasil. Os projetos selecionados
deveriam contemplar os princípios da Educação do campo e as especificidades da
juventude rural, com foco no desenvolvimento das áreas de Reforma Agrária, através
da formação técnica e profissional dos jovens, e da produção do conhecimento e de sua
utilização para a promoção social das populações envolvidas no processo educativo.
Esses horizontes podem ser percebidos nos objetivos traçados para o projeto:
a) apoiar projetos de capacitação profissional e extensão tecnológica e inovadora
de jovens de 15 a 29 anos, estudantes de nível médio, que visem contribuir
significativamente para o desenvolvimento dos assentamentos de Reforma
Agrária, da agricultura familiar e comunidades tradicionais, com foco na inovação
tecnológica que desenvolva ações de experimentação, validação e disponibilização
1 Dados da II Pesquisa Nacional de Educação nas Áreas de Reforma Agrária (II PNERA) in:
INCRA/MDA, 2016, p. 14.](https://image.slidesharecdn.com/e-book-contradicoes-e-desafios-da-educacao-brasileira-191106204413/85/Contradicoes-e-Desafios-na-Educacao-Brasileira-265-320.jpg)







