Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3
- 2. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Atena Editora 2019 Willian Douglas Guilherme (Organizador)
- 3. 2019 by Atena Editora Copyright © Atena Editora Copyright do Texto © 2019 Os Autores Copyright da Edição © 2019 Atena Editora Editora Executiva: Profª Drª Antonella Carvalho de Oliveira Diagramação: Geraldo Alves Edição de Arte: Lorena Prestes Revisão: Os Autores O conteúdo dos artigos e seus dados em sua forma, correção e confiabilidade são de responsabilidade exclusiva dos autores. Permitido o download da obra e o compartilhamento desde que sejam atribuídos créditos aos autores, mas sem a possibilidade de alterá-la de nenhuma forma ou utilizá-la para fins comerciais. Conselho Editorial Ciências Humanas e Sociais Aplicadas Prof. Dr. Álvaro Augusto de Borba Barreto – Universidade Federal de Pelotas Prof. Dr. Antonio Carlos Frasson – Universidade Tecnológica Federal do Paraná Prof. Dr. Antonio Isidro-Filho – Universidade de Brasília Prof. Dr. Constantino Ribeiro de Oliveira Junior – Universidade Estadual de Ponta Grossa Profª Drª Cristina Gaio – Universidade de Lisboa Prof. Dr. Deyvison de Lima Oliveira – Universidade Federal de Rondônia Prof. Dr. Gilmei Fleck – Universidade Estadual do Oeste do Paraná Profª Drª Ivone Goulart Lopes – Istituto Internazionele delle Figlie de Maria Ausiliatrice Profª Drª Juliane Sant’Ana Bento – Universidade Federal do Rio Grande do Sul Prof. Dr. Julio Candido de Meirelles Junior – Universidade Federal Fluminense Profª Drª Lina Maria Gonçalves – Universidade Federal do Tocantins Profª Drª Natiéli Piovesan – Instituto Federal do Rio Grande do Norte Profª Drª Paola Andressa Scortegagna – Universidade Estadual de Ponta Grossa Prof. Dr. Urandi João Rodrigues Junior – Universidade Federal do Oeste do Pará Profª Drª Vanessa Bordin Viera – Universidade Federal de Campina Grande Prof. Dr. Willian Douglas Guilherme – Universidade Federal do Tocantins Ciências Agrárias e Multidisciplinar Prof. Dr. Alan Mario Zuffo – Universidade Federal de Mato Grosso do Sul Prof. Dr. Alexandre Igor Azevedo Pereira – Instituto Federal Goiano Profª Drª Daiane Garabeli Trojan – Universidade Norte do Paraná Prof. Dr. Darllan Collins da Cunha e Silva – Universidade Estadual Paulista Prof. Dr. Fábio Steiner – Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul Profª Drª Girlene Santos de Souza – Universidade Federal do Recôncavo da Bahia Prof. Dr. Jorge González Aguilera – Universidade Federal de Mato Grosso do Sul Prof. Dr. Ronilson Freitas de Souza – Universidade do Estado do Pará Prof. Dr. Valdemar Antonio Paffaro Junior – Universidade Federal de Alfenas
- 4. Ciências Biológicas e da Saúde Prof. Dr. Gianfábio Pimentel Franco – Universidade Federal de Santa Maria Prof. Dr. Benedito Rodrigues da Silva Neto – Universidade Federal de Goiás Prof.ª Dr.ª Elane Schwinden Prudêncio – Universidade Federal de Santa Catarina Prof. Dr. José Max Barbosa de Oliveira Junior – Universidade Federal do Oeste do Pará Profª Drª Natiéli Piovesan – Instituto Federal do Rio Grande do Norte Profª Drª Raissa Rachel Salustriano da Silva Matos – Universidade Federal do Maranhão Profª Drª Vanessa Lima Gonçalves – Universidade Estadual de Ponta Grossa Profª Drª Vanessa Bordin Viera – Universidade Federal de Campina Grande Ciências Exatas e da Terra e Engenharias Prof. Dr. Adélio Alcino Sampaio Castro Machado – Universidade do Porto Prof. Dr. Eloi Rufato Junior – Universidade Tecnológica Federal do Paraná Prof. Dr. Fabrício Menezes Ramos – Instituto Federal do Pará Profª Drª Natiéli Piovesan – Instituto Federal do Rio Grande do Norte Prof. Dr. Takeshy Tachizawa – Faculdade de Campo Limpo Paulista Conselho Técnico Científico Prof. Msc. Abrãao Carvalho Nogueira – Universidade Federal do Espírito Santo Prof.ª Drª Andreza Lopes – Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Acadêmico Prof. Msc. Carlos Antônio dos Santos – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro Prof.ª Msc. Jaqueline Oliveira Rezende – Universidade Federal de Uberlândia Prof. Msc. Leonardo Tullio – Universidade Estadual de Ponta Grossa Prof. Dr. Welleson Feitosa Gazel – Universidade Paulista Prof. Msc. André Flávio Gonçalves Silva – Universidade Federal do Maranhão Prof.ª Msc. Renata Luciane Polsaque Young Blood – UniSecal Prof. Msc. Daniel da Silva Miranda – Universidade Federal do Pará Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) (eDOC BRASIL, Belo Horizonte/MG) C764 Contradições e desafios na educação brasileira 3 [recurso eletrônico] / Organizador Willian Douglas Guilherme. – Ponta Grossa, PR: Atena Editora, 2019. – (Contradições e Desafios na Educação Brasileira; v. 3) Formato: PDF Requisitos de sistema: Adobe Acrobat Reader Modo de acesso: World Wide Web Inclui bibliografia ISBN 978-85-7247-375-0 DOI 10.22533/at.ed.750190106 1. Educação e Estado – Brasil. 2. Educação – Aspectos sociais. 3. Educação – Inclusão social. I. Guilherme, Willian Douglas. II. Série. CDD 370.710981 Elaborado por Maurício Amormino Júnior | CRB6/2422 Atena Editora Ponta Grossa – Paraná - Brasil www.atenaeditora.com.br contato@atenaeditora.com.br
- 5. APRESENTAÇÃO O livro “Contradições e Desafios na Educação Brasileira” foi dividido em 4 volumes e reuniu autores de diversas instituições de ensino superior, particulares e púbicas, federais e estaduais, distribuídas em vários estados brasileiros. O objetivo desta coleção foi de reunir relatos e pesquisas que apontassem, dentro da área da Educação, pontos em comuns. Neste 3º Volume, continuamos com a “Interdisciplinaridade e educação” e abordamos a “Educação especial, família, práticas e identidade”, agrupando, respectivamente, na 1ª parte, 11 artigos e na 2ª, 12 artigos. A coleção é um convite a leitura. No 1º Volume, os artigos foram agrupados em torno das “Ações afirmativas e inclusão social” e “Sustentabilidade, tecnologia e educação”. No 2º Volume, abordamos a “Interdisciplinaridade e educação” e “Um olhar crítico sobre a educação”. E por fim, no 4º e último Volume, reunimos os artigos em torno dos temas “Dialogando com a História da Educação Brasileira” e “Estudo de casos”, fechando a publicação. Entregamos ao leitor o livro “Contradições e Desafios na Educação Brasileira” com a intenção de cooperar com o diálogo científico e acadêmico e contribuir para a democratização do conhecimento.Boa leitura! Willian Douglas Guilherme
- 6. SUMÁRIO SUMÁRIO CAPÍTULO 1.................................................................................................................1 A CONCEPÇÃO DOS PROFESSORES DE MATEMÁTICA DA EDUCACAO DO CAMPO SOBRE A ESCOLARIZAÇÃO DOS ALUNOS CARACTERIZADOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL Edineide Rodrigues dos Santos Maria Edith Romano Siems-Marcondes Maristela Bortolon de Matos DOI 10.22533/at.ed.7501901061 CAPÍTULO 2...............................................................................................................17 A EDUCAÇÃO FÍSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: A IMPORTÂNCIA DO “MOVIMENTAR-SE” Lady Ádria Monteiro dos Santos Gerleison Ribeiro Barros DOI 10.22533/at.ed.7501901062 CAPÍTULO 3...............................................................................................................30 BIOQUÍMICA DO PÃO: VISÃO DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO SOBRE FERMENTO BIOLÓGICO E FERMENTAÇÃO Larissa de Lima Faustino Helen Caroline Valter Fischer Luana Felski Leite Flávia Ivanski Juliana Sartori Bonini DOI 10.22533/at.ed.7501901063 CAPÍTULO 4...............................................................................................................39 CURSOS DE HABILITAÇÃO AO MAGISTÉRIO: IMPLICAÇÕES NA FORMAÇÃO DOCENTE DE CRUZEIRO DO SUL/AC Ana da Cruz Ferreira Maria Irinilda da Silva Bezerra Yasmin Andria Araújo Silva DOI 10.22533/at.ed.7501901064 CAPÍTULO 5...............................................................................................................51 DESAFIOS NO ENSINO EXPERIMENTAL EM QUÍMICA NAS ESCOLAS ESTADUAIS DE VIANA - ESPÍRITO SANTO Nahun Thiaghor Lippaus Pires Gonçalves Michele Waltz Comaru DOI 10.22533/at.ed.7501901065 CAPÍTULO 6...............................................................................................................63 EXPERIÊNCIA ESTÉTICO SOCIAL EM ARTE: O CAMINHO COMO MÉTODO NOS APRENDIZADOS EM ARTE Laura Paola Ferreira Eloisa Mara de Paula Fabrício Andrade DOI 10.22533/at.ed.7501901066
- 7. SUMÁRIO CAPÍTULO 7...............................................................................................................76 FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL COMO INSTRUMENTO DE MOTIVAÇÃO E AUTOESTIMA DO PROFESSOR Cinthya Maduro de Lima Adriana Nunes de Freitas Mariene de Nazaré Andrade Sales DOI 10.22533/at.ed.7501901067 CAPÍTULO 8...............................................................................................................82 FORMAS E CORES: BRINCANDO E DESENVOLVENDO AS PRIMEIRAS NOÇÕES DE GEOMETRIA NA EDUCAÇÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA Lindaura Marianne Mendes da Silva Luciana Cristina Porfírio DOI 10.22533/at.ed.7501901068 CAPÍTULO 9...............................................................................................................98 INTERDISCIPLINARIDADE, O QUE PODE SER? Núbia Rosa Baquini da Silva Martinelli Francieli Martins Chibiaque Jaqueline Ritter DOI 10.22533/at.ed.7501901069 CAPÍTULO 10...........................................................................................................108 O USO DO MAGNETÔMETRO NO ENSINO DE ELETROMAGNETISMO MAGNETOMETER USE ON ELETROMAGNETISM TEACHING Karoline Zanetti Jucelino Cortez DOI 10.22533/at.ed.75019010610 CAPÍTULO 11........................................................................................................... 119 REDESIGN DE UMA SEQUÊNCIA DE ENSINO APRENDIZAGEM SOBRE AROMAS PARA O ENSINO DE QUÍMICA Elton Kazmierczak Jeremias Borges da Silva DOI 10.22533/at.ed.75019010611 CAPÍTULO 12...........................................................................................................132 A INTEFERFACE DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NA EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA Edineide Rodrigues dos Santos Maristela Bortolon de Matos Sérgio Luiz Lopes DOI 10.22533/at.ed.75019010612 CAPÍTULO 13...........................................................................................................146 A RELAÇÃO DA FAMÍLIA NA ESCOLA E NOS ESPAÇOS EDUCATIVOS E SUA CONTRIBUIÇÃO PARA A SOCIEDADE NOS DIAS ATUAIS Carla Agda Lima de Souza Cláudio Ludgero Monteiro Pereira DOI 10.22533/at.ed.75019010613
- 8. SUMÁRIO CAPÍTULO 14...........................................................................................................154 EDUCAÇÃO ESPECIAL, INCLUSÃO E AS DIRETRIZES MUNICIPAIS DE BRUSQUE (SC) Camila da Cunha Nunes Amanda Alexssandra Vailate Fidelis Nadine Manrich DOI 10.22533/at.ed.75019010614 CAPÍTULO 15...........................................................................................................164 EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO: NARRATIVAS DE UMA EXPERIÊNCIA DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA NO CURSO DE PEDAGOGIA DA UEPA Diana Lemes Ferreira Rejane Pinheiro Chaves DOI 10.22533/at.ed.75019010615 CAPÍTULO 16...........................................................................................................171 IGUALDADE DE OPORTUNIDADE PARA AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO Sandra Lia de Oliveira Neves DOI 10.22533/at.ed.75019010616 CAPÍTULO 17...........................................................................................................178 INTERFACES DA PESQUISA NA CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DOCENTE EM ARTES VISUAIS Leda Maria de Barros Guimarães Moema Martins Rebouças DOI 10.22533/at.ed.75019010617 CAPÍTULO 18...........................................................................................................191 O DESAFIO DO PROFESSOR DIANTE DO PROCESSO DE INCLUSÃO NO IFAC: REFLEXÕES SOBRE O ENSINO-APRENDIZAGEM DE LÍNGUA ESPANHOLA MEDIADO PELO SISTEMA BRAILLE José Eliziário de Moura Paulo Eduardo Ferlini Teixeira Erlande D’Ávila do Nascimento DOI 10.22533/at.ed.75019010618 CAPÍTULO 19...........................................................................................................205 O ESTUDO DOS SIGNOS NO PROCESSO DE FORMAÇÃO DOCENTE E DISCENTE Lucas Antunes Tenório Marcela dos Santos Barbosa DOI 10.22533/at.ed.75019010619 CAPÍTULO 20...........................................................................................................217 PERSPECTIVAS DOCENTES SOBRE O EDUCAR E O CUIDAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL Heloisa Alves Carvalho Lucy Ferreira Sofiete Maria Alice Araújo Daniane Xavier dos Santos Tatiane Tertuliano Mota da Silva DOI 10.22533/at.ed.75019010620
- 9. SUMÁRIO CAPÍTULO 21...........................................................................................................228 RECOMENDAÇÕES DE AÇÕES E TECNOLOGIAS PARA A ACESSIBILIDADE DE SURDOS EM CURSO DE PROGRAMAÇÃO A DISTÂNCIA Márcia Gonçalves de Oliveira Gabriel Silva Nascimento Mônica Ferreira Silva Lopes Anne Caroline Silva Lucinéia Barbosa da Costa Chagas Jennifer Gonçalves do Amaral DOI 10.22533/at.ed.75019010621 CAPÍTULO 22...........................................................................................................240 RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL: CONCEITOS E DIRETRIZES Bianca Santana Fonseca Ítalo Anderson dos Santos Araújo Liliane Caraciolo Ferreira Alvany Maria dos Santos Santiago DOI 10.22533/at.ed.75019010622 CAPÍTULO 23...........................................................................................................262 SISTEMASENSORIAL:UMADINÂMICAPARAALUNOSDOENSINOFUNDAMENTAL Helen Caroline Valter Fischer Glaucia Renee Hilgemberg Larissa de Lima Faustino Juliana Sartori Bonini DOI 10.22533/at.ed.75019010623 SOBRE O ORGANIZADOR......................................................................................271
- 10. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 1 1 CAPÍTULO 1 doi A CONCEPÇÃO DOS PROFESSORES DE MATEMÁTICA DA EDUCACAO DO CAMPO SOBRE A ESCOLARIZAÇÃO DOS ALUNOS CARACTERIZADOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL Edineide Rodrigues dos Santos Universidade Estadual de Roraima – UERR Boa Vista-RR Maria Edith Romano Siems-Marcondes Universidade Federal de Roraima – UFRR Boa Vista-RR Maristela Bortolon de Matos Instituto Federal de Roraima – IFRR Boa Vista-RR RESUMO: Este estudo tem como objetivo compreender a concepção dos professores de matemática que atuam em escolas consideradas como da Educação do Campo sobre a escolarização dos alunos caracterizados com deficiência intelectual bem como as condições gerais de escolarização desses estudantes. A perspectiva teórico-metodológica da investigação terá base no materialismo histórico-dialético e nos fundamentos da Pedagogia Histórico- Critica. O procedimento metodológicoutilizadofoiapesquisadocumental e a realização de entrevistas semiestruturadas. As entrevistas foram realizadas com três professores de matemática que tinham em suas salas de aula alunos com deficiência intelectual, no segundo semestre de 2017 em duas escolas estaduais de ensino fundamental e médio do município de Boa Vista-RR. Trata- se de um recorte de pesquisa de mestrado em desenvolvimento. Os resultados do estudo apontaram limites de acessibilidade nas escolas como: inadequação da estrutura arquitetônica e de comunicação para o acesso. a permanência e a aprendizagem dos alunos; inexistência de equipamentos, mobiliários e materiais didáticos pedagógicos; que o planejamento e a prática docente ocorriam de forma isolada e insuficiência na formação e atualização dos professores. Verificou-se também que diante da realidade das escolas os professores diante da escolarização dos alunos caracterizados com deficiência intelectual, limitavam-se a desenvolver junto aos alunos com deficiência intelectual ações que entendemos como sendo de socialização. Nesta perspectiva, percebe-se quão relevante se faz a ampliação de estudos om esta temática de forma a dar-se cumprimento à demanda ética e legal referente ao acesso a direito fundamental como a escolarização para estudantes em condição de deficiência intelectual. PALAVRAS-CHAVE: Professores de Matemática, Escolarização, Deficiência Intelectual, Educação do Campo. ABSTRACT: This study aims to understand the conception of mathematics teachers who work in schools considered as Field Education about the schooling of students with intellectual disabilities as well as the general conditions of schooling of
- 11. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 1 2 these students. The theoretical-methodological perspective of the investigation will be based on historical-dialectical materialism and on the foundations of Historical-Critical Pedagogy. The methodological procedure used was documental research and semi- structured interviews. The interviews were carried out with three math teachers who had in their classrooms students with intellectual disabilities in the second semester of 2017 in two elementary and middle schools of the municipality of Boa Vista-RR. This is a research cut of master’s degree in development. The results of the study pointed to accessibility limits in schools such as: inadequacy of the architectural structure and communication for access. the permanence and the learning of the students; lack of teaching equipment, furniture and teaching materials; that teacher planning and practice occurred in isolation and insufficient training and updating of teachers. It was also verified that before the reality of the schools the teachers before the schooling of the students with intellectual deficiency, limited themselves to develop next to the students with intellectual deficiency actions that we understand as being of socialization. From this perspective, one can see how relevant it is to expand studies on this subject in order to comply with the ethical and legal demands related to access to fundamental right such as schooling for students in a condition of intellectual disability. KEYWORDS: Teachers of Mathematics, Schooling, Intellectual Disability, Field Education. 1 | INTRODUÇÃO A Educação Especial e a Educação do Campo estão contempladas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional-LDBEN, Lei nº 9394/96(BRASIL, 1996), constituindo-se em direitos do aluno, faça ele parte da zona urbana ou rural, seja pessoa caracterizada com ou sem deficiência. Vale destacar que fazem parte do público-alvo da Educação Especial os “educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/ou superlotação” (BRASIL, 1996). Contudo, neste trabalho o público a ser enfatizado serão os alunos com deficiência intelectual. 2 | EDUCAÇÃO DO CAMPO A Educação do Campo, assim como a Educação Especial tem um público diferenciado, diverso, com características e necessidades singulares que precisam ser respeitadas e valorizadas, pois as pessoas que fazem parte dela têm direito a uma educação, a um ensino de qualidade, enfim a uma escola que considerem as peculiaridades, a realidade social e os anseios da pessoa que vive e estuda no campo. Caldart (2002, p.21) destaca que o campo é composto por diferentes sujeitos, dentre eles, pode-se citar:
- 12. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 1 3 [...] pequenos agricultores, quilombolas, povos indígenas, pescadores, camponeses, assentados, reassentados, ribeirinhos, povos da floresta, caipiras, lavradores, roceiros, sem terra, segregados, caboclos, meeiros, boias-frias e outros grupos mais. Entre estes há os que estão ligados a alguma forma de organização popular, outros não; há ainda as diferenças de gênero, de etnia, de religião, de geração; são diferentes jeitos de produzir e de viver; diferentes modos de olhar o mundo, de conhecer a realidade e de resolver os problemas; diferentes jeitos de fazer a própria resistência no campo; diferentes lutas. É imperioso destacar ainda que a Educação do Campo era denominada Educação Rural. Hoje os sujeitos sociais do Movimento Nacional de Educação do Campo assim a definem e, de acordo com Fernandes; Cerioli; Caldart(2004) a decisão de mudar a expressão “rural” por “campo” objetivou uma reflexão acerca de como vem sendo tratado o trabalho camponês, as lutas sociais e culturais que as pessoas da Educação do Campo enfrentam para garantirem sua sobrevivência. O diálogo sobre a Educação do Campo, nos remete a falar sobre a Primeira Conferência Nacional “Por uma Educação Básica do Campo” de 1998, a qual objetivou “[...] ajudar a recolocar o rural, e a educação que a ele se vincula, na agenda política do país […]” (FERNANDES; CERIOLI; CALDART; 2004 p. 22). Neste sentido, a pretensão desta Conferência foi “[...] conceber uma educação básica do campo, atendendo as suas diferenças históricas e culturais [...]”. (FERNANDES, CERIOLI; CALDART; 2004 p. 27). Desta forma, o ensino será mais significativo e condizente com a realidade, necessidade e cultura do povo que vive, estuda e sobrevive do trabalho do campo. A Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional-LDBEN 9394/96(BRASIL, 1996), apresenta em seu contexto “avanços” que proporcionou conquistas voltadas às políticas educacionais para o campo. De acordo com a LDBEN 9394/96, o conceito de educação é definido de forma ampla, assim enfatiza que: A educação deve abranger os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais (Art. 1º da LDBEN 9394/96). Deste modo, a LDBEN 9394/96 contempla a Educação do Campo, considerando ainda os movimentos sociais e as manifestações culturais expressas pelos sujeitos do campo. 3 | DEFICIÊNCIA INTELECTUAL A concepção das pessoas sobre deficiência vem se modificando ao longo dos anos, mas, isso não representa, necessariamente a ruptura do processo de preconceito, discriminação e descaso a que, em alguns momentos, a sociedade, a escola e a família submete as pessoas com deficiência. Atualmente, mesmo diante das descobertas científicas acerca das capacidades que elas têm, ainda existem educadores, pais,
- 13. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 1 4 professores; que são incrédulos em relação ao desenvolvimento deste público, pois não consideram e, em alguns casos, ignoram o potencial e as competências que eles têm. Nesta perspectiva, resolveu-se destacar aqui o conceito de deficiência intelectual segundo a American Association on Intelectual and Developmental Disabilities-AAIDD (2010), a qual define a deficiência como “[...] uma incapacidade caracterizada por limitações significativas no funcionamento intelectual e no comportamento adaptativo, e, que, geralmente, se expressa nas habilidades sociais, conceituais e práticas” (AAIDD, 2010). A LDBEN (BRASIL, 1996), prevê a “igualdade de condições para o acesso e permanência na escola” e a “garantia do padrão de qualidade” (BRASIL, 1996). Vale destacar que além da LDBEN, a Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988) também contempla esse princípio, e no art. 208, inciso III, o qual aborda que o Atendimento Educacional Especializado às pessoas com deficiência deve ser ofertado “preferencialmente” na rede regular de ensino. É imperioso ressaltar que o direito das pessoas caracterizadas com deficiência intelectual a escolarização no ensino regular, demanda a oferta de Atendimento Educacional Especializado, serviço de apoio permanente, seja o aluno da zona urbana ou rural. Nozu e Bruno (2017, p.02) ressalta que: […] estas previsões textuais apresentam fragilidade de conceitos e ausência de diretrizes quanto ao modus operandi desta interface, o que nos leva a entendê-la como um constructo discursivo das políticas educacionais configurado como uma justaposição formal entre as modalidades de Educação Especial e Educação do Campo. Pode-se dizer que apesar da interface entre Educação Especial e Educação do Campo estarem contempladas na legislação, as pesquisas revelam que esta ainda não está sendo efetivada. Marcoccia(2011) corrobora com esse pensamento, pois destacou em seu estudo que os alunos caracterizados com deficiência intelectual não estão usufruindo de seus direitos. 4 | O MATERIALISMO HISTÓRICO-DIALÉTICO E OS FUNDAMENTOS DA PEDAGOGIA HISTÓRICO- CRÍTICA Inicialmente convém apresentar sucintamente conceitos do Materialismo Histórico Dialético; e da Pedagogia Histórico Critica, sua contextualização teórica, destacando na concepção de Dermeval Saviani a educação escolar e como deve dar-se a práxis educativa diante do processo de escolarização. A perspectiva teórico-metodológica da investigação terá base no materialismo histórico-dialético, que segundo Saviani (2012, p.76) refere-se a “[...] compreensão da história a partir do desenvolvimento material, da determinação das condições materiais
- 14. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 1 5 da existência humana [...]”. Para Triviños(2012) o processo de desenvolvimento da pesquisa de cunho materialista apresenta a “contemplação viva” do fenômeno, a “análise do fenômeno” e a “realidade concreta do fenômeno”. Nesta perspectiva, este estudo apoiou-se nos fundamentos da Pedagogia Histórico-Crítica de Dermeval Saviani. De acordo com Saviani (2012, p.120) a Pedagogia- Histórico -Critica “[...] trata- se de uma dialética histórica expressa no materialismo histórico [...]”. O autor destaca ainda que a “[...] educação é vista como mediação no interior da prática social global. A prática é o ponto de partida e o ponto de chegada [...]”. Para Saviani (2012, p.120) a práxis é: [...] uma prática fundamentada teoricamente [...] a prática desvinculada da teoria é puro espontaneísmo [...] a prática é ao mesmo tempo, fundamento, critério de verdade e finalidade da teoria [...] A prática para desenvolver-se e produzir suas consequências necessita da teoria e precisa ser por ela iluminada [...]. A Pedagogia Histórico Crítica surgiu mediante a emergência de um movimento pedagógico com características especificas que demandava uma nomenclatura. Ela, enquanto movimento pedagógico “[...] veio responder a necessidade de encontrar alternativa a pedagogia dominante [...] (SAVIANI, 2012, p.11)”. É notória a relação que há entre a Pedagogia Histórico Crítica e a realidade escolar, pois a concepção histórica crítica surgiu a partir “[...] de necessidades postas pela prática dos educadores nas condições atuais [...]” (SAVIANI, 2012, P. 80). É imperioso ressaltar que ela prioriza a história do indivíduo, sua realidade social e a partir desta responde aos problemas educacionais, dentre eles está a escolarização dos alunos com deficiência na Educação do Campo, foco deste estudo. De acordo com Saviani (2012, p.14) a escola é [...] uma instituição cujo papel consiste na socialização do saber sistematizado [...]. Vale destacar que quando o autor fala sobre a socialização do saber não está se referindo ao mero trabalho de interação e convivência, mas sim, da aquisição do conhecimento, da alfabetização e da formação do indivíduo. Saviani (2012, p.120) enfatiza que “a prática é o ponto de partida e o ponto de chegada [...]”. Gasparin (2012, p.130) corrobora com o pensamento de Saviani ao enfatizar que “Uma das formas de motivar o aluno é conhecer sua prática social imediata a respeito do conteúdo curricular. Acredita-se que assim há maiores possibilidades de escolarização aos alunos caracterizados com deficiência da que estudam e vivem no campo, pois propiciar isso a eles vai além da oferta da mera socialização, convivência, pois eles, assim como os demais necessitam apropriar-se do conhecimento. Saviani (2012, p.91) deixa claro ainda que “[...] A ação educativa, portanto, desenvolve-se a partir de condições materiais e em condições também materiais. Diante do exposto, questionou-se: como se dá a educação matemática dos estudantes com deficiência intelectual nas escolas do campo? Que compreensão os professores
- 15. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 1 6 de matemática têm desse processo? 5 | A EDUCAÇÃO MATEMÁTICA NO PROCESSO DE ESCOLARIZAÇÃO DOS ALUNOS CARACTERIZADOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL A matemática está presente em nosso dia-a-dia, sendo uma necessidade de cada indivíduo então compreendê-la de uma maneira significativa, o que é essencial para entender suas reais funções e utilizações no decorrer de nossas vidas, de nossa escolarização. Neste sentido, o papel do professor, sua práxis é fundamental para que o aluno tenha a oportunidade de adquirir saberes, conhecimento. Diante da conjuntura atual, o professor deve se preparar, se qualificar para a mediação do conhecimento, conhecimento este que deve ser oferecido a todos os alunos, inclusive aos alunos com deficiência, pois é um direito deles e o mesmo tem que ser efetivado, respeitado. Moreira e Manrique (2013, p.15) deixam claro que: [...] os professores que ensinam Matemática, e que estão diretamente envolvidos com o aluno especial e com a Educação Especial em geral, precisam estar mais bem preparados para lidarem com alunos com NEE, uma vez que todas as escolas são consideradas inclusivas e, por força da lei, são obrigadas a atender todos os tipos de alunos sob pena de responderem por prática de exclusão e preconceito. De acordo com Dias e Oliveira (2013) a deficiência intelectual não deve ser vista como uma impossibilidade no desenvolvimento do intelecto, pois cada indivíduo tem suas singularidades, particularidades, um modo de se relacionar com o meio social e formas diferentes de aprender. Nesta perspectiva, cabem aos professores buscar metodologias variadas para propiciar a escolarização dos alunos, inclusive os com deficiência intelectual. Nesta perspectiva, o papel do professor de matemática é propiciar aos alunos um ensino dinâmico, prazeroso e principalmente significativo para os alunos, assim ele não deve insistir “[...] na solução de exercícios repetitivos e exaustivos, pretendendo que o aprendizado ocorra pela mecanização ou memorização e não pela construção do conhecimento através das aptidões adquiridas”. (CERCONI; MARTINS, 2014, p. 3) O professor de matemática deve ter uma nova postura diante do desafio da escolarização dos alunos com deficiência, para isso, necessita realizar um trabalho coletivo, onde possa estar articulados com a comunidade, alunos, professores e demais profissionais da escola, pois “[...] a colaboração entre o professor da sala comum com o profissional da Educação Especial pode fazer total diferença quanto à qualidade da aquisição dos conceitos educacionais”. (BRITO; CAMPOS; 2012 p.07). Deste modo, o processo de escolarização dos alunos com deficiência intelectual não pode ser realizado de forma individual, isolado, pois eles têm suas necessidades, limitações e precisam de apoio, de acesso, de oportunidade para construir o seu
- 16. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 1 7 conhecimento. Nesta perspectiva, Cruz e Szymanski (2013, p.16) aconselham que: [...] na área de Matemática, os cursos de formação docente, inicial e continuada, dispensem mais atenção às discussões sobre as especificidades do trabalho pedagógico na Educação do Campo, aprofundando a discussão sobre os conceitos de contextualização e descontextualização, possibilitando ao professor desempenhar o papel de mediador no processo de apropriação, pelo aluno, das Leis matemáticas para que ele possa utilizá-las nos diversos contextos em que elas se apliquem. DeacordocomaBaseNacionalComumCurricular-BNCC(BRASIL,2017)osalunos do ensino fundamental devem tornar-se capazes de “[...] identificar oportunidades de utilização da matemática para resolver problemas, aplicando conceitos, procedimentos e resultados para obter soluções e interpretá-las segundo os contextos das situações.” (BRASIL, 2017, p.263). Diante do exposto, o papel do professor deste componente curricular é propiciar aos alunos com deficiência intelectual o aprendizado, a aquisição de saberes; e não apenas possibilitar a socialização, a convivência. 6 | O CAMPO DE ESTUDOS: METODOLOGIA E PROCEDIMENTOS O estudo foi realizado em duas escolas da Educação do Campo, com três professores, todos voluntários. Os participantes são professores efetivos e seletivados da educação básica da rede estadual do município de Boa Vista- Roraima com os quais realizou-se entrevistas individuais, semiestruturadas. Cada entrevista durou, em média, 30 (trinta) minutos. O estudo em questão foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisas a Seres Humanos da Universidade Estadual de Roraima-UERR, sendo aprovado mediante Parecernº76902317.3.0000.5621.Oconviteàparticipaçãofoifeitopelaspesquisadoras e firmado mediante a concordância e assinatura no Termo de Esclarecimento Livre Esclarecido-TCLE. Foram incluídos para participar da pesquisa os professores que ministram a disciplina de matemática, que estavam atuando com os alunos com deficiência intelectual. Os professores participantes da pesquisa tiveram a identidade preservada, sendo identificados da seguinte maneira: PM: Professor de Matemática. Atribuiu-se a para cada um dos participantes uma ordem numérica, para assim diferenciá-los: por exemplo, PM1 refere-se a Professor de Matemática 1. Ressaltando sobre o número dos entrevistados, Turato (2003, p. 375) enfatiza que: [...] se queremos estudar os sentidos e significações que certos fenômenos têm para as pessoas ou para a sociedade, recorremos a estudos em profundidade dos elementos que objetivamos (com amostras em que a “pré-ocupação” com número não faz sentido).
- 17. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 1 8 O estudo adotou a perspectiva teórico-metodológica do materialismo histórico- dialético e os fundamentos da Pedagogia Histórico- Critica, que deram suporte para o desenvolvimento deste estudo. 7 | RESULTADOS E DISCUSSÕES As escolas estaduais da Educação do Campo no município de Boa Vista contavam com um total de 11 alunos público-alvo da Educação Especial matriculados, sendo 2 com deficiência múltipla (deficiência intelectual e física), 1 aluno com síndrome de Rett e 8 com deficiência intelectual. Ambas as escolas contavam com um quadro completo de professores formados na área de matemática, sendo dois efetivos e um do quadro temporário. Vale destacar ainda que as mesmas tinham professores para o serviço de apoio permanente e para a sala de recursos multifuncionais. Palma e Carneiro (2018, p. 167) ao analisar o número de alunos matriculados em três escolas da Educação do Campo de um município do interior do estado de São Paulo, Brasil constataram que [...] é notável a existência de matrículas somente de alunos com deficiência intelectual. “Apenas na Escola C, tivemos, em 2013, a matrícula de uma aluna com surdez”. Mediante os questionamentos enfatizados nas entrevistas buscou-se abordar a concepção dos professores de matemática sobre a escolarização dos alunos com deficiência intelectual na Educação do Campo, fundamentando-a com a realidade verificada. A entrevista foi elaborada considerando as seguintes categorias: Acessibilidade e Recursos; a ação pedagógica dos professores, a formação e os desafios dos professores de matemática diante da escolarização dos alunos com deficiência intelectual. As análises embasaram-se nos pressupostos da fundamentação teórico- metodológica acima explicitada: a do materialismo histórico dialético em abordagem histórico crítica. 7.1 Acessibilidade e Recursos Apesar da predominância de alunos com deficiência intelectual nas escolas estaduais da Educação do Campo no município de Boa Vista-RR, as mesmas não apresentavam a acessibilidade básica e necessária para a escolarização dos alunos público-alvo da Educação Especial. Marcoccia (2011) enfatizou também em seu estudo que não era oferecido aos alunos com deficiência condições para o acesso e permanência na escola. Nesta perspectiva, os professores de matemática foram indagados se a escola disponibilizava de acessibilidade arquitetônica e de comunicação para a escolarização dos alunos. Os professores de matemática foram unânimes em responderem que não,
- 18. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 1 9 que elas não estavam acessíveis para receberem os alunos. Neste sentido, destacou- se aqui a fala dos mesmos. De acordo com o PM1 nem a escola, tão pouco a sala de aula, dispõem de acessibilidade. Segundo outro entrevistado: A acessibilidade é pouca, pois vimos que não há rampas para os alunos com deficiência física, pois a escola tem um aluno matriculado, mas devido a escola não está acessível e a falta de cuidador e professor para apoiá-lo ele nunca compareceu a escola, o grau de dificuldade dele era grande, ele foi matriculado, porém não tinha como ficar na escola.(PM2) O PM3 foi enfático em dizer que: Não, na realidade não temos nada, nós não temos laboratório de informática, não temos materiais didáticos para o aluno, acredito que isso é uma das falhas da Secretaria de Educação, do MEC, pois eles não nos ajuda com relação a isso e trabalhar apenas com livro didático não é suficiente, uma vez que os livros de matemática não trazem nada de específico para o aluno com deficiência. Essa falha não é só do MEC, mas também da Secretaria de Educação. Vale destacar que equipamentos, mobiliários, materiais didático-pedagógicos também fazem parte da acessibilidade. Neste sentido, resolveu-se indagar aos professores se a escola disponibilizava de recursos materiais para facilitar a escolarização dos alunos caracterizados com deficiência, tais como: equipamentos, mobiliários e materiais didático-pedagógicos. Os professores foram unânimes em afirmar que as escolas não disponibilizavam de materiais didáticos pedagógicos, inclusive para o trabalho docente na sala de aula de ensino regular. Destacaram ainda que os eventuais materiais ou equipamentos, se existentes, ficavam disponibilizados na sala de recursos multifuncionais (PM1; PM2; PM3). O PM1 afirmou que só havia materiais na sala de recursos, que ele desconhecia quais materiais eram utilizados na mesma. No entanto, o PM1 destacou “[…] mas sei que lá tem computador, impressora, jogos, brinquedos […], porém nunca mostraram pra mim nenhum material”. O PM3 disse “[...] a escola tem poucos materiais, porém tem cartolina, lápis de cor, hidrocor, pincel, tinta guache, tesoura”. Observou-se que a falta de recursos, de acessibilidade para a prática docente interferia na ação pedagógica dos professores, pois a escolarização dos alunos dependia de uma escola equipada, estruturada. A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva de 2008 (BRASIL, 2008, p.8-9) enfatiza que o ensino deve: [...] garantir o acesso, a participação e a aprendizagem dos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, no ensino regular, assegurando entre outras questões [...] Formação de professores para atendimentos educacionais especializados e demais profissionais da educação para a inclusão escolar; [...]
- 19. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 1 10 Nesta perspectiva, faz-se necessário que as escolas tenham um sistema organizacional e educacional que atenda às necessidades dos alunos; para isso, elas devem ser estruturadas, ou melhor, reestruturadas, adaptadas. A LDBEN traz em seu art. 59, inciso I, que os sistemas de ensino asseguraram aos educandos caracterizados com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação “recursos educativos e organização específica para atender as suas necessidades’”. No entanto, constatou-se que isso não estava ocorrendo nas escolas da Educação do Campo no município de Boa Vista. A escolarização dos alunos caracterizados com deficiência intelectual é um direito garantido em lei, porém pouco efetivado na prática, pois verificou-se que dos 11 alunos do público-alvo da Educação Especial, apenas 9 estavam frequentando as escolas, isso por elas não estarem estruturadas, equipadas, adaptadas para as pessoas com deficiência. 7.2 A Formação e os Desafios dos Professores de Matemática Diante da Escolarização dos Alunos Caracterizados Com Deficiência IntelectuaL Em relação à formação docente, verificou-se que todos os três professores são formados na área de matemática, sendo que um é especialista em mídias na educação, um está cursando Gestão Escolar e um tem mestrado na área de matemática. Os três professores afirmaram não terem feito nenhum curso na área de Educação Especial nos últimos três anos. Diante disso, questionou-se aos professores se eles se sentiam seguros em trabalhar com alunos caracterizados com deficiência intelectual. O PM1 e o PM3 disseram não ter segurança ao desenvolverem seu trabalho, sua prática docente. Já o PM2 disse que sentia segurança devido à sua formação e aos estudos e leituras realizados de forma independente. O PMI enfatizou ainda que: […] não trabalha com o aluno, se tivesse curso na área até poderia trabalhar, pois eu não posso fazer duas coisas ao mesmo tempo, por exemplo, se eu tivesse material didático só para aquele aluno, mas eu acredito que ele já tem professor que fica do lado dele, que e o professor de apoio permanente. No meu caso, eu não tenho capacidade para trabalhar com esse aluno, eu posso apenas conversar, orientar a professor em algumas situações, pois eu não tenho nenhum curso, como é que eu posso trabalhar com esse aluno? Para Cruz e Szymanski (2013) os cursos na área de matemática devem enfatizar mais o trabalho pedagógico a ser desenvolvido na Educação do Campo; destaca ainda que os conceitos precisam ser contextualizados e re contextualizados para facilitar assim a apropriação do conhecimento. A formação inicial e continuada na área de matemática é essencial para que os professores atuem de forma significativa, contextualizada, pois é necessário atender as necessidades e direitos dos alunos que vivem e estudam no campo, inclusive os alunos caracterizados com deficiência intelectual, evitando assim a exclusão em
- 20. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 1 11 relação à apropriação de saberes matemáticos, saberes esses essenciais à vida do indivíduo, uma vez que eles fazem parte do cotidiano de qualquer cidadão. Com isso, faz-se necessário que os professores de matemática tenham acesso à formação continuada na área da Educação Especial e condições adequadas de trabalho para o desenvolvimento de suas aulas. Além disso, é preciso que a escola ofereça aos alunos com caracterizados com deficiência intelectual da Educação do Campo o acesso à escolarização, isso implica não apenas estar matriculado, mas de fato ter seus direitos efetivados. 7.3 Ação Pedagógica do Professor A realidade em que se encontravam as escolas da Educação do Campo refletia na ação pedagógica dos professores, pois o planejamento das aulas dos professores de matemática era realizado considerando apenas os conteúdos presentes nos livros didáticos; por ser este um dos poucos recursos disponibilizados aos professores. Cumpre destacar que, esta limitação atingia, não apenas os estudantes caracterizados com deficiência, mas o conjunto dos alunos, inclusive os sem deficiência. Além disso, notou-se que isso também influenciava na forma como vinha sendo desenvolvido o planejamento das atividades por parte dos professores, as quais eram feitas de forma individualizada e desarticulada das atividades desenvolvidas pelos professores de apoio permanente e sala de recursos multifuncionais. Os PM1 e PM3 enfatizaram que utilizavam basicamente o livro didático para o desenvolvimento de suas aulas, que geralmente as mesmas eram expositivas, desenvolvidas em termos metodológicos dentro de uma didática de tendência tradicional, pois consistia na realização de exposição de conteúdos e aplicação de exercícios repetidos. De acordo com Gomes e Rodrigues (2014, p.59-60) que essa prática no ensino de matemática acaba “[...] proporcionando ao aluno a capacidade de resolver exercícios e determinados problemas-padrão, porém no sentido mais mecânico e repetitivo”. O PM3 afirma ainda que a escola não dispunha de nenhuma proposta de ensino específica voltada para a disciplina de matemática e que o MEC deveria oferecer um livro didático que subsidiasse o trabalho do professor de matemática no processo de escolarização dos alunos com deficiência intelectual. O PM2 enfatizou que realizava seu planejamento em casa e que nos encontros pedagógicos, que ocorriam uma vez na semana, eram discutidos os conteúdos com os professores de matemática e demais professores, que as atividades eram definidas a partir das dificuldades dos alunos com deficiência. Observou-se que havia contradição na fala do PM2, pois ele afirmou que não dava sugestões aos professores de apoio permanente e nem aos professores da sala de recursos multifuncionais para elaboração de materiais didático-pedagógicos, os quais poderiam ser utilizados pelos alunos com caracterizados com deficiência
- 21. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 1 12 intelectual em seu processo de escolarização. Vale destacar, que em relação aos profissionais de apoio específico, a denominação utilizada,éotermo“professordeapoiopermanente”,utilizadonasescolas estaduais de Boa Vista-Roraima, enquanto em outras instituições educacionais utiliza- se comumente o termo cuidador. Nesta perspectiva, destaca-se aqui a Resolução do Conselho Estadual de Educação de Roraima, nº 07 de 2009, de 14 de abril de 2009, que dispõe sobre as diretrizes para a Educação Especial no Sistema Estadual de Educação de Roraima e dá outras providências. A Resolução destaca e esclarece acerca deste profissional da Educação Especial em Roraima, pois deixa claro em seu art. 32 que “Quando necessário, será admitida a presença de 02 (dois) professores na mesma sala de aula para atuar no desenvolvimento das atividades da turma [...]” (RORAIMA, 2009).AResolução enfatiza ainda que: Art. 40 Ao organizar a educação especial na perspectiva da educação inclusiva caberá ao Sistema Estadual de Educação de Roraima disponibilizar as funções de instrutor, tradutor/intérprete de Libras, e guia-intérprete, bem como de monitor ou cuidador dos alunos com necessidade de apoio nas atividades de higiene, alimentação, locomoção, entre outras que exijam auxílio constante no cotidiano escolar (RORAIMA, 2009). Diante disto, apresentamos a seguinte reflexão: de que o forma PM2 desenvolvia seu trabalho mediante as necessidades dos alunos se não havia um trabalho articulado com os professores de apoio permanente e com o professor da sala de recursos multifuncionais? Já o PM3 deixou claro que a inexistência de uma articulação: “eu trabalho do meu modo, separadamente. Durante os quatro anos que trabalho na escola não houve ainda um trabalho articulado com professor de apoio permanente e sala de recursos multifuncionais”. O PM1 afirma “[…] não dou sugestões aos professores de apoio permanente e da sala de recursos multifuncionais para produção de materiais pedagógicos”. No entanto, oriento a professora de apoio do 8° ano, quando ela me pergunta “o que dá para trabalhar desse conteúdo com o aluno com deficiência intelectual?”. De acordo com os professores PM1 e PM3, as atividades realizadas com os alunos com deficiência intelectual eram diferentes dos conteúdos trabalhados em sala de aula, sendo, segundo eles, de responsabilidade dos professores de apoio permanente, uma vez que eles enfatizavam que já tinham obrigações com os demais alunos. Em nosso entendimento, a prática do professor de matemática da Educação do Campo precisa ser realizada de forma planejada, compromissada e contextualizada com a realidade, os interesses e as necessidades dos alunos com deficiência intelectual. Nesta perspectiva, os professores foram indagados sobre qual é o seu papel diante da escolarização dos alunos com deficiência.
- 22. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 1 13 Para o PM3, “[...] o papel do professor de matemática diante da escolarização dos alunos com deficiência intelectual é permitir a inserção do aluno na sala de aula, permitir que o mesmo observe, interaja com a turma.”. O PM2 afirmou: “O meu papel é apoiar os alunos em suas dificuldades, e a partir daí ver se eles aprendem alguma coisa”. Já o PM1 ao ser questionado sobre seu papel diante da escolarização dos alunos exclamou: “Nossa! Qual é o meu papel diante da escolarização dos alunos? Que pergunta difícil essa!”. Porém, logo em seguida, destacou que em alguns casos, em que os alunos não podem desenvolver-se totalmente, “[...] o papel do professor é permitir a socialização, de ensinar ele a conviver com os demais, a se comportar, a compartilhar os sentimentos, a receber os demais colegas”. No entanto, concorda-se com Saviani (2012, p. 14) quando ele afirma que “[...] o conteúdo fundamental da escola elementar é ler, escrever, contar, os rudimentos das ciências naturais e das ciências sociais (história e geografia)”. Portanto, o papel do professor diante do processo de escolarização dos alunos, em especial os caracterizados com deficiência é propiciar a eles a apropriação do conhecimento mediante um currículo que contemple a realidade social dos estudantes. Diante do exposto, concorda-se com Saviani (2012, p.126) quando o mesmo ressalta que “[...] Sem isso nós enfrentamos obstáculos que acabam impedindo que a educação produza os frutos que dela se esperam”. Neste sentido, entende-se que a realidade das escolas estaduais da Educação do Campo do município de Boa Vista- RR não oferecia aos professores condições de trabalho para a práxis, para a efetiva escolarização dos alunos com deficiência intelectual. 8 | CONCLUSÃO O estudo objetivou conhecer a concepção dos professores de matemática da Educação do Campo sobre a escolarização dos alunos caracterizados com deficiência intelectual. Analisamos os seguintes aspectos: acessibilidade e recursos; ação pedagógica dos professores e a formação específica dos professores de matemática para o enfrentamento dos desafios que esta escolarização oferece. A pesquisa mostrou que os três professores entrevistados são formados na área de matemática, fator este que poderia oportunizar aos alunos um ensino com teor mais científico, significativo, uma vez que eles tinham formação e conhecimento na área em que estavam atuando. Apesar dessa formação, entretanto, observa-se uma manutenção de práticas em perspectiva bastante tradicional e pautada exclusivamente no livro didático, para o conjunto dos alunos. No que tange à Educação Especial, nenhum deles tinham formação na área, tão pouco participaram de curso nos últimos três anos. Outro ponto a ser destacado era que os planejamentos dos professores de
- 23. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 1 14 matemática eram feitos a partir do livro didático, considerando ser este um dos poucos recursos que as escolas disponibilizavam. Foi destacado por um dos professores que o MEC deveria ter uma proposta para subsidiar o trabalho pedagógico do professor de matemática no processo de escolarização dos alunos com deficiência, que deveria ter um livro direcionado a estes alunos, pois isso facilitaria a ação pedagógica do professor que tem em sua sala de aula um aluno caracterizado com deficiência. Entendemos que esta fala, evidencia o pouco conhecimento dos docentes em relação a escolarização de estudantes com deficiência na rede regular de ensino. A realidade das escolas da Educação do Campo no município de Boa Vista- RR, não disponibilizavam de estrutura arquitetônica e de comunicação para o acesso, a permanência e a aprendizagem dos alunos; não contavam com equipamentos, mobiliários e materiais didáticos pedagógicos; o planejamento e a prática docente ocorriam de forma isolada, pois os conteúdos apresentados aos estudantes caracterizados com deficiência não eram os dos temas trabalhados em sala de aula com os demais estudantes. Além disso, a falta de condições de trabalho e a fragilidade do serviço de apoio permanente também refletia na ação pedagógica dos professores de matemática, o que acarretava na não efetivação do atendimento aos direitos dos alunos com deficiência intelectual da Educação do Campo no município de Boa Vista-RR. Acredita-se que para que haja a efetivação da escolarização dos alunos com caracterizados deficiência intelectual nas aulas de matemática das escolas municipais da Educação do Campo do município de Boa Vista-RR, faz-se necessário que as escolas tenham acessibilidade urbanística, de comunicação e de transporte; que os professores tenham formação não apenas no componente curricular em que atuam, mas necessariamente na área de Educação Especial, preferencialmente de maneira contextualizada à escola e aos estudantes nela matriculados e por fim, que tenham condições materiais para a sua ação pedagógica. REFERÊNCIAS AAIDD – American Association on Intellectual and Developmental Disabilties. Intellectual disabilibity: definition, classification, and systems of supports. Washington, DC: AAIDD, 2010. BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria da Educação Básica. Fundamentos pedagógicos e estrutura geral da BNCC. Brasília, DF, 2017. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/index. php?option=com_docman&view=download&alias=56621 bnccapresentacao-fundamentos- pedagogicos-estrutura-pdf&category_slug=janeiro-2017-pdf&Itemid=30192>.Acesso em: jan. 2017. _______. Ministério da Educação. Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Brasília: MEC, 2008 a. Disponível em: http://www.mec.gov.br Acesso em: 02 ago.2016 _______ Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília/DF: Senado, 1988. _______, Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Lei de Diretrizes e Bases da Educação
- 24. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 1 15 Nacional. Diário Oficial da União, Brasília; DF, 24 dez. 1996. Disponível em http://www.famasul.edu. br/2015/arquivos_pdf/106.pdf, acesso em 29 de Ago.de 2016. BRITO J.de CAMPOS, J. A. P. P. O ensino da matemática a um aluno com deficiência intelectual: algumas reflexões. XVI ENDIPE - Encontro Nacional de Didática e Práticas de Ensino - UNICAMP - Campinas – 2012. CALDART, R. S. Por uma Educação do Campo: traços de uma identidade em construção. In: KOLLING, Jorge Edgar; CERIOLI, Paulo Ricardo; CALDART, Roseli Salete. Educação do Campo: identidade e políticas públicas. Brasília: DF, 2002. CERCONI, F. B. M.; MARTINS, M. A. Recursos tecnológicos no ensino de matemática: considerações sobre três modalidades. In: SIMPÓSIO NACIONAL DE ENSINO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - 4, 2014, Ponta Grossa. Anais... Ponta Grossa. 2014. Disponível em: <http://sinect. com.br/anais2014/ anais2014/artigos/ensino-de-matemática/01409358155.pdf>. Acesso em 13 mar 2018. CRUZ, J. Z. da S.; SZYMANSKI, M. L. S. Ensino da matemática nas escolas do campo de Cascavel: articulação entre matemática e cotidiano discente . 36ª Reunião Nacional da ANPEd – 29 de setembro a 02 de outubro de 2013, Goiânia-GO. DIAS, S.S.; OLIVERIA, M. C. S. L. Deficiência intelectual na perspectiva histórico-cultural: Contribuições ao estudo do desenvolvimento do adulto. Revista Brasileira de Educação Especial, Marília, v.19, n.2, p.169-182, 2013. FERNANDES, B. M.; CERIOLI. P. R.; CALDART, R. S. Primeira Conferência Nacional “Por uma Educação Básica do Campo”. In: ARROYO, M. G.; CALDART, R. S.; MOLINA, M. C. (Orgs.). Por uma Educação do Campo. Petrópolis: Vozes, 2004. p. 19-64. GASPARIN, J.L. Uma didática para a Pedagogia Histórico Critica. 3ed. Campinas, São Paulo: Autores Associados, 2012. GOMES, T. A.; RODRIGUES, C. K. A evolução das tendências da educação matemática e o enfoque da história da matemática no ensino. Revista de Educação, Ciências e Matemática, v.4 n.3 set/dez 2014. Disponível em: <http://publicacoes.unigranrio.edu.br/index.php/recm/article/ viewFile/2687/1264>. Acesso em 16 jan. 2018. MARCOCCIA, P. C. P. Escolas públicas do campo: Indagação sobre a Educação Especial na Perspectiva da Inclusão Educacional. Dissertação (Mestrado em Educação). Universidade de Tuiuti, Curitiba, 2011. MOREIRA, G. E.; MANRIQUE, A. L. Que representações professores que ensinam matemática possuem sobre o fenômeno da deficiência? 36ª Reunião Nacional da ANPEd – 29 de setembro a 02 de outubro de 2013, Goiânia-GO NOZU, W. C.S; BRUNO, M. M. G. Interface Educação Especial – Educação do Campo: tempos, espaços e sujeitos. GT15 - Educação Especial – Trabalho 575. São Luiz do Maranhão, 2017. Disponível em: http://38reuniao.anped.org.br/programacao/210?field_prog_gt_target_id_ entityreference_filter=27. Acesso em 20/10/2017. PALMA, D. T. e CARNEIRO, R. U. C.. O Olhar Social da Deficiência Intelectual em Escolas do Campo a Partir dos Conceitos de Identidade e de Diferença. Revista Brasileira de Educação Especial., Marília, v.24, n.2, p.161-172, Abr.-Jun. 2018, Disponível em http://www.scielo.br/pdf/rbee/ v24n2/1413-6538-rbee-24-02-0161.pdf, acesso em 25 de jun. 2018. RORAIMA. Conselho Estadual de Educação. Resolução n. 7, de 14 de abril de 2009. Dispõe sobre as Diretrizes para a Educação Especial no Sistema Estadual de Educação de Roraima, e dá outras providências. Diário Oficial do Estado de Roraima, Boa Vista, 7 maios 2009. p. 9.
- 25. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 1 16 SAVIANI, D. Pedagogia histórico-crítica: Primeiras aproximações. 11ed, Campinas: Autores Associados, 2012. TRIVINOS, A. N. S. Introdução à pesquisa nas ciências sociais. 1ed. -21. reimpr.- São Paulo: Atlas, 2012. TURATO, E. Tratado da metodologia da pesquisa clínico-qualitativa: construção técnico- epistemológica, discussão comparada e aplicação nas áreas da saúde e humanas. Petrópolis: Vozes, p. 351-94, 2003
- 26. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 2 17 A EDUCAÇÃO FÍSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: A IMPORTÂNCIA DO “MOVIMENTAR-SE” CAPÍTULO 2 doi Lady Ádria Monteiro dos Santos Universidade Federal do Amazonas - Instituto de Ciências Sociais, Educação e Zootecnia – ICSEZ. Gerleison Ribeiro Barros Universidade Federal do Amazonas - Instituto de Ciências Sociais, Educação e Zootecnia – ICSEZ. RESUMO: O objetivo do presente relato foi investigar a falta do “movimentar-se” das crianças de um Centro Educacional Infantil, realizada por conta da disciplina Estágio Supervisionado I do Curso de Licenciatura Plena em Educação Física da Universidade Federal do Amazonas, que ocorreu em um Centro Educacional Infantil no município de Parintins- AM, que atende crianças entre as faixas etárias de 03 e 06 anos de idade. Observou- se que os alunos permaneciam na maioria do período que estavam na escola, obrigatoriamente sentados, pelo fato de sempre estarem em sala de aula, durante toda a semana, apenas saindo de suas salas de aula nos dias de quinta- feira quando ocorria por um breve período de tempo, o que a escola chama de momento cívico, devendo prioritariamente permanecer, podendo- se afirmar, obrigatoriamente sentadas. Fora isso, as atividades se restringiam às próprias salas de aula, inclusive o recreio. Em suma, percebeu- se que não havia professor de Educação Física na escola e, efetivamente, o que se deu por perceber que existia certa opressão quando as crianças iniciam uma tentativa de brincar livremente, de movimentar-se, pois logo recebiam a ordem de retornarem aos seus lugares, de ficarem quietas, de fazerem silêncio. Com isso, fica também evidente a responsabilidade da escola em envidar todos os esforços necessários para dotarem no seu quadro de funcionários, um professor de Educação Física, ou seja, um profissional devidamente habilitado para proporcionar o movimento com direta intencionalidade, que atenta o que as diretrizes da educação (física) infantil não simplesmente movimentar por movimentar. PALAVRAS-CHAVE: Educação Infantil, Movimentar-se, Educação Física. ABSTRACT: The objective of the present report was to investigate the lack of "movement" of the children of a Children's Educational Center, carried out by the subject Supervised Stage I of the Full Degree Course in Physical Education of the Federal University of Amazonas, which occurred in a Center Educational Child in the municipality of Parintins-AM, which serves children between the ages of 03 and 06 years of age. It was observed that the students remained in the majority of the period they were in school,
- 27. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 2 18 obligatorily seated, because they were always in the classroom, all week, just leaving their classrooms on Thursday when it happened a short period of time, which the school calls a civic moment, and should, as a matter of priority, remain, and it may be affirmed that they must sit down. Other than that, the activities were restricted to the classrooms themselves, including recreation. In short, it was noticed that there was no physical education teacher in the school and, indeed, what happened to realize that there was certain oppression when the children began an attempt to play freely, to move, because soon they received the order of to return to their places, to be still, to be silent. With this, it is also evident the responsibility of the school to make all the necessary efforts to equip a staff of Physical Education, in a professional duly qualified to provide the movement with direct intentionality, which (physical) education guidelines do not simply move by moving. KEYWORDS: Child Education, Movement, Physical Education. 1 | INTRODUÇÃO A Educação é direito público subjetivo de cada cidadão, fundamental a vida das pessoas, alcançando a sociedade em todos os âmbitos, visando à expansão dos horizontes pessoais e, consequentemente, sociais. Ao mesmo tempo, ela pode favorecer o desenvolvimento de um espectro mais participativo, crítica e reflexiva dos grupos em suas decisões referentes a assuntos que lhes dizem respeito, se essa for a sua finalidade conforme estabelecido na Constituição de 1988. (FERRARO, 2008). A Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) compreende três níveis de ensino: a Educação Infantil, o Ensino Fundamental e o Ensino Médio, esse regulamentando, introduziu uma série de inovações em relação à Educação Básica, dentre as quais, a integração das creches nos sistemas de ensino compondo, junto com as pré-escolas, a primeira etapa da Educação Básica (BRASIL, 1996). Essa lei evidencia o estímulo à autonomia das unidades educacionais na organização flexível de seu currículo e a pluralidade de métodos pedagógicos, desde que assegurem aprendizagem, e reafirmou os artigos da Constituição Federal acerca do atendimento gratuito em creches e pré-escolas (BRASIL, 2013). A edificação da identidade das creches e pré-escolas a partir do século XIX no Brasil implanta no contexto da história das políticas de atendimento à infância, caracterizado por distinções em relação à classe social das crianças. Mas não era bem assim que tudo ocorria, para as mais pobres essa história foi caracterizada pela vinculação aos órgãos de assistência social, para as crianças das classes mais abastadas, outro modelo se desenvolveu no diálogo com práticas escolares (BRASIL, 2013). A Educação Infantil é um direito humano e social de todas as crianças até seis anos de idade, sem distinção decorrente de origem geográfica, caracteres do fenótipo (cor da pele, traços de rosto e cabelo), da etnia, nacionalidade, sexo, de deficiência física ou mental, nível socioeconômico ou classe social, atendendo crianças de zero
- 28. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 2 19 a três anos na creche e de quatro e cinco anos na pré-escola e tem como intuito o desenvolvimento integral da criança em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade (BRASIL, 1996). Segundo os PCN’s o movimentar-se na Educação é um dos fundamentos da Educação Física, na Educação Infantil não é diferente, considerados fundamentais as atividades culturais de movimento com finalidades de lazer, expressão de sentimentos, afetos e emoções, e com possibilidades de promoção, recuperação e manutenção da saúde (BRASIL, 1997). O objeto de estudo no presente artigo, no qual refere- se às experiências observadas e vividas durante o estagiário da Universidade Federal do Amazonas- UFAM em um Centro Educacional Infantil no município de Parintins-AM, onde pôde- se conviver durante o estágio supervisionado I, disciplina do Curso de Licenciatura Plena em Educação Física por mais de cem (100) horas com crianças de faixas etárias de 03 e 06 anos de idade. De certa forma, apareceram diversos outros temas ali observados, porém o que chamou mais atenção foi algo de grande importância para este grupo etário. Então, isso causou inquietação pelo fato de o tema movimento fazer parte da área de estudos da Educação Física e a importância que se tem em diversos aspectos para o desenvolvimento do ser humano (CAVALARO; MULLER, 2009). O trabalho com movimento contempla a multiplicidade de funções e manifestações do ato motor, propiciando um amplo desenvolvimento de aspectos específicos da motricidade das crianças, abrangendo uma reflexão acerca das posturas corporais implicadas nas atividades cotidianas, bem como atividades voltadas para a ampliação da cultura corporal de cada criança (BRASIL, 1998, p. 15). A escola infantil é um lugar de descobertas, pois podem demonstrar as experiências individuais, culturais, sociais e educativas, por meio da inserção da criança em ambientes diferentes do da família. “O atendimento à primeira infância diz respeito a um processo complexo. Ele envolve diferentes políticas e setores governamentais e não governamentais, tais como educação, saúde e nutrição, assistência social e proteção da criança” (NUNES; CORSINO; DIDONET, 2011, p. 7). Para Brasil (1998) refere que a extensão da educação infantil no país e no mundo tem sucedido de forma bastante crescente, seguindo, por exemplo, da intensificação da urbanização, a participação da mulher no mercado de trabalho e as alterações na organização e estruturadas famílias. Os autores ressaltam que uma das consequências de integrar o atendimento da primeira infância ao setor educacional é a afirmação da educação infantil como um dever de Estado para com o direito das crianças a uma educação pública e de qualidade. Este processo efetiva o reconhecimento da criança como cidadã de direito e de fato, como sujeito sócio- histórico e cultural, cujo desenvolvimento se dá de forma integral nos aspectos físicos, emocionais e cognitivos (NUNES; CORSINO; DIDONET, 2011, p. 8).
- 29. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 2 20 A origem da palavra skholé, vem do grego, no qual se origina “escola”, mesmo autor diz que há muitos que confundem escola com educação, quando na verdade a própria educação conduz o indivíduo, desde criança, tornando- o humano, forma- se humano e ser humano e afirma que, pode criar obstáculos para alguém (CORTELLA, 2015). A escola torna- se um espaço na busca de novos horizontes, integrado ao desenvolvimento da criança, seu mundo, sua subjetividade, com os contextos sociais e culturais que a envolvem através das inúmeras experiências que ela deve ter a oportunidade e estímulo de vivenciar no momento de sua formação. Nas instituições de educação infantil a educação sobrevém podendo se afirmar em todos os momentos, não existindo momento sistematizado para a prática educativa e não se educa uma criança pequena sem os cuidados que ela necessita para se desenvolver plenamente, nesse caso aí o papel da Educação Física (CASSIMIRO, 2011). 2 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSCA NA EDUCAÇÃO INFANTIL Compreende- se que a Educação Física tem um papel preponderante na Educação Infantil e é por intermédio do professor essa ação diretamente na aprendizagem da criança com estratégias de ensino- aprendizagem e, sendo através do brincar que conseguirá alcançar a criança se desenvolva, pois “[...] é nessa fase que se necessita proporcionar às crianças o maior número possível de experiências diversas, oportunizando o desenvolvimento da sua integralidade” (D’AVILA, 2016, p. 5). “Quanto à educação física, esta estuda o ‘movimento’ nos seus aspectos: fisiológico, psicológico, cultural, social, biológico, educacional, desenvolvimentista, dentre outros” (CAVALARO; MULLER, 2009, p. 245). Com isso a possibilidade de proporcionar uma gama enorme de experiências por meio de situações nas quais elas possam altercar, criar, inventar, descobrir movimentos novos, reelaborar conceitos e ideias sobre o movimento e suas ações. A educação física na educação infantil é um fenômeno relativamente novo e, em grande medida, traduz importantes desafios para os docentes dessa área uma vez que, em sua maioria, não receberam formação que possibilitasse compreender a criança e seu processo de desenvolvimento. Associado a isso, embora não seja uma regra, muitas escolas de educação infantil encontram-se defasadas em termos de planejamento e direção pedagógica. Coloca-se, assim, o desafio de reflexão sobre este tema, objetivando a qualificação da ação educativa escolar no âmbito da relação educação física e educação infantil (BARETTA, 2012, p. 4). Partindo dessa visão, o objetivo é contribuir para com a escola observada e com a comunidade científica apresentando as experiências por vivenciadas na Educação Infantil, [...] comunidade e escola, compete então trabalhar em conjunto sendo aluno, professor, escola e família, favorecendo assim o aprimoramento, do conhecimento, do saber (MALTA, 2012, p. 9). Fundamentadas na importância do movimento humano e apresentar os benefícios que a cultura do movimento pode trazer nesse período de
- 30. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 2 21 vida da criança e em todo o seu processo de formação, levando em consideração que o movimentar-se é importantíssimo na dimensão do desenvolvimento e da cultura humana (BRASIL, 1998). Mostrar que a escola é um espaço para que, através de situações de experiências com o corpo, com materiais e de interação social, os pequenos que começam cedo esse convívio e têm mais facilidade para entender e se colocar no lugar do outro, criando um sentimento de empatia. “Nessa perspectiva, as crianças são consideradas seres sociais mergulhados, desde cedo, em uma rede social já constituída e que, por meio do desenvolvimento da comunicação e da linguagem, constroem modos peculiares de apreensão do real” (SANTOS; SILVA, 2016, p. 134). Elas descubram seus próprios limites, enfrentem desafios, conheçam e valorizem o próprio corpo, “[...] é necessário que o professor trabalhe com seus alunos de tal maneira que estes transformem dados e informações em conhecimentos que se tornarão significativos para eles” (AMATO, 2011, p. 9) relacionem-se com outras pessoas, expressem sentimentos, fazendo uso da linguagem corporal, desenvolvam sua capacidade de se localizar no espaço e no tempo, e outras situações importantes ao desenvolvimento de suas capacidades intelectuais e afetivas, numa perspectiva. 3 | A DESCOBERTA DO JOGO ATRAVÉS DA BRINCADEIRA A brincadeira é a vida da criança, pode se afirmar que a brincadeira é uma forma gostosa para ela movimentar-se e ser independente e a Educação Física pode contribuir para essa efetivação. “Pode-se dizer que as brincadeiras e os jogos são as principais atividades físicas da criança; além de propiciar o desenvolvimento físico e intelectual, promove saúde e maior compreensão do esquema corporal” (SILVA, 2016, p. 6), através de um programa na Educação Infantil, comprometido com os processos intencionais de desenvolvimento da criança e com a formação de sujeitos autônomos, a brincadeira aparece neste caso como um meio facilitador desse desenvolvimento, pois é por meio dela que a criança chegará a novas descobertas. Brincadeira é aquilo que apodamos tecnicamente do lúdico, ou seja, brincar é alusivo de claramente de inteligência e é uma coisa séria (CORTELLA, 2015). Brincando, a criança desenvolve os sentidos, adquirindo habilidades para usar as mãos e o corpo, adotando objetos e suas características, textura, forma, tamanho, cor e som. É brincando que ela entra em contato com o ambiente, relaciona-se com o outro, desenvolve o físico, a mente, a autoestima, a afetividade, tornando-se ativa e curiosa. A brincadeira e o jogo permitem compreender as crianças em suas diferentes singularidades. Tornar o jogo como atividade central nas aulas de Educação Física na Educação Infantil é uma forma de assumir outra racionalidade para esse espaço e tempo, que associa interesses e necessidades, representando as características próprias do ser criança e favorecendo o desenvolvimento de diversas linguagens presentes na escola (MELO et al., 2014, p. 477).
- 31. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 2 22 Segundo Paula (1996) diz que o jogo pode parecer para diversas pessoas consideravelmente algo descartável ou podendo- se dizer até supérfluo para a perpetuação da vida, mas no caso da criança, isso é um fator essencial, pois ela aprende a organizar- se da sua maneira, taxando suas próprias regras ali vivenciadas na descoberta do jogo através do brincar. “A capacidade de brincar abre um espaço de decifração de enigmas, além de propiciar o conhecimento de forma natural e agradável, como meio de estimular a socialização, possibilitando à criança agir de forma mais autônoma” (BUENO, 2010, p. 9). As crianças necessitam brincar, independente de suas condições físicas, intelectuais ou sociais, pois é algo se torna é essencial a sua vida. O brincar aformoseia e as motiva, juntando-as e dando-lhes oportunidades, de ficar feliz, trocar conhecimentos, ajudarem-se reciprocamente, as que enxergam e as que não enxergam as que escutam muito bem e aquelas que não escutam as que correm muito depressa e as que não podem correr (SIAULYS, 2005). 4 | JOGOS E BRINCADEIRAS INSERIDOS NA EDUCAÇÃO (FÍSICA) INFANTIL Os jogos e as brincadeiras sempre foram parte integrante das aulas de Educação Física, pois proporcionam uma vivencia motora de forma saudável, difundindo a cultura popular nas escolas, pois os jogos tradicionais são deparados em diferentes culturas, fazendo parte da vida de diferentes crianças que, brincam nas ruas, praças, parques, inclusive na hora do intervalo das escolas ou até mesmo dentro de casa. Na experiência lúdica a criança cultiva a felicidade, vivencia ações baseadas nos valores, fraternidade, amizade e respeito, e desenvolve uma cultura crítica, criativa e solidária. É desejado que o Educador reconheça a essência da felicidade na educação, gerando uma aprendizagem significativa baseada no ensino por competências (SILVA, 2015, p. 7). Levando em consideração, permitir à vivência de distantes práticas corporais, de forma lúdica e prazerosa, permitindo à expressão, a criatividade, a autodescoberta, a promoção social e consequentemente o sentimento de pertencimento, estabelece em mais objetivo fundamental no processo de ensino- aprendizagem na área da Educação Física (GONÇALVES, 2009). Finalizando com propostas a serem analisadas pela escola em questão, na esperança de que este estudo possa dar subsídios de como a Educação Física através do movimentar-se humano pode contribuir para o desenvolvimento da criança na Educação Infantil, bem como esclarecer o papel ao professor formado em educação física em relação ao formado em pedagogia. Após o exposto a problemática foi: por que as crianças deste Centro Educacional Infantil não se movimentam?
- 32. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 2 23 5 | MATERIAIS E MÉTODOS O estágio foi realizado no ano de 2013 em Centro Educacional Infantil no município de Parintins- AM. O método utilizado para o desenvolvimento deste trabalho baseou-se nos relatos de experiências dos estagiários no decorrer do estágio, onde foram realizados observações, acompanhamentos e regências no Centro Educacional Infantil, além de entrevistas feitas junto aos professores supervisores e revisão de literatura abordando o assunto. “[...] a escolha de determinada metodologia requer a aproximação com o objeto de estudo, excluindo-se a ideia de superioridade de um determinado método ou abordagem” (ANDRADE, 2010, p. 30). PIAGET (1978) diz que, o desenvolver- se da criança sucede pelo meio do lúdico, pois precisa brincar para crescer. A criança então necessita de oportunidades para que possa brincar e assim se desenvolver e edificar conhecimentos. 6 | RESULTADOS E DISCUSSÕES No primeiro contato com a escola não havia profissional de Educação Física e não existiam aulas de Educação Física, o profissional mais próximo com algum conhecimento de movimento, era apenas uma professora formada em pedagogia dos nove professores que ali trabalhavam o que levou a pensar numa maneira de propor intervenções, onde as crianças (alunos) pudessem vivenciar o movimento corporal, proporcionados por atividades físicas intencionais por meio de jogos e brincadeiras de forma lúdica, o que é recomendado para essa faixa etária. “Acriança é um ser que brinca, e ao realizar tal ação, ela desperta, por meio da curiosidade, o seu desenvolvimento pleno” (SILVA, 2015, p. 11). Foram verificados jogos que elas gostavam de brincar ou que tinham a vontade de brincar, aulas com atividades rítmicas, deixando no fundo a música e ali começavam as brincadeiras. Segundo Cória- Sabini e Lucena (2015) discorrem que a aprendizagem, olhando pelo seu sentido amplo define- se de habilidades, hábitos, atendendo a padrões de desempenhos na resposta de desafios ambientais para a criança. Wallon (1975) sistematizou suas ideias em quatro elementos básicos que se comunicam entre si: a afetividade, o movimento, a inteligência e a formação do eu. A base teórica deste autor chama a atenção para olhar a criança como um todo, um ser que é completo e não dividido por partes. Ele foi o primeiro teórico da Psicologia Genética a considerar não só o corpo da criança e tornou-se bem conhecido por seu trabalho científico sobre Psicologia do Desenvolvimento, principalmente voltados à infância, em que assume uma postura especialmente interacionista, mas também suas emoções como aspectos fundamentais para a aprendizagem, dizia que as crianças pequenas têm uma dificuldade muito grande de comunicar o que pensam de uma forma diferente do gesto. Para explicar este fenômeno. O autor que foi
- 33. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 2 24 filósofo, médico, psicólogo e político francês relata que o ato mental se desenvolve a partir do ato motor, isto é, seus gestos. Em reunião com a coordenadora pedagógica da escola, surgiu à ideia de serem ministradas as regências nos dias de quarta-feira, onde todas as crianças pudessem participar. Na verdade, foi um desafio, como já havia sido observado, as crianças não se movimentavam, as professoras exerciam um papel tipicamente opressor sobre as mesmas. Foi adotada a abordagem de jogos e brincadeiras, pois um dos problemas que foi detectado na escola foi que as crianças não tinham um tempo para “brincar”. A Educação Física é importante em todas as fases do aprendizado e na educação infantil não é diferente. “A Educação Física assume um papel extremamente significativo na Educação Infantil, pois é através do brincar que a criança explora seu corpo, interage com outros corpos e desenvolve seu crescimento cognitivo e motor” (ELISEU, 2012, p. 6). O que também foi observado era que as crianças durante o período que se encontravam na escola, não tinham um momento em que elas pudessem brincar e se movimentar de forma que interagissem com os demais alunos das outras salas, e é muito importante que esse momento aconteça no ensino infantil, como enfatiza Basei (2008, p.7): [...] a necessidade de proporcionar às crianças, na educação infantil, o maior número de experiências de movimento possível, onde elas possam adquirir formas de movimentar-se livremente, desenvolvendo sua própria relação com a cultura do movimento, experimentando os diferentes sentidos e significados do movimento, para, a partir de suas vivências, incorporá-las a seu mundo de vida. Faz se necessário o professor de Educação Física na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do a sua importância no desenvolvimento social, cognitivo e motor das crianças em fase de ampliação de conhecimentos, em que o primordial é uma variedade de experiências direcionadas de acordo com a especificidade dessa fase significativa ao longo da vida (D’AVILA, 2016). No brincar as crianças têm a oportunidade de interagir com outras crianças, é o momento em que ela pode soltar a imaginação, onde poderá criar novas formas de brincar. Segundo Sayão ([2018], p.5) “brincar de diferentes formas; construir brinquedos; brincar em diferentes espaços; utilizar objetos culturais durantes as brincadeiras alterando-os pela imaginação”, “[...] são algumas formas possíveis de inclusão das dimensões humanas no trabalho pedagógico que consideram as especificidades da infância”. Já na primeira regência ministrada foi nítida a mudança no comportamento das crianças onde pôde- se observar a alegria em estar “brincando”, se movimentando, pois era o momento em que saíam das salas de aula, saíam daquele cotidiano onde não existia, até as intervenções, um tempo para que elas pudessem construir novos conhecimentos e também sua identidade infantil.
- 34. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 2 25 O principal indicador da brincadeira, entre as crianças, é o papel que assumem enquanto brincam. Ao adotar outros papéis na brincadeira, as crianças agem frente à realidade de maneira não-literal, transferindo e substituindo suas ações cotidianas pelas ações e características do papel assumido, utilizando-se de objetos substitutos (BRASIL, 1998, p. 27). As aulas se tornaram de certa forma tão surpreendente, que as crianças esperavam ansiosas pelos dias de quartas-feiras, pois era o momento delas, onde poderiam executar os movimentos básicos exigidos nessa faixa etária (pular, correr, saltar, sentar, levantar, etc.), colocar para fora toda sua alegria e prazer de realizarem as atividades. Para Macruz e Pereira (2015) relatam que algo verdadeiro quando afirma que as crianças têm liberdade e espaço sempre encontram uma forma de brincar, pois é um caminho que alia liberdade, movimento, alegria e conhecimento, este exercício do brincar, ainda que sem saber sua funcionalidade, promovem um conhecimento essencial que lhes permitirá o exercício pleno da vida. Esse enquadre utilitarista da brincadeira na educação infantil vem sendo discutido na literatura, sendo apontadas as limitações e/ou distorções dessa concepção, entre as quais a ausência de reconhecimento do caráter auto- motivado do brincar, a crença na necessidade de orientar a brincadeira em certas direções e não em outras, e as implicações dessas concepções para a vida da criança, bem como os impactos no seu desenvolvimento futuro (LORDELO; CARVALHO, 2013, p. 18). Foiflagrantetambémamudançanocomportamentodosprofessores,noqualantes das intervenções pairava um sentimento de desconfiança, de dúvida do real motivo da existência de um professor de Educação Física. Para Kunz (2001) a importância do movimentar- se acarreta desenvolvimento na objetivação de proporcionar à criança grande melhorias para a sua trajetória escolar e em sua vida. Embora de a legislação determinar a obrigatoriedade da Educação Física na Educação Básica, não está determinado quem deve atuar com esse componente curricular. O quefazer com a linguagem corporal e a brincadeira, em alguns sistemas de ensino, acaba sendo atribuído a outros professores generalistas, com formação em pedagogia (MELO et al., 2014). A partir das intervenções, através das regências, esse sentimento foi substituído por abordagens onde solicitavam os planos de aula, faziam perguntas acerca do porquê de determinadas ações, anotavam e registravam tudo que foi feito para as crianças. “Valorizar a ludicidade nos processos de aprendizagem significativa, entre outras coisas, considerá-la na perspectiva das crianças. Para elas, apenas o que é lúdico faz sentido” (SILVA, 2015, p. 16). No decorrer das regências foi percebido o interesse da coordenadora pedagógica da escola, fato esse constatado pela sua manifestação de elaborar um projeto em parceria com a UFAM, que envolvesse as atividades lúdicas e desenvolvimento motor
- 35. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 2 26 dos alunos daquele Centro Educacional Infantil. Um fato extremamente positivo foi perceber por meio de relatos feitos pelos próprios professores e até pelos demais funcionários como, por exemplo, merendeiras, seguranças, entre outros, colaborando pela diretora da escola, que a figura do professor de Educação Física é realmente de extrema importância para o desenvolvimento global do ser humano, especificamente para as crianças, e que ela, diretora, envidará esforços junto ao município para a contratação de um professor da área. Isso foi um ponto positivo que foi conquistado naquele Centro Educacional Infantil, pois o professor de Educação Física tem pouco reconhecimento por parte dos seus pares, talvez por ignorância do que a educação Física realmente proporciona ao sujeito. 7 | CONSIDERAÇÕES FINAIS Conclui- se que é evidente e necessária a junção entre Educação Física no educandário infantil, pois as bases teóricas pesquisadas nos indicam que para a formação integral do ser, enquanto sujeito sociável, a Educação Física devidamente aplicada por uma pessoa qualificada exerce papel fundamental nesse processo. A educação do movimento humano é uma responsabilidade dos profissionais de Educação Física, pois o tema “movimento” é bloco de conteúdo da área de estudos da Educação física e temos conhecimento da sua importância, em todos os aspectos, para o ser em desenvolvimento, seja biológico e maturacional e deve ser induzida também aos pais a forma correta de aprender brincando, de educar corporalmente mediante aos procedimentos seguras, pra que não possa se formar caminhos neurais de forma inadequada nas crianças, contudo essa orientação haverá uma ampla chance de transformarem- se, no futuro, para que não se tornem em adultos com algumas limitações no gesto motor e com dificuldades para desenvolver as atividades do dia a dia, pelo fato de não terem boa orientação na infância. Compreende- se também que as prefeituras municipais possuem suas dificuldades financeiras, não sendo diferente com a do município de Parintins- AM, que conta muitas vezes somente com o que arrecadam para suprir com seus custos com a educação, com a capacitação de professores, com merenda escolar, etc., mas para se tenha uma educação de qualidade, que efetivamente proporcione as condições necessárias ao desenvolvimento global do sujeito e ainda ser referência nesse campo, se faz necessário esse tipo de investimento. E batendo na mesma tecla desde o início, é importante e fundamental a presença do professor de Educação Física nas escolas do ensino infantil. Fica, portanto, a colaboração para a escola e para a comunidade científica de que este estudo deixa clara a necessidade das crianças se movimentarem, pois é no brincar que elas aprendem o sério, é no brincar que elas constroem suas identidades,
- 36. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 2 27 é no brincar que elas estarão forjando os adultos responsáveis, autônomos, capazes de tomarem decisões e assim podendo contribuir para a formação de novas crianças. REFERÊNCIAS AMATO, A. A. G. O papel do professor de educação infantil e o processo ensino- aprendizagem de crianças inclusivas. 56 f. Monografia. (Especialização em Desenvolvimento Humano, Educação e Inclusão Escolar) - Departamento de Psicologia Escolar e do Desenvolvimento, Universidade de Brasília, Polo de Anápolis, 2011. Disponível em: <http://bdm.unb.br/bitstream/10483/3238/1/2011_ AlcioneAmorimGomesAmato.pdf>. Acesso em: 29 de jun. de 2018. ANDRADE, L. B. P. Educação infantil: discurso, legislação e práticas institucionais. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2010. (Coleção PROPG Digital - UNESP). ISBN 9788579830853. Disponível em: <http://hdl.handle.net/11449/109136>. Acesso em: 09 de jul. de 2018. BARETTA, R. Educação física na educação infantil: reflexões em torno dessa relação. 2012. 16 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Educação Infantil) - Centro de Ciências da Educação, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2012. Disponível em: <https:// repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/130518/artespedinfplcha1ed021.pdf?sequence=1>. Acesso em: 09 de jul. de 2018. BASEI, A. P. A Educação Física na Educação Infantil: a importância do movimentar-se e suas contribuições no desenvolvimento da criança. Revista Iberoamericana de Educación. v. 3. n. 47, p. 1- 12, octubre. 2008. Disponível em: <https://rieoei.org/historico/deloslectores/2563Basei.pdf>. Acesso em: 10 de abr. de 2018. BUENO, E. Jogos e brincadeiras na educação infantil: ensinando de forma lúdica. 43 f. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Pedagogia) - Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2010. Disponível em: <http://www.uel.br/ceca/pedagogia/pages/arquivos/ELIZANGELA%20BUENO. pdf>. Acesso em: 22 de jul. de 2018. BRASIL. Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica. Brasília: MEC, SEB, DICEI, 2013. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_ docman&view=download&alias=13448-diretrizes-curiculares-nacionais-2013-pdf&Itemid=30192>. Acesso em: 15 de jun. de 2018. ______. Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Nacional nº 9.394/96. Brasília: MEC/FAE, 1996. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm>. Acesso em: 10 de jun. de 2018. ______. Parâmetros Curriculares Nacionais: Educação Física. Brasília: MEC/SEF, 1997. 96 p. Disponível em: < http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro07.pdf >. Acesso em: 28 de jun. de 2018. ______. Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. Brasília: MEC/SEF, 1998. 3 v. Disponível em: < http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/rcnei_vol1.pdf> Acesso em: 10 de abr. de 2018. CASSIMIRO, G. C. S. Educação infantil: o papel da escola e da família na educação da criança de 0 a 3 anos da Escola de Educação Infantil Criança Feliz do município de Colniza- MT. 28 f. Monografia. (Especialização em Psicopedagogia com Ênfase em Inclusão Social) - Instituto Superior de Educação do Vale do Juruena, Colniza, 2011. Disponível em: < http://biblioteca.ajes.edu.br/ arquivos/monografia_20130522093554.pdf >. Acesso em: 22 de jun. de 2018. CAVALARO, A G; MULLER, V. R. Educação Física na Educação Infantil: uma realidade almejada. Revista Educar. n. 34, p. 241- 250, 2009. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/er/n34/15.pdf>.
- 37. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 2 28 Acesso em: 14 de abr. de 2018. CORTELLA, M. S. Pensar faz bem! 5ª ed. Petrópolis: Vozes, 2015. CÓRIA- SABINI, M. A; LUCENA, R. F. Jogos e brincadeira na educação infantil. Campinas, SP: Papirus, 2015, 93 p. D’AVILA, A. S. Educação física na educação infantil: o papel do professor de educação física. 86 f. Monografia. (Graduação em Educação Física) - Escola de Educação Física, Fisioterapia e Dança. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2016. Disponível em: < https://lume.ufrgs. br/bitstream/handle/10183/157203/001018202.pdf?sequence=1&isAllowed=y >. Acesso em: 30 de 06 de 2018. ELISEU, A. M. A. A importância da educação física na educação infantil do 2º e 3º ciclo na cidade de Ariquemes, Rondônia. 2012. 43 f. Monografia. (Graduação em Educação Física) - Faculdade de Educação Física, Universidade de Brasília, Pólo Ariquemes, RO, 2012. Disponível em: <http://bdm.unb.br/handle/10483/4222?mode=full> Acesso em: 10 de abr. de 2018. FERRARO, A. R. Direito à Educação no Brasil e dívida educacional: e se o povo cobrasse? Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 34, n. 2, p. 273- 289 mai.- ago. 2008. Disponível em: < http://www.scielo.br/ pdf/ep/v34n2/05.pdf >. Acesso em: 24 de jun. de 2018. KUNZ, E. Didática da educação física. 2ª ed. Ijuí: Unijuí, 2001. LORDELO, E. R; CARVALHO, A. M. A. Educação Infantil e Psicologia: para que brincar? Psicologia Ciência e Profissão, v. 23, n. 2, p. 14- 21, 2003. Disponível em: < http://www.scielo.br/pdf/pcp/v23n2/ v23n2a04.pdf >. Acesso em: 09 de jul. de 2018. MACRUZ, F; PEREIRA, V. M. Jogos e brincadeiras. São Paulo: Fundação Victor Civita, v. 5. (Coleção Classes Multisseriadas em Escolas do Campo). 2015. ISBN Coleção 978-85-88988-36-1. Disponível em: <http://fundacaotelefonica.org.br/wp-content/uploads/pdfs/jogos-e-brincadeiras.pdf>. Acesso em: 21 de jul. de 2018. MALTA, N. F. A Importância da Educação Física no Ensino Infantil na cidade de Barretos S.P. 60 f. Monografia. (Graduação em Educação Física) - Universidade de Brasília, Polo Barretos, 2012. Disponível em: < http://bdm.unb.br/bitstream/10483/5346/1/2012_NubiadeFatimaMalta.pdf >. Acesso em: 19 de jun. de 2018. MELO, A. S. et al. Educação Física na Educação Infantil: produção de saberes no cotidiano escolar. Revista Brasileira Ciências do Esporte, Florianópolis, v. 36, n. 2, p. 467-484, abr.- jun. 2014. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rbce/v36n2/0101-3289-rbce-36-02-00467.pdf>. Acesso em: 09 de jul. de 2018. NUNES, M. F. R; CORSINO, P; DIDONET, V. Educação infantil no Brasil: primeira etapa da educação básica. Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica, Fundação Orsa Brasília: UNESCO, 2011. 102 p. Disponível em: <http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002144/214418por. pdf>. Aceso em: 07 de jul. de 2018. PAULA, J. Refletindo sobre o jogo. Motriz, v. 2, n. 2, p. 86- 96, dez. 1996. Disponível em: <http://www. rc.unesp.br/ib/efisica/motriz/02n2/2n2_ART05.pdf>. Acesso em: 01 de jul. de 2018. PIAGET, J. A formação do símbolo na criança. 3ª ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1978. GONÇALVES, Maria Cristina (Org.). Educação para o lazer. v. 1. (Coleção Repensando a Educação Física). Curitiba, PR: Bolsa Nacional do Livro, 2009, 88 p. ISBN 978-85- 7832-001-0. SANTOS, S. V. S; SILVA, I. O. Crianças na educação infantil: a escola como lugar de experiência
- 38. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 2 29 social. Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 42, n. 1, p. 131-150, jan.- mar. 2016. Disponível em: < http://www.scielo.br/pdf/ep/v42n1/1517-9702-ep-42-1-0131.pdf >. Acesso em: 21 de jul. de 2018. SAYÃO, D. T. Infância, Educação Física e Educação Infantil, 2018. Disponível em: < http://escolar. universoef.com.br/container/gerenciador_de_arquivos/arquivos/273/infancia-ef-educacao.pdf>. Acesso em: 10 de abr. de 2018. SILVA, L. F. Jogos e Brincadeiras: o lúdico na educação infantil. 25 f. Trabalho de conclusão de Curso. (Graduação em Pedagogia) - Centro de Educação, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Currais Novos, 2016. Disponível em: < https://monografias.ufrn.br/jspui/ bitstream/123456789/2616/6/JogosEBrincadeirasOL%C3%BAdicoEduca%C3%A7%C3%A3oInfantil_ Artigo_2016.pdf >. Acesso em: 03 de jul. de 2018. SILVA, T. A. C. Jogos e brincadeiras na escola. 1ª ed. São Paulo: Kids Move Fitness Programs, 2015. SIAULYS, M. O. C. Brincar para todos. Brasília: ME, SEE, 2005. 152 p. Disponível em: < http://portal. mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/brincartodos.pdf >. Acesso em: 22 de jul. de 2018. WALLON, H. A importância do movimento no desenvolvimento psicológico da criança, IN: Psicologia e educação da infância. Lisboa: Ed. Estampa, 1975.
- 39. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 3 30 BIOQUÍMICA DO PÃO: VISÃO DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO SOBRE FERMENTO BIOLÓGICO E FERMENTAÇÃO CAPÍTULO 3 doi Larissa de Lima Faustino Universidade Estadual do Centro-Oeste, UNICENTRO. Guarapuava – Paraná Helen Caroline Valter Fischer Universidade Estadual do Centro-Oeste, UNICENTRO. Guarapuava – Paraná Luana Felski Leite Universidade Estadual do Centro-Oeste, UNICENTRO. Guarapuava – Paraná Flávia Ivanski Universidade Estadual do Centro-Oeste, UNICENTRO. Guarapuava – Paraná Juliana Sartori Bonini Universidade Estadual do Centro-Oeste, UNICENTRO. Guarapuava – Paraná RESUMO: Uma das ciências mais complexas e importantes é a Bioquímica que busca entender os processos biológicos e químicos que ocorrem nos organismos vivos, assim, é muito importante seu entendimento pelos estudantes. Por ser uma ciência com conceitos muito bem definidos,foradoambienteacadêmicoépossível encontrar muitos conhecimentos baseados em senso comum, conhecimento estes conhecidos como ConcepçõesAlternativas (CA). Portanto, é necessário que o professor tome conhecimento de tais concepções para que possa repensar a sua prática de acordo com as necessidades de seus alunos. Neste estudo foram realizadas atividades experimentais sob a forma de um curso experimental intitulado “Bioquímica do Pão: Princípios de Fermentação”. O curso abordou o tema princípios de fermentação, e as atividades foram aplicadas com base nos princípios de Aprendizagem Baseado em Problemas (PBL), visando identificar o nível de entendimento sobre a temática, bem como suas causas, efeitos e se estes conceitos são empregados no cotidiano destes estudantes. O instrumento utilizado para obtenção de dados foi constituído de questões abertas onde os alunos descreveramseusconceitossobrefermentação. Para o estudo foram exploradas duas questões: “o que é FERMENTO BIOLÓGICO” e “o que é FERMENTAÇÃO”. De modo geral, os resultados refletem que os alunos expressam seu entendimento acerca do tema com relatos de constatações de seu cotidiano com pouco caráter científico e raras extrapolações. Pode- se perceber que usaram as definições literais do livro didático utilizado em suas aulas de Biologia. Trabalhos futuros visam contemplar modos de vencer concepções incoerentes levantadas durante toda a pesquisa. PALAVRAS-CHAVE: Fermentação,
- 40. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 3 31 Bioquímica, Concepção alternativa. ABSTRACT: One of the most complex and important science is Biochemistry, that seeks to understand biological and chemical processes that occur in the living organisms. Therefore, this is extremely important to be understood by students. Although it is a science with very well-defined concepts, outside the academic environment it is possible to find a lot of knowledge based on common sense, known as Alternative Conceptions (AC). That way, it is necessary for the teacher become aware of such conceptions and rethink their practice according to the needs of their students. In this study, experimental activities were performed in the way of an experimental course entitled "Bread Biochemistry: Fermentation Principles". Course approached fermentation principles and activities were applied based on the principles of Problem-Based Learning (PBL), aiming to identify the level of understanding about the theme, as well as it causes, effects and if these concepts are used in daily life of these students. The instrument used to obtain data was composed by open questions, in which students described their concepts about fermentation. In this study, two questions were explored: "what is BIOLOGICAL FERMENT?" and "what is FERMENTATION?". In general, results reflect that students express their understanding about the theme with reports of definitions from their daily life, with little scientific character and rare extrapolations. We can also realize that they used literal definitions from the textbook used in their biology classes. Future works aims to contemplate ways of overcoming incoherent conceptions raised throughout this research. KEYWORDS: Fermentation, Biochemistry, Alternative Conceptions. 1 | INTRODUÇÃO ABioquímica é uma ciência complexa e muito importante que estuda os processos biológico e químicos envolvidos nos organismos vivos. O seu entendimento envolve conceitos abstratos que exigem conhecimentos científicos de duas grandes áreas – Biologia e Química. A exigência de um alto nível de abstração associada com a nomenclatura específica dificulta a compreensão destes eventos e a relação existente entre os mesmos, caracterizando como um assunto de maior dificuldade, tal como ocorre com o ensino de Química. (GOMES; MESSEDER, 2014) Segundo Gomes e Messeder (2014) a contextualização e a relação entre a teoria e a prática devem acontecer no ensino de ciências para resgatar o interesse do estudante pela disciplina. Por isso, buscar metodologias diferenciadas, torna-se necessário para melhorar o processo de ensino e aprendizagem. A área de ciências encontra-se em constante avanço, fazendo com que professores desta área se preocupem em aproximar a ciência e a tecnologia presentes no cotidiano dos alunos para a sala de aula. Os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM), na parte destinada a Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias, pontuam a relação dessa temática no contexto Ciência, Tecnologia
- 41. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 3 32 e Sociedade (CTS). dar oportunidade aos estudantes para conhecerem e se posicionarem diante desses problemas é parte necessária da função da educação básica. Por outro lado, o contexto dessa discussão constitui motivação importante para o aprendizado mais geral e abstrato. (BRASIL, 2002, p. 30) Assim, há necessidade de um ensino que acompanhe esses avanços científicos e tecnológicos, de forma que a sala de aula abra espaço para discussões que vão além do currículo escolar, preocupado não somente com a formação de conceitos por parte dos alunos, mas em oferecer ferramentas para que os mesmos tenham autonomia. Aproposta dos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM) é de um ensino por competências, em que se propõe a organização do conhecimento [...] a partir não da lógica que estrutura a ciência, mas de situações de aprendizagem que tenham sentido para o aluno, que lhe permitam adquirir um instrumental para agir em diferentes contextos e, principalmente, em situações inéditas de vida. (BRASIL, 2002, p. 36) Ausubel (1980) em sua teoria dizia que “o fator isolado mais importante que influência a aprendizagem é aquilo que o aprendiz já sabe”. Assim, pesquisas na área de educação estão se preocupando em analisar as chamadas ConcepçõesAlternativas (CA) dos alunos, com a contextualização e a relação entre teoria e prática. As representações que cada indivíduo faz das realidades que o cercam, são específicas do mesmo e são construídas ao longo de sua vida, acompanhando-o à escola, onde serão agregados os conhecimentos científicos. Ainda que consideradas vagas, pouco definidas, estáveis, resistentes a alteração, muitas vezes satisfazem os pontos de vista do indivíduo e podem se tornar empecilhos da construção de conceitos (FIGUEIRA; ROCHA, 2016). Nestatemática,faz-senecessáriodesenvolverestratégiasdidáticasqueinstiguem o aluno, levando-o de tal modo interessar-se por aprender. Umas dessas estratégias chama-se Aprendizagem Baseado em Problemas (Problem-Based Learning – PBL) que faz com que o aluno resolva problemas a partir de outros problemas e construindo assim o seu conhecimento. (RIBEIRO, 2010) Diante do exposto, o presente estudo objetivou avaliar as concepções de fermento biológico e fermentação entre estudantes do 1º ano do Ensino Médio na cidade de Guarapuava, Paraná. 2 | MATERIAIS E MÉTODOS Participaram dessa pesquisa alunos do 1° ano do Ensino Médio de uma Escola Pública da Rede de Educação Básica de Ensino de Guarapuava, Paraná, Brasil, oriundos do Colégio Estadual Padre Chagas, situado na zona urbana. A amostra total
- 42. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 3 33 foi composta de uma turma com 19 alunos, com idade entre 14 a 18 anos, sendo 14 do sexo feminino e 5 do sexo masculino. Contudo, participaram 12 alunos, os demais não tiveram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) assinado pelos pais. As atividades experimentais envolvendo o tema fermentação foram desenvolvidas sob a forma de um curso experimental intitulado “Bioquímica do Pão: Princípios de Fermentação”. O curso abordou o tema princípios de fermentação, o qual foi trabalhado baseado no método de Aprendizagem Baseado em Problemas (Problem- Based Learning – PBL). A atividade experimental foi desenvolvida durante quatro dias do mês de agosto em 2016, período de férias escolares, no Laboratório de Bioquímica, organizado pelo Laboratório de Neurociências e Comportamento e pelo Laboratório de Neuropsicofarmacologia, vinculados ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas pela Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO) e contou com a monitoria e organização de uma equipe multidisciplinar composta por alunos de graduação, pós-graduação e professores da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e da Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO). A pesquisa faz parte do projeto intitulado “Educação Científica: da Universidade à Escola – Popularização da Ciência no Município de Guarapuava, Região Centro-Sul do Paraná”, o qual foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual do Centro-Oeste, número do parecer 10.9284/2016. Após a apresentação e explicação da proposta do projeto para os alunos, os mesmos assinaram um Termo de Assentimento (TA), no qual aceitavam participar da pesquisa, assim como seus responsáveis assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE, onde autorizavam os estudantes a participarem do estudo. A Figura 1 mostra o questionário baseado da dissertação de Lima (2015) com questões abertas, utilizado para a coleta de dados, o qual foi aplicado em dois momentos antes do início das atividades do curso experimental e após uma semana da conclusão das atividades.
- 43. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 3 34 1. O que você acha que é um SER VIVO? 2. O que é MICRÓBIO? 3. O que vem na sua cabeça quando você fala ou pensa em CÉLULA? 4. O que é MICROGARNISMO? 5. Você acha que MICRÓBIO e MICRORGANISMO são a mesma coisa? Por quê? 6. Você sabe fazer pão? 7. Quais os ingredientes que você acha que são necessários para fazer pão? 8. Qual o ingrediente que você acha mais importante para fazer o pão? Por quê? 9. O que é FERMENTO? 10. O que faz o pão crescer? 11. O que é FERMENTO BIOLÓGICO? 12. O que é FERMENTO QUÍMICO? 13. O que é FERMENTAÇÃO? 14. O que é METABOLISMO? Por que isso acontece? 15. Você acha que METABOLISMO tem alguma relação com o FERMENTO e a FERMENTAÇÃO? Por quê? Justifique sua resposta. 16. Para você o que é ENERGIA? 17. Para você o que é IOGURTE? 18. O fermento é um ser vivo? Por quê? 19. O que são FUNGOS? 20. O que são BACTÉRIAS? Figura 1 – Questionário aplicado As respostas foram gravadas em vídeo, a fim de investigar sobre as concepções dos estudantes sobre fermentação, visando identificar o nível de entendimento, formação de conceitos sobre a temática, bem como suas causas e efeitos. Para este trabalho foram exploradas duas questões: Q11) “o que é FERMENTO BIOLÓGICO?” e Q13) “o que é FERMENTAÇÃO”. O presente estudo optou-se em trabalhar com a metodologia qualitativa uma vez que esta é mais indicada quando se quer apreender concepções e representações (BARDIN, 1977). Inicialmente, fez-se uma leitura exaustiva das respostas na busca de discursos comuns entre os alunos.As respostas foram separadas em partes, e estas foram sendo relacionadas na procura de identificação nos discursos, para estas partes destacadas das respostas usou-se o termo “recortes”. Os 12 alunos participantes responderam
- 44. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 3 35 às questões, assim partiu-se sempre de 12 respostas das quais foram emergindo os recortes. 3 | RESULTADOS E DISCUSSÕES As respostas foram analisadas a partir do conceito de fermentação encontrado no livro didático de Linhares e Gewandsznajder (2013), usado pelos alunos em suas aulas de Biologia no colégio, a fim de identificar proximidades e distâncias entre a definição do livro com as concepções dadas pelos alunos antes e após uma semana da intervenção do curso. Para analisar as respostas obtidas através do questionamento sobre “o que é FERMENTO BIOLÓGICO?”, o livro didático apresentava o seguinte conceito “O fermento biológico, ou de padaria, contém o fungo Saccharomyces cerevisiae vivo que, por meio da fermentação, produz o gás carbônico que faz crescer a massa do pão, além do álcool.” (LINHARES; GEWANDSZNAJDER, 2013). Na Figura 2 está a análise das repostas obtidas através da Q11, fizeram-se recortes das respostas, as quais foram agrupadas em categorias emergentes, não excludentes. Figura 2 – Categorização das respostas pré e pós teste dos alunos referentes à Q11) “o que é FERMENTO BIOLÓGICO?” Na primeira categoria referente ao pré-teste percebe-se que os alunos tratam o fermento biológico como derivado da natureza, assim o processo de fermentação por ele mediado será diferente do processo obtido com o fermento químico. O aluno sabe que o fermento biológico não é uma substância sintética. A resposta [A4]: “Eu acho que é algo mais natural, que vem da natureza”, ilustra bem as respostas deste grupo. Asegunda categoria foi a mais recorrente as respostas mostram um entendimento do fermento como ingrediente do pão ou agente causador da fermentação. Para ilustrar esta categoria apresenta-se como exemplo, [A12]: “Eu acho que o fermento biológico, é aquilo que mexe junto com a massa. Eu acho que ele faz a massa crescer mais rápido”. Com a adição do fermento biológico na mistura de farinha de trigo, água e sal,
- 45. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 3 36 formam-se a massa que resultará no pão. Durante o tempo em que a massa é deixada em repouso, as leveduras fermentam os açúcares aí existentes, produzindo, como consequência desse processo, dióxido de carbono (CO2 ), responsável pela formação de alvéolos cheios deste gás no alimento. (POSTGATE, 2002) Já na categoria “MICRORGANISMO”, nota-se que os alunos descreveram o fermento como composto de microrganismos, ademais alguns estabelecem açúcares como alimento destes, já que os alunos foram capazes de relacionar a resposta com o descrito em Linhares e Gewandsznajder (2013). Podemos observar em [A6]: “O biológico são os fungos né, que eles se alimentam de glicose”. A maioria dos produtos de panificação, principalmente pães, são fabricados usando leveduras como agentes de fermentação. As leveduras usadas são as Saccharomyces cerevisiae que, quando incorporados à massa, transformam o amido em açúcares pela ação enzimática. Os açúcares alimentam o fermento produzindo etanol e dióxido de carbono. (BORGES et al., 2013) E a categoria “NÃO SABE/NÃO RESPONDEU”, estão as respostas onde os alunos trouxeram tais alegações, em branco ou inconclusivas foram agrupadas. Analisando o pós-teste notou-se que os alunos não se distanciaram das respostas dadas no pré-teste e todos tentaram responder à questão. A primeira categoria denominada “CRESCER” os alunos trataram a fermento biológico como o ingrediente que faz o pão crescer e notou-se que após a atividade experimental o aluno soube da importância do fermento para a produção do pão. A resposta [A6]: “O que faz o pão crescer”, ilustra bem as respostas do grupo. A segunda categoria obteve-se a resposta [A1]: “é um fermento [...] tipo que não é químico”, o aluno sabe que há uma diferença entre o fermento biológico com o químico, não se delimitando a mais explicações. Na categoria “MIGRORGANISMOS” foi a mais recorrente após a aplicação da atividade didática que traz as respostas que propõem os microrganismos como componentes do fermento. Destaca-se que algumas respostas outros ingredientes presentes no pão foram tratados como alimento para os microrganismos. A resposta [A5]: “É [...] ele é composto de microrganismos que precisam de glicose pra se alimentar e daí eles crescem” ilustra as repostas desta categoria. Na Tabela 1 está a segunda questão que indagava os alunos a pensarem sobre “o que é FERMENTAÇÃO?”. Categoria N° de Recortes PRÉ N° de Recortes PÓS AÇÃO 4 6 CRESCER 4 3 NÃO SABE/NÃO RESPONDEU 6 6 Tabela 1 – Categorização das respostas pré e pós teste dos alunos referentes à Q13) “o que é FERMENTAÇÃO?”
- 46. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 3 37 A primeira categoria refere-se à fermentação como uma ação do fermento para produção de alguma coisa. A exemplo disso tem-se a resposta, [A8]: “A fermentação é a ação do fermento em alguma coisa”. Segundo o livro didático Linhares e Gewandsznajder (2013), por meio da fermentação, produz o gás carbônico que faz crescer a massa do pão, além do álcool. Por esse motivo consideramos que as concepções dos alunos se relacionam com o livro didático que aborda a relação entre fermentação e fabricação de alimentos. Após a aplicação da atividade experimental notou-se que os alunos conseguiram relacionar a fermentação com o mencionado no livro e com o visto no curso com os experimentos realizados. E ao analisar suas respostas no pós-teste essa categoria denominada “AÇÃO” foi a mais recorrente. As respostas dos alunos que foram agrupadas na categoria “CRESCER”, tratam a fermentação como o processo que faz algo crescer e consideram a fermentação como um crescimento de microrganismos que precisa de compostos e condições específicas para a realização do processo fermentativo. A resposta [A7]: “É um processo onde esses microrganismos, eles se alimentam da glicose e geram outras coisas” se aproxima com o conceito presente no livro de Linhares e Gewandsznajder (2013), onde afirma que algumas bactérias e fungos utilizam o processo para obter energia para fermentarem açúcar, produzirem álcool e gás carbônico. Por último temos a categoria “NÃO SABE/NÃO RESPONDEU”, para os dois testes onde as respostas que trouxeram tais alegações, em branco ou inconclusivas foram agrupadas. Segundo Pozo (2002), cada um aprende de acordo com a realidade que o cerca, a partir da sua própria maneira de perceber o mundo e a si mesmo, formulando o seu próprio saber. Assim, muitas das suas concepções prévias, por fazerem sentido à sua prática, são resistentes às mudanças, comprometendo a aprendizagem de conceitos científicos (POZO, 2002). Desde modo, fermentação, cujo conceito tentou-se ensinar, foram apenas memorizadas, sem que seu conceito fosse realmente compreendido e utilizado pelos alunos como instrumento do pensamento. Isto pode ser constatado no discurso [A8]: “A fermentação é a ação do fermento em alguma coisa”. 4 | CONSIDERAÇÕES FINAIS A utilização de questionários pré e pós teste, permitiu avaliar concepções prévias dos alunos.Antes da intervenção foi possível observar que muitos alunos apresentavam conceitos superficiais sobre o assunto disposto, porém não totalmente errôneos, saber utilizar então as informações fornecidas são imprescindíveis para que o aluno consiga ter um aprendizado satisfatório, minimizando as probabilidades de que os mesmos se tornem somente depositórios de informações.
- 47. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 3 38 Os resultados refletem que os alunos expressaram seu entendimento acerca da fermentação como relatos de constatações de seu cotidiano. Notou-se pouco caráter científico em seu discurso, e a fermentação não foi inteiramente compreendida pelos sujeitos. Percebeu-se raras extrapolações do conceito de fermentação, os alunos se limitaram a explicações em torno do pão, deve ser o motivo de que o tema do curso experimental tenha se limitado a fermentação do pão em si. Relativo ao fermento biológico, este é entendido pela maioria como natural, ou seja, não sintetizado, sem processos de transformação manipulados. Portanto, há muito que explorar em torno do tema, diante de sua importância. Trabalhos futuros visam contemplar modos de vencer concepções errôneas levantadas durante este estudo. REFERÊNCIAS AUSUBEL, D. P; NOVAK, J; HANESIAN, H. Psicologia educacional. Rio de Janeiro: Interamericana, 1980. BARDIN, L. Análise de Conteúdo. Lisboa: Edições 70, 1977. BORGES, J. T. S; VIDIGAL, J. G; SOUSA E SILVA, N. A; PIROZI, M. R; Paula C. D. Caracterização físico-química e sensorial de pão de forma contendo farinha mista de trigo e quinoa. Revista Brasileira de Produtos Agroindustriais, Campina Grande, v.15, n.3, p. 305-319, 2013. BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (PCNEM). Ciências da Natureza Matemática e suas Tecnologias. Brasília: MEC/SEF, 2002. FIGUEIRA, A.C. M; ROCHA, J. B. T. Concepções sobre proteínas, açúcares e gorduras: uma investigação com estudantes de Ensino Básico e Superior. Revista Ciências&Ideias, v.7, n.1, p. 23- 34, jan/mai. 2016. GOMES, L. M. J. B; MESSEDER, J. C. Fotossíntese e Respiração Aeróbica: vamos quebrar a cabeça? Proposta de jogo. Revista de Ensino de Bioquímica, v. 12, n.2, p. 91-107, 2014. LIMA, L. Atividades experimentais como ferramenta metodológica para melhoria do ensino de ciências: anos iniciais do ensino fundamental. 2015. 56 f. Dissertação de Mestrado (Mestre em Educação em Ciências) - Universidade Federal de Santa Maria, 2015. LINHARES, S. GEWANDSZNAJDER, F. Biologia hoje. Volume I. São Paulo. Ática, 2013. POSTGATE, J. Os Micróbios e o Homem. Lisboa: Editora Replicação. 2002. POZO, J. I. Aprendizes e mestres: a nova cultura da aprendizagem. Porto Alegre: Artmed, 2002. RIBEIRO, L. R. D. PBL: Uma experiência no ensino superior. São Carlos: EDUFSCar, 2010.
- 48. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 4 39 CURSOS DE HABILITAÇÃO AO MAGISTÉRIO: IMPLICAÇÕES NA FORMAÇÃO DOCENTE DE CRUZEIRO DO SUL/AC CAPÍTULO 4 doi Ana da Cruz Ferreira Universidade Federal do Acre Cruzeiro do Sul - Acre Maria Irinilda da Silva Bezerra Universidade Federal do Acre Cruzeiro do Sul – Acre Yasmin Andria Araújo Silva Universidade Federal do Acre Cruzeiro do Sul – Acre RESUMO: A Lei n. 5.692/71 promoveu a reorganização do sistema educacional a nível nacional. Em decorrência disso, as Escolas Normais foram substituídas pelo Curso de Habilitação do Magistério. No contexto desta discussão, o presente trabalho tem como objetivo analisar a formação de professores desenvolvida nos Cursos de Magistério do Instituto Santa Teresinha e da Escola Flodoardo Cabral, duas instituições do município de Cruzeiro do Sul/Ac, destacando as semelhanças e diferenças entre a formação docente desenvolvidas no âmbito privado e público. Este estudo, de caráter qualitativo, recorreu a um levantamento bibliográfico, por meio de autores como: Bezerra (2015), Saviani (2009), Vicentini; Lugli (2009) e Tanuri (2000). Realizamos ainda uma pesquisa documental, analisando planos de aula, regimentos e históricos escolares pertinentes aos cursos ora estudados. Destacamos que alguns autores utilizados no referencial teórico apontam como crítica a decadência na formação de professores decorrente da Lei 5.692 e, por conseguinte, da implantação dos cursos de Habilitação no Magistério. Isso ocorreu porque os Cursos de Magistério assumiram um caráter técnico, passando a desvalorizar a formação mais geral que era empreendida pelas escolas normais. Ainda assim, nossa pesquisa apontou para a importância destes cursos na formação profissionalizante dos professores do ensino de primeiro grau, no município de Cruzeiro do Sul. Concluímos que o Curso de Magistério do Instituto Santa Teresinha era particular, focado ao público feminino e dava ênfase ao ensino religioso, enquanto que o da Escola Flodoardo Cabral era público e de frequência mista. Contudo, ambos eram profissionalizantes e contribuíram significativamente na formação docente cruzeirense. PALAVRAS-CHAVE: Curso de Magistério, Público, Privado, Lei 5.692/71. ABSTRACT: Law no. 5.692 / 71 promoted the reorganization of the educational system at the national level. As a result, the Normal Schools were replaced by the Magisterium Enrollment Course. In the context of this discussion, the present work aims to analyze the teacher training developed in the Teaching Courses
- 49. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 4 40 of the Santa Teresinha Institute and the Flodoardo Cabral School, two institutions of the municipality of Cruzeiro do Sul / Ac, highlighting the similarities and differences between the formation private and public. This qualitative study used a bibliographical survey, using authors such as: Bezerra (2015), Saviani (2009), Vicentini; Lugli (2009) and Tanuri (2000). We also conducted a documentary research, analyzing lesson plans, regiments and school histories pertinent to the courses studied. We emphasize that some authors used in the theoretical referential point criticize the decadence in the teacher training resulting from Law 5.692 and, consequently, the implementation of the Teaching Enrollment courses. This was because the Magisterium Courses assumed a technical character, devaluing the more general formation that was undertaken by the normal schools. Nevertheless, our research pointed to the importance of these courses in the vocational training of first grade teachers in the city of Cruzeiro do Sul. We conclude that the Teaching Course of the Santa Teresinha Institute was private, focused on the female audience and emphasized religious teaching, while that of the Flodoardo Cabral School was public and of mixed frequency. However, both were professional and contributed significantly to the teaching of Cruzeirense. KEYWORDS: Teaching Course, Public, Private, Law 5.692 / 71. 1 | CONSIDERAÇÕES INICIAIS Consolidadas no Brasil no início do século XX, as Escolas Normais constituíram- se, durante o período de mais de meio século, nas principais instituições de formação de professores. A partir da década de 1960, a Escola Normal começou a tornar-se alvo de várias críticas sobre a qualidade da formação oferecida. Com a implantação do regime militar em 1964 demandou-se uma reorganização do sistema educacional a nível nacional. Foi então implementada a Lei n. 5.692 de 11 de agosto 1971, que trouxe diversas modificações para o sistema educacional brasileiro, inclusive para a formação de professores que sofria com o crescente desprestígio do ensino normal. Conforme Tanuri (2000), podemos evidenciar a desestruturação da escola normal após 1971. Bezerra também ressalta que essa nova legislação não só colaborou para o “rebaixamento da qualidade dos cursos normais e sua paulatina extinção, como ocasionou o fim dos institutos de educação, que ofereciam o ensino primário como campo de atuação para os estágios dos futuros professores”. (2015, p. 231-232). Por meio desta Lei foi criado o ensino de primeiro grau, o qual tinha a duração de oito anos e foi constituído pela junção entre o antigo ensino primário e o curso ginasial. Os cursos secundários foram reorganizados para que todos fossem profissionalizantes e passaram a ser chamados de segundo grau. Outra mudança promovida pela Lei foi a substituição das tradicionais Escolas Normais pela Habilitação Específica para o Magistério (HEM), em uma tentativa de reverter a perda de prestígio que os cursos de formação docente estavam enfrentando. Em decorrência desse quadro, a maioria dos estados brasileiros, foi fazendo a progressiva substituição das Escolas Normais pelos
- 50. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 4 41 Cursos de Habilitação do Magistério, ao longo da década de 1970. Essa substituição também alcançou o município de Cruzeiro do Sul/Ac. A Escola Normal Regional do Instituto Santa Teresinha, uma escola privada e criada pela Igreja Católica em 1947, tornou-se durante décadas o único espaço institucionalizado de formação docente da região. Porém, a década de 1970 marcou o fim da hegemonia do Ensino Normal de Cruzeiro do Sul, assim como em muitos outros estados. Nesse período, o Instituto passou a disputar espaço com o setor público, quando o governo do Acre criou a primeira escola secundária pública do município, o Colégio Comercial Professor Flodoardo Cabral. Foi neste colégio secundário que foi implementado, o primeiro Curso de Habilitação para o Magistério do município no ano de 1974. Quanto ao Instituto Santa Teresinha, sua direção optou por fazer uma transição lenta e progressiva ao longo da década de 70, de forma que no final daquela década o Curso de Habilitação para o Magistério para estava consolidado na Instituição. Nesta direção, o presente estudo tem como finalidade investigar como essas duas instituições com perfis diferentes organizaram seus cursos de formação tomando como base a Lei 5.692/71, destacando as semelhanças e diferenças entre a formação docente desenvolvida no Curso de Habilitação para o Magistério do Instituto Santa Teresinha e da Escola Flodoardo Cabral. Para que pudéssemos compreender mais acerca dessa temática realizamos uma pesquisa documental nas duas instituições, analisando planos de aula, regimentos, históricos escolares, pareceres e resoluções pertinentes aos cursos ora estudados. Para o desenvolvimento do presente estudo, nos baseamos em autores que trazem reflexões importantes sobre a temática, tais como: Amaral (2011), Bezerra (2015), Saviani (2009), e Tanuri (2000). 2 | OCURSODEHABILITAÇÃOESPECÍFICAPARAOMAGISTÉRIO:IMPLICAÇÕES NA FORMAÇÃO DOCENTE BRASILEIRA De acordo com Tanuri (2000), a Lei 5.692/71 teve o intuito de resolver os problemas da formação docente, em vista do propagado despreparo dos professores egressos das escolas normais. De acordo com o art. 29 da Lei 5.692 foi adotado pela primeira vez um sistema progressivo, integrado e flexível de formação de professores, como podemos conferir no referido trecho. a formação de professores e especialistas para o ensino de 1o e 2o graus será feita em níveis que se elevem progressivamente, ajustando-se às diferenças culturais de cada região do país e com orientação que atenda aos objetivos específicos de cada grau, às características das disciplinas, áreas de estudo e às fases de desenvolvimento dos educandos. (BRASIL, 1971, s.p.) No que se refere às sugestões sobre o currículo da Habilitação Específica para o Magistério, Tanuri (2000) e Saviani (2009) ressaltam que este deveria ser composto
- 51. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 4 42 por um núcleo comum – que envolvia uma formação mais geral e era obrigatório em todo o território brasileiro – e por uma parte diversificada que visava oferecer uma formação mais específica que atendesse as necessidades regionais. Nesse entorno, Amaral (2011) pontua que: O currículo da Habilitação Específica para o Magistério (HEM) era constituído por um núcleo comum de formação geral e uma parte de formação especial, incluindo Fundamentos da Educação, Estrutura e Funcionamento do Ensino de 1º Grau, Didática e Prática de Ensino. Refletindo a lógica da fábrica que, no modelo taylorista-fordista, estabelecia uma divisão social e técnica do trabalho marcada pela definição de fronteiras entre as ações intelectuais e instrumentais, em decorrência de relações de classe bem definidas que determinam as funções a serem exercidas por dirigentes e trabalhadores no mundo da produção, o tecnicismo no contexto escolar, resultou em processos educativos que separavam a teoria da prática (AMARAL, 2011, p.10). A Lei 5.692/71 também trouxe a possibilidade de fracionamento do curso em especializações de três ou quatro séries, o que ajudou a modificar sua estrutura curricular. Tendo em vista que passou a existir as habilitações para o magistério em: jardins-de-infância, escolas maternais, em 1ª e 2ª séries, em 3ª e 4ª séries, em 5ª e 6ª séries, entre outras, de forma que haviam conteúdos correspondentes a cada uma dessas habilitações. Na perspectiva da Lei, essas diversas habilitações visavam possibilitar que, em todo o Brasil, os docentes obtivessem pelo menos algum tipo de preparo para lecionar. Contudo, segundo Vicentini e Lugli (2009), essa flexibilidade das diversas especializações trouxe consequências negativas para a formação de professores, uma vez que todos os que eram formados nesses cursos estavam habilitados para lecionar em todas as quatro primeiras séries do 1º grau, embora os conteúdos e enfoques que estas especializações ofereciam estavam voltadas para diferentes modalidades de ensino. As técnicas de alfabetização e matemática, por exemplo, eram estudadas apenas por aqueles que se aprofundavam no ensino da 1ª e 2ª série, todavia muitos professores que não possuíam esta especialização acabavam lecionando nestas séries, o que ocasionou na atuação de profissionais sem o devido preparo. Essa questão da ênfase às disciplinas gerais ou pedagógicas envolveu muito conflito, pois no decorrer da história da educação brasileira discutiu-se bastante sobre qual tipo de disciplinas deveria ter maior destaque na formação docente. A Lei 5.692/71 procurou modificar a excessiva atenção dada pelo ensino normal aos conteúdos de cultura geral. No entanto, ao fazer isso, a Lei deu demasiada evidência aos conteúdos mais direcionados a prática pedagógica e os cursos de formação docente, acabaram priorizando o caráter mais prático da formação, em detrimento da formação geral. A formação docente foi, então, aliada à estrutura do curso de segundo grau. Com isso houve a diminuição do espaço das disciplinas específicas, pois os conteúdos eram reduzidos e tratados de forma apressada, o que implicou na decadência da
- 52. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 4 43 formação de professores. De acordo com Tanuri (2000), as escolas de formação foram perdendo o seu status de escola e até mesmo de curso, pois a formação oferecida foi reduzida à uma habilitação dispersa entre várias outras. Isso ocorreu porque os cursos de Habilitação para o Magistério assumiram um caráter técnico, passando a desvalorizar a formação mais geral que era empreendida pelas Escolas Normais, como podemos observar na citação abaixo. O foco foi transposto da autonomia do indivíduo para a adaptação à sociedade; da qualidade para a quantidade; da cultura geral para a cultura profissional. A ênfase do processo educacional estava fortemente direcionada às finalidades da educação, aos ideais e passou a priorizar os meios: metodologias, teleensino, ensino à distância e outros. Para a formação dos professores, a lei 5.692/71 minimizou a escola normal, tornando-a apenas uma habilitação profissional do ensino secundário (AMARAL, 2011, p.09). Nesse sentido, o curso de Magistério começou a ser alvo de inúmeras críticas, que enfatizavam a fragmentação do currículo, a desarticulação e empobrecimento dos conteúdos, a redução do número de matérias específicas, etc. Vicentini e Lugli, também ressaltam que nesses cursos havia: A falta de conexão entre os conteúdos das várias disciplinas, o que não permitiam aos alunos utilizar esses conteúdos em suas práticas docentes, uma vez que não compreendiam como mobilizar esses conhecimentos nas situações reais de ensino. (2009, p. 49). Assim, com o objetivo de adequar a formação docente à nova realidade educacional, o MEC (Ministério da Educação e Cultura) propôs em 1982 o projeto dos Centros de Formação e Aperfeiçoamento do Magistério (CEFAMs). Essa proposta visava oferecer melhores condições as escolas de formação de professores, para que estas pudessem formar adequadamente os professores que lecionariam nos anos iniciais do 1º grau. O projeto do CEFAM trouxe vários avanços para a qualidade de ensino, como: articulação entre as disciplinas; enriquecimento do currículo; exame seletivo para admissão no curso de formação; trabalho coletivo na execução e planejamento do currículo; criação ou recuperação de escolas de aplicação; trabalho co-participativo com o ensino pré-escolar e de 1º grau e com as universidades; remodelação dos estágios; desenvolvimento de pesquisa nas áreas de matemática e alfabetização; e funcionamento em tempo integral (TANURI, 2000, CAVALCANTI, 1994). O curso oferecido nos CEFAMs possuía uma carga horária expressivamente maior, pois além de ter a duração de quatro anos também era de período integral. Dessa forma, é possível notar que o resultado da implantação do CEFAM foi muito positivo, tendo em vista que, segundo as autoras diminuiu os índices de evasão e elevou as taxas de aprovação. Entretanto, esse projeto não pôde ser continuado devido a descontinuidade da administração do Ministério da Educação, sendo que
- 53. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 4 44 no período de 1985 a 1989, cinco ministros ocuparam o cargo, impossibilitando uma política de continuidade no projeto de formação docente Segundo Tanuri (2000), além do CEFAM, o MEC também implantou um projeto denominado de “Habilitação ao Magistério: implementação de nova organização curricular”, que foi firmado primeiramente por um convênio com o CENAFOR (Centro NacionaldeAperfeiçoamentodePessoalparaaFormaçãoProfissional)eposteriormente com a PUC/SP (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo), passando a chamar- se de “Revisão Curricular da Habilitação do Magistério: núcleo comum e disciplinas da habilitação”. Vicentini e Lugli (2009) afirmam que estes projetos tinham como objetivo reorganizar o currículo do referido curso, de maneira que houvesse um equilíbrio maior entre a parte diversificada e a comum. Essa proposta de revisão curricular não foi exclusiva da área federal, alcançando também grandes estados como São Paulo. De acordo com Tanuri (2000), um aspecto interessante é que à medida em que diversos educadores começaram a questionar o tecnicismo do currículo da Habilitação ao Magistério, que defendia o parcelamento do curso em habilitações e a exagerada divisão do trabalho escolar, aumentava-se também as discussões a respeito da função do curso de Pedagogia, fornecendo assim a base para a sua efetiva implantação. Após compreendermos minimamente como estava organizada nacionalmente os cursos de Habilitação no Magistério, nos propomos a apresentar, no tópico a seguir, nossas reflexões sobre as especificidades dos Cursos de Magistério da Escola Flodoardo Cabral e do Instituto Santa Teresinha. 3 | ENTRE O PÚBLICO E O PRIVADO: COMPARATIVO ENTRE OS CURSOS DE MAGISTÉRIO DA ESCOLA FLODOARDO CABRAL E DO INSTITUTO SANTA TERESINHA De acordo com Bezerra (2015), a criação do Curso Normal Regional, anexo ao Instituto Santa Teresinha, no ano de 1947, foi um fator decisivo para a educação acreana. Tendo em vista que esta foi a primeira iniciativa voltada para a formação docente no Vale do Juruá. Destinado somente para o público feminino, esse curso era constituído de quatro séries, onde havia ênfase aos conteúdos mais gerais e as disciplinas pedagógicas eram apresentadas apenas no último ano do curso.Além disso, havia destaque para os saberes religiosos católicos, uma vez que o Instituto Santa Teresinha foi criado pela Prelazia do Alto Juruá e dirigido pela Ordem Dominicana de Santa Maria Madalena (BEZERRA, 2015). Em 1965 foi criado o Curso Normal Colegial, o qual tinha a duração de três anos de formação e exigia o diploma de Curso Normal Ginasial para o ingresso das alunas. No que se refere ao currículo, as disciplinas de didática começavam a ser apresentadas desde a primeira série, havendo uma complementação das matérias de didáticas específicas nas séries seguintes.
- 54. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 4 45 A década de 1970 foi marcada por modificações no sistema de ensino brasileiro, promovidaspelaLein.5.692/71.Essastransformaçõestambémalcançaramaformação de professores do município de Cruzeiro do Sul/Ac, quando o Curso de Magistério foi implantado em duas instituições cruzeirenses, a Escola Flodoardo Cabral e o Instituto Santa Teresinha. A escola de ensino médio Professor Flodoardo Cabral foi criada no dia 26 de novembro do ano de 1965, denominado incialmente de Colégio Comercial Professor Flodoardo Cabral. Sua criação foi amparada pela Lei nº 44 de 22 de novembro de 1965. Visando suprir a carência de profissionais em diversas áreas, vários cursos técnicos em nível de 2º grau foram criados, sendo que em 1974 foi implantado o Curso de Magistério. Esta foi a primeira instituição pública a ofertar o referido curso, passando a disputar espaço com o Instituto Santa Teresinha, uma escola privada que, durante décadas, constituiu-se no único espaço institucionalizado de formação dos professores primários da região do Vale do Juruá. Também em decorrência das mudanças ocasionadas pela Lei 5.692/71, a Escola Normal do Instituto Santa Teresinha foi substituída pelo Curso de Magistério. Realizando um comparativo entre o Curso de Magistério da Escola Professor Flodoardo Cabral e do Instituto Santa Teresinha, foi possível observar diferenças e semelhanças entre a formação desenvolvida pelo setor público e aquela do setor privado. A primeira instituição a oferecer esse curso foi a Escola Flodoardo Cabral, que teve sua primeira turma aberta em 1974 e pertencia ao setor público. O Instituto Santa Teresinha, escola primária e secundária de caráter particular, deu início ao Curso de Magistério em 1978. Nesse mesmo ano ocorreu a elaboração de um dos Regimentos Internos do Instituto Santa Teresinha, o que corrobora para confirmar esta data como sendo o período de substituição do curso normal pelo Curso de Habilitação no Magistério. Analisamos dois Regimentos Escolares, um de 1978 e outro de 1996, os quais eram específicos para as modalidades de 1° e 2° graus do Instituto Orfanológico Santa Teresinha. De acordo com o art. 2° da versão de 1978, o Curso de Magistério atendia apenas público feminino. Entretanto, o Regimento de 1996 destaca que este curso passou a ser de frequência mista. Assim, uma das grandes diferenças entre essas instituições de formação docente está relacionada à clientela atendida, pois o Instituto atendeu durante muito tempo apenas o público feminino, enquanto que a Escola Professor Flodoardo Cabral possuía frequência mista. Além disso, outra divergência entre essas instituições de formação docente refere-se ao fato do Instituto ser privado e esta escola ser pública. Ao analisar a estrutura curricular é possível encontrar outra distinção entre os dois cursos. Na instituição privada notamos que havia ênfase no ensino religioso, o que não ocorria na pública. Segundo as estruturas curriculares de 1988 e 1992, por exemplo, haviam diversas disciplinas voltadas para o ensino católico, como: Religião, Missa, Liturgia da Missa e Metodologia do Ensino Religioso. Enquanto que na Escola
- 55. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 4 46 Professor Flodoardo Cabral havia apenas a disciplina de Ensino Religioso. Isso pode ser explicado pelo fato do Instituto Santa Teresinha ter sido criado pela Igreja Católica e, por ser uma escola confessional que tinha como objetivo formar pessoas com valores éticos e religiosos. Bezerra ressalta que a cultura do Instituto Santa Teresinha “não se firmava apenas por meio de seus conteúdos, mas, sobretudo, através dos princípios e dos valores cívicos, morais e religiosos que disseminava”. (2015, p. 264). Apesar dessas divergências, também é possível destacar algumas semelhanças entre as duas instituições. A criação de ambos os cursos aconteceu em decorrência da Lei5.692/71erefletiuemsuaprópriaorganizaçãocurricularasconcepçõeseducacionais da época da ditadura. Os dois Cursos de Habilitação para o Magistério eram cursos de nível de 2º grau que habilitavam os professores a lecionar de 1ª à 4ª séries do 1º grau. Observamos também que ambos seguiam as diretrizes nacionais acerca da formação de professores. A divisão do currículo em parte comum e diversificada foi um dos aspectos estabelecido pela Lei 5.692/71 e adotado pelas duas instituições. Ao analisar as estruturas curriculares encontradas nas duas instituições, é possível observar que as matérias de ambos os cursos eram divididas nos núcleos comum e específico. Tanto no Instituto Santa Teresinha quanto na Escola Professor Flodoardo Cabral, a parte geral era composta pelas seguintes disciplinas: Língua Portuguesa, Literatura Brasileira, Língua Estrangeira Moderna (Inglês), Matemática, Física, Química, Biologia/Programas De Saúde, História/O.S.P.B, Geografia, Educação Artística, Ensino Religioso, Educação Física e Recreação e Jogos. No que se refere à parte diversificada, notamos que existiam algumas diferenças entre os dois cursos. Na Escola Flodoardo Cabral essa parte de formação especial era constituída pelas seguintes disciplinas: Filosofia, Sociologia, Psicologia, História da Educação, Filosofia da Educação, Sociologia da Educação, Psicologia da Educação, Estrutura e Funcionamento de Ensino de 1º Grau, Didática Geral, Didática Aplicada à Língua Portuguesa e Alfabetização, Didática Aplicada à Matemática, Didática Aplicada às Ciências, Didática Aplicada aos Estudos Sociais, Estágio Supervisionado. No Instituto Santa Teresinha, a parte diversificada era composta pelas seguintes disciplinas: Filosofia, Sociologia, Filosofia da Educação, Sociologia da Educação, Literatura Infantil, Psicologia da Educação, História da Educação, Didática, Metodologia doEnsinodaLínguaPortuguesaeAlfabetização,MetodologiadoEnsinodaMatemática, Metodologia do Ensino de Ciências, Metodologia dos Estudos Sociais, Metodologia do Ensino Religioso, Matemática Instrumental, Estrutura e Funcionamento de Ensino de 1º Grau, Estágio Supervisionado. É possível observar que as matérias que eram nomeadas na escola pública de “Didática Aplicada” são identificadas, na instituição privada, como “Metodologia do Ensino”. Além disso, as disciplinas de Matemática Instrumental, Literatura Infantil, e Metodologia do Ensino Religioso estão presentes somente na estrutura curricular do Curso de Magistério do Instituto Santa Teresinha. No que diz respeito à forma como as disciplinas estavam organizadas nas três
- 56. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 4 47 séries do Curso de Magistério, ressaltamos que tanto na Escola Professor Flodoardo Cabral e quanto no Instituto Santa Teresinha as disciplinas da formação geral estavam organizadas principalmente no 1º ano do curso, enquanto que as da parte específica eram destinadas às últimas séries. Assim, na 1ª série de ambos os cursos havia ênfase nas matérias do Núcleo Comum, que envolvia os conteúdos de cultural geral. Na 2ª e 3ª séries essa situação mudava, uma vez que as disciplinas de cunho didático passavam a ter maior destaque. Essa situação de excessivo destaque dado às disciplinas didáticas, pode ser baseada na divisão feita pela Lei 5.692/71: [...] § 1º Observadas as normas de cada sistema de ensino, o currículo pleno terá uma parte de educação geral e outra de formação especial, sendo organizado de modo que: a) no ensino de primeiro grau, a parte de educação geral seja exclusiva nas séries iniciais e predominantes nas finais; b) no ensino de segundo grau, predomine a parte de formação especial. § 2º A parte de formação especial de currículo: a) terá o objetivo de sondagem de aptidões e iniciação para o trabalho, no ensino de 1º grau, e de habilitação profissional, no ensino de 2º grau; b) será fixada, quando se destina a iniciação e habilitação profissional, em consonância com as necessidades do mercado de trabalho local ou regional, à vista de levantamentos periodicamente renovados (BRASIL, 1971, p.02). Esse excessivo destaque que era dado às disciplinas de cunho didático pode ser explicado pelo caráter profissionalizante do Curso de Magistério. Observamos que ambos os cursos tinham como foco desenvolver no educando competências para atuar no mercado de trabalho. Essa formação para o trabalho foi pensada pela Lei 5.692/71, que definia como obrigatório o ensino profissionalizante em nível de 2º grau. Apesar dessa obrigatoriedade ter sido suprimida posteriormente pela Lei 7.044/82, o Parecer nº 01/83 do Conselho Estadual de Educação do Estado do Acre deixa explícito a importância de que os ensinos de 1º e 2º graus desenvolvam suas atividades visando preparar os educandos para o mercado de trabalho. O referido Parecer destaca o que deveria ser trabalhado no 2º grau para desenvolver essa questão: O trabalho da mulher: No lar; Fora do lar; Causas e consequências. O trabalho do menor: O desemprego; Causas e consequências. Conhecimento da legislação do trabalho: Estudo do Mercado de Trabalho; Mercado de Trabalho Local – Opções; Adaptação a diversos tipos de trabalho; O trabalho autônomo como outra opção; e Iniciação ao Trabalho, através da integração Escola-Empresa. (PARECER Nº 01/83, p. 03). Notamos que nesse período os cursos de formação de professores, assim como a educação em geral, estavam voltados para formar profissionais para o mercado de trabalho. Com base em outros documentos analisados, percebemos inclusive que essa preparação deveria surgir de objetivos tanto do Núcleo Comum quanto da Parte Diversificada. Visando aliar essa formação ao curso de segundo grau, as disciplinas
- 57. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 4 48 de cultura geral foram diminuídas, enquanto que os conteúdos mais direcionados à formação profissional passaram a ter mais evidência. Assim, os cursos de magistério passaram a priorizar o aspecto mais prático da atuação docente, assumindo um caráter técnico e profissionalizante. Os Cursos de Magistério da Escola Flodoardo Cabral e do Instituto Santa Teresinha eram semelhantes por possuírem um caráter profissionalizante. Tendo em vista que toda a formação priorizava os saberes e metodologias que o futuro professor deveria possuir para a sua atuação prática. 4 | CONSIDERAÇÕES FINAIS Por meio deste estudo sobre os Cursos de Habilitação Específica para o Magistério do Instituto Santa Teresinha e da Escola Flodoardo Cabral, podemos entender mais sobre as efetivas implicações da Lei 5.692/71 na formação docente, no Brasil e no município de Cruzeiro do Sul/Ac. As duas instituições, embora com perfis diferentes, seguiram as mesmas orientações legais quanto à estrutura do Curso de Magistério. A partir dos documentos analisados, compreendemos que os saberes ensinados no Curso de Magistério do Instituto Santa Teresinha refletiam as concepções educacionais da época e os próprios ideais da escola. Tendo em vista que se visava uma formação religiosa, moral, cívica e para o trabalho. Ao comparar os dois cursos é possível destacar algumas diferenças entre eles. Enquanto o Curso de Magistério da Escola Flodoardo Cabral era público e de frequência mista, o curso do Instituto Santa Teresinha era caracterizado por ser particular e focado ao público feminino. Além disso, na instituição privada havia ênfase ao ensino religioso e moral, o que não ocorria na escola pública. Ao analisarmos a organização curricular também podemos encontrar algumas semelhanças entre as duas instituições. Ambas seguiram as orientações legais ao dividir o currículo em parte comum e diversificada, podendo-se observar também a similaridade entre a maioria das disciplinas. Além disso, os cursos das duas escolas possuíam caráter profissionalizante, pois estavam voltados para formar pessoas para o mercado de trabalho e enfatizavam mais os saberes pedagógicos do que os de cultura geral. Isso era reflexo da presença marcante do tecnicismo, acentuado na época por conta do regime militar. Compreendemos, porém, que a formação de professores deve ser baseada na articulação entre teoria e prática. Os cursos de formação de professores devem equilibrar os conteúdos de cultura geral e aqueles de prática pedagógica, pois assim o futuro profissional terá uma formação mais completa. Além disso, a formação docente não deve estar baseada em um ensino mecânico e repetitivo, mas sim em um processo que instiga e auxilia o futuro professor a tornar-se reflexivo e crítico. Ressaltamos que o Instituto Santa Teresinha e a Escola Flodoardo Cabral foram,
- 58. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 4 49 durante os anos de 1970 a 2000, as únicas instituições que formavam o professor que lecionava no ensino de primeiro grau na região do Vale do Juruá. O Curso de Magistério desenvolvido por estas duas escolas permitiu que diversos professores tivessem uma formação profissionalizante para lecionarem nas salas de aula. Finalizamos afirmando que ambas as instituições trouxeram muitas contribuições para Cruzeiro do Sul, exercendo um papel essencial na transmissão dos saberes e na formação dos professores do Vale do Juruá. REFERÊNCIAS AMARAL, S. R. R. A formação de professores para a educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental: permanências e rupturas decorrentes das dinâmicas sociais e da legislação do magistério. Revista HISTEDBR On-line, Campinas, n.43, 2011. BEZERRA, M. I. da S. Tese de Doutorado. Formação docente institucionalizada na Amazônia acriana: da escola normal regional à escola normal padre Anchieta (1940-1970). Universidade Federal Fluminense, Programa de Pós-Graduação em Educação. Niterói/RJ, 2015. BRASIL. Ministério da Educação. Lei nº 5.692 de 11 de agosto de 1971 – Publicação original. Câmara dos Deputados Legislação [online]. 1971, s.p. Disponível em: http://www2.camara.leg.br/legin/ fed/lei/1970-1979/lei-5692-11-agosto-1971-357752-publicacao original-1-pl.html. SAVIANI, Dermeval. Formação de professores: aspectos históricos e teóricos do problema no contexto brasileiro. Revista Brasileira de Educação [online]. 2009, vol.14, n.40, p.143-155. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1590/S1413-24782009000100012. TANURI, L. M. História da formação de professores. Revista Brasileira de Educação [online]. 2000, n.14, p.61-88. Disponível em: https://www.google.com. br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd =1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjn-pX-oq7XAhXBjZAKHe7EB64QFggnMAA&url=http%3A%2F%2 Fwww.scie lo.br%2Fpdf%2Frbedu%2Fn14%2Fn14a05&usg=AOvVaw1_LQxwVqCeDVi8FySpAfJb. VICENTINI, P. P.; LUGLI, R. G. História da profissão docente no Brasil: representações em disputa. São Paulo: Cortez, 2009. FONTES DOCUMENTAIS: - Quadro do corpo docente em atuação no Curso de Habilitação para o Magistério, 1988. - Quadro curricular do Curso de Habilitação para o Magistério, 1992. - Parecer nº 349/72 do Conselho Federal de Educação, 1972. - Parecer nº 04/73 do Conselho Estadual de Educação do Estado do Acre, 1973. - Parecer nº 01/83 do Conselho Estadual de Educação do Estado do Acre, 1983. - Parecer nº 16/86 do Conselho Estadual de Educação do Estado do Acre, 1986. - Parecer nº 05/87 do Conselho Estadual de Educação do Estado do Acre, 1987.
- 59. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 4 50 - Regimento Interno do Instituto Orfanológico Santa Teresinha de 1º e 2º graus, 1978. - Regimento Interno do Instituto Orfanológico Santa Teresinha de 1º e 2º graus, 1996.
- 60. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 5 51 DESAFIOS NO ENSINO EXPERIMENTAL EM QUÍMICA NAS ESCOLAS ESTADUAIS DE VIANA - ESPÍRITO SANTO CAPÍTULO 5 doi Nahun Thiaghor Lippaus Pires Gonçalves Instituto Federal do Espírito Santo - IFES nahunthiaghor@gmail.com Vitória – Espírito Santo Michele Waltz Comaru Instituto Federal do Rio de Janeiro- IFRJ michele.comaru@ifrj.edu.br Mesquita – Rio de Janeiro RESUMO: Essa pesquisa foi realizada entre agosto de 2013 e março de 2016 com participação de todas as escolas estaduais do município de Viana – Espírito Santo. A proposta teve o intuito de analisar o processo de ensino-aprendizagem em Química focando na experimentação. Foi realizada análise das estruturas escolares, da articulação com o modelo didático aplicado e das perspectivas dos professores. Os resultados demonstraram que a maioria das escolas não possui estrutura adequada para aulas práticas e as que possuem utilizam corriqueiramente. A falta de material, tempo de planejamento extra, imaturidade dos alunos e o fato de que 100% dos professores eram temporários são algumas das barreiras apontadas, contudo em duas escolas foram observadas rupturas graduais dessa imagem. A análise revela que o ensino da Química experimental tem ocorrido minimamente, porem articulado com o pensamento crítico, necessitandodeinvestimentosetransformações interventivas emergenciais nas salas de aula. PALAVRAS-CHAVE: experimentação, ensino- aprendizagem, aulas práticas, transformações interventivas. ABSTRACT: This research was carried out between August of 2013 and March of 2016 with participation of all the state schools of the municipality of Viana - Espírito Santo. The purpose of the proposal was to analyze the teaching-learning process in Chemistry focusing on experimentation. The assertion follows through the analysis of the school structures, the articulation with the applied didactic model and the perspectives of the teachers. The results showed that most schools do not have adequate structure for practical classes and those who have them use it routinely. The lack of material, extra planning time, immaturity of students and the fact that in 100% of the teachers were temporary, are some of the barriers pointed out, however in two schools a gradual rupture of this image was observed. The analysis reveals that the teaching of Experimental chemistry has occurred minimally, but articulated with critical thinking, necessitating emergency intervention investments and transformations in classrooms KEYWORDS: experimentation, teaching- learning, practical classes, intervention transformations.
- 61. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 5 52 1 | EXPERIMENTAÇÃO COMO NECESSIDADE NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM EM QUÍMICA A pesquisa que se faz presente é resultante de 5 anos de trabalho como professor de Química dentro de escolas estaduais no Estado do Espírito Santo, principalmente no município de Viana. Tendo como foco a experimentação para o ensino de Química, já teve inúmeras intervenções com colaborações de profissionais de diferentes áreas, colegas professores, pedagogos, coordenadores e diretores, que tem se prestado a caminhar nessa jornada de forma colaborativa. Foi através dela que, assumindo a função de educador-pesquisador promovemos experimentação com aulas práticas, em escolas em situações extremamente adversas aos alunos do ensino médio. O conceito que permeia o parágrafo anterior é para além de agradecer a todos aqueles que contribuíram e continuam colaborando para essa proposta. Preza-se a afirmar duas condições inerentes a ideia de experimentação como necessidade didática ao ensino-aprendizagem de química. A primeira dispõe de uma condição básica e essencial – o trabalho colaborativo (1° condição) – dificilmente o desenvolvimento de pesquisas em longo prazo consegue ser sustentado dentro da área de educação sem recursos humanos colaborativos, principalmente quando os recursos financeiros se apresentam tão escassos. Assim firmar contatos e elaborar uma rede de colaboração deve ser um dos passos iniciais para o desenvolvimento da pesquisa principalmente quando se pretende propor intervenções para transformação da situação atual. Não se faz diferente dentro da escola e na sala de aula. Nesse quesito talvez caiba ao professor que almeja realização de aulas práticas junto a seus alunos, frente às condições de dificuldades expostas no ambiente escolar e compreendendo a necessidade da prática experimental para a disciplina, firmar contatos, traçar uma rede de colaboração interna e externa a escola, uma vez que as dificuldades do ambiente escolar podem se sustentar por longos períodos. A segunda assertiva que se conduz no primeiro parágrafo é a formação de professores-pesquisadores ou educadores-pesquisadores preferencialmente (2° condição), uma vez que o modelo acadêmico de produção não pode ser desvinculado da prática docente na área da educação, ou melhor, é totalmente dependente desse aspecto, poderia ser muito mais produtivo trabalhar as pesquisas acadêmicas não apenas como reflexões e derramamento de resultados analíticos para transformações curriculares e burocráticas. Essa ideia se apoiaria nas propostas interventivas diretas por participação e vinculação de professores atuantes nessas escolas que visem para além da análise, a transformação do ambiente escolar de fato, colaborando com a iniciativa de pesquisas em longo prazo e a capacitação e atualização desses professores, não apenas por
- 62. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 5 53 cursos de formação, mas por ações colaborativas diretamente nas salas de aula das escolas. Nesse contexto às universidades e institutos federais caberia também a função de intervir durante a pesquisa e oportunizar aos professores e educadores a participação e produção. Na assertiva de reflexões teóricas quanto à relação de eventualidade ou necessidade das atividades experimentais no processo de ensino-aprendizagem elaboraram-se os seguintes pensamentos: (...) a prática experimental desenvolve potencialmente: a compreensão de conceitos, sua ampliação, correlação e reflexão; a mudança de postura com maior participação ativa nas aulas; o papel de direcionar maior responsabilidade frente à aprendizagem; a conexão entre aluno e professor de forma prazerosa e dinâmica na facilitação do aprendizado. A efetivação, bom emprego e a laboração de teores científicos com a experimentação expandem o orbe educacional dos alunos por meio da complementação entre a construção de saberes e os questionamentos, ocorrendo o favorecimento da aprendizagem significativa, permitindo a construção de ideias frente a fenômenos e indagações de teor científico, desenvolvendo mais do que competências e habilidades de pesquisa, leva à observação e reflexão crítica (GONÇALVES, 2016, pg. 28). Uma vez evidenciado essas características e com base nas propostas curriculares que pontuam o educar para vida, seria sustentável afirmar que um processo de ensino-aprendizagem que se paute ou concentre-se nas limitações do ensino teórico, no aluno copista e no tradicionalismo culminaria, na maior parte das vezes, em incompatibilidades motivacionais e naturalmente proporcionaria salas de aulas como fardos para alunos e professores, eliminando posturas investigativas, curiosidades e anseios na formação e conseguintemente atrasos sociais, técnicos e científicos. A motivação nesse processo compõe um dos fatores determinantes nas ações de professores e alunos, e é ela quem vai estimular a participação ativa, aguçar a curiosidade e reestruturar a aula num dinamismo não convencional. Analisando frente à questão de ensino aprendizagem é possível afirmar que professor e aluno motivados estarão propensos ao “prazer” de ensinar e aprender, facilitando o alcance dos objetivos de educar (KAUARK, 2007). A experimentação é um processo que deve ser articulado desde as séries iniciais como afirma Bizzo (1998) uma vez que essas atividades constituem importante papel na prática pedagógica dos professores no ensino de ciências. Autoras como Zanon e Freitas (2007) sugerem a experimentação como parte fundamental das ações que favorecem a aprendizagem nessas aulas.As considerações seguem na mesma linha quando verificado as pesquisas realizadas no ensino médio (LIMA, 2012). Ao que conduz, se a prática experimental não for encarada como necessidade, ampliada e aplicada desde os anos iniciais, a produção científica no Brasil estará aquém do resto do mundo e a educação na área de ciências será mantenedora de
- 63. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 5 54 elitismos e dicotomias, uma vez que a base proposta nas escolas públicas torna-se, segundo os dados apontados e a opinião dos professores, impreterivelmente fraca, dificultando o interesse e a entrada desses alunos no ensino superior para carreiras científicas (GONÇALVES, 2016). Cabe ressaltar que: Superar a dicotomia teoria-prática e implementar melhoras na formação de professores de Química passa, dentre outras questões não menos importantes, pela ação de um profissional com perfil específico: o educador químico (JUNIOR, PETERNELE, YAMASHITA, 2009, p.113). Se couber ao educador químico promover mudanças, torna-se importante entender o perfil desse profissional. Nessa mesma linha é proposto que: O educador químico configura-se, basicamente, por possuir conhecimentos no âmbito da Química e no âmbito da Educação, perfazendo uma conexão necessária entre essas duas esferas de conhecimento (JUNIOR, PETERNELE, YAMASHITA, 2009, p.113). Cursos de licenciatura em Química vêm sendo implantados em todo o Brasil abraçando a proposta de formação do educador químico, ampliando a quantidade e qualidade desses profissionais (JUNIOR, PETERNELE, YAMASHITA, 2009). Afinal, é lógico que quando se pensa em experimentação no ensino de química como necessidade, não se pode desarticular deste contexto a ideia de educadores, porém e mais especificamente educadores-pesquisadores, o que comporta trabalhos colaborativos, alunos participativos, compreensão de simbologias, pensamentos científicos, situações reais, Ciência Tecnologia Sociedade e Ambiente (CTSA), interdisciplinaridade, projetos interventivos nas comunidades próximas as escolas, laboratórios de ensino e materiais e reagentes. Todavia também não se pode apenas haver conformidade com as barreiras ou exposições das mesmas, esperando que algo aconteça em teoria para que haja mudança,torna-seessencialadedicaçãoàsmudançaseproposiçãodetransformações (GONÇALVES, 2016). González Eduardo (1992) estima que se faça significante a aprendizagem na área de ciências de tal forma que essa necessariamente se aproprie das atividades teórico experimentais, com aplicação de teorias e práticas na resolução de situações problemas numa contextualização facilitadora da fixação do conhecimento. É nesse sentido que muitos especialistas em Ensino de Ciências afirmam a necessidade da complementação ou até substituição do verbalismo das aulas expositivas com seus livros e anotações repetitivas por atividades experimentais (FRACALANZA, 1986). Não se trata de endeusar a ciência nem de crucificá-la e “nós” pesquisadores nem precisaríamos fazer esforço para isso, visto que o empirismo confabulou nessa concepção de visões por anos (SILVA; ZANON, 2000).
- 64. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 5 55 Também não se trata de acreditar nas atividades experimentais e sua importância para o processo de ensino-aprendizagem sem questioná-la, pois sim é uma auto- reflexão que desfragmenta a crença com intenções pré-determinadas pelos sujeitos que dela participam e seus conceitos um tanto “provisórios” (GIL-PEREZ, 1993). Os futuros professores de Química ao assumirem a postura de educadores precisam reconhecer os desafios ao qual estão se propondo, a realidade das escolas públicas estaduais e municipais, imaginar e criar estratégias e oportunidades para que a experimentação seja parte do cotidiano escolar desses alunos de forma rotineira, encarando as dificuldades desde sua formação inicial nas licenciaturas, mesmo que para isso, a princípio, seja necessária maior elaboração de projetos de outras instâncias (federais, por exemplo) vinculados e associados às escolas municipais, ampliando a rede colaborativa, voltados essencialmente para educação básica e não para produção técnico-científica. Em evidência, o que faz parte desse processo é acreditar que seja possível transformar a realidade em prol de maior qualidade na educação em Ciências e Química e de ampliar reflexões críticas nos sujeitos envolvidos para que essas se expressem em mudanças das características reais que o meio expressa (GONÇALVES, 2016, pg. 33). Enfim, a experimentação no processo de ensino-aprendizagem em química só vai ser encarada como necessidade quando os professores a adotarem como tal e não se desvincularem dessas ações, independentemente das barreiras postas, se permitindo inovar e criar alternativas que promovam condições frente às dificuldades e que articulem nas escolas atitudes transformadoras em colaboração com os alunos e demais profissionais. Essa pesquisa elencou através de seus resultados uma sucinta análise da realidade das escolas estaduais dentro do município de Viana-ES e aponta algumas possibilidades para serem oportunizadas em outras localidades, podendo contribuir com ações transformadoras. A pesquisa aqui apresentada foi realizada através do método qualitativo em campo entre os anos de 2013 e 2016, onde foram acompanhadas aulas, elaborados questionários, feitas entrevistas (gravadas) com professores, tudo por meio de autorizações e com termo de consentimento livre esclarecido assinado por cada participante. Foram realizadas visitas institucionais com vistas à análise das estruturas escolares (laboratórios) e intervenções colaborativas, sendo importante ressaltar em todo esse percurso tais colaborações, que expomos nos agradecimentos ao final do capítulo. O objetivo central aqui é organizar e evidenciar o que possibilitou uma análise do processo de ensino-aprendizado pela prática ou não da experimentação na disciplina de Química nessas escolas estaduais.
- 65. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 5 56 Para isso elencamos os elementos considerados cruciais pelos próprios professores dessas escolas, tecendo, através do diálogo, considerações colaborativas que permitiram elucidar barreiras, assim como confrontá-las para oportunizar transformações no ambiente escolar numa segunda possibilidade interventiva. Em suma, estamos falando do trabalho desenvolvido por um professor pesquisador (educador-pesquisador), aquele que atrela teoria e prática por meio de métodos científicos e articula essa proposta no processo de ensino e aprendizagem em sala de aula. 2 | QUÍMICA EXPERIMENTAL NAS ESCOLAS ESTADUAIS DE VIANA-ES O quadro representativo da realidade, no que se refere à disciplina de Química, das seis escolas estaduais de ensino médio pode ser iniciado pelos gráficos que serão apresentados no decorrer dos resultados, entretanto outros apontamentos precisam ser considerados para compreensão ampla da pesquisa. O primeiro é o fato de que dentro das escolas, numa análise representativa desses anos (2013-2016) apenas 12% dos alunos demonstraram abertamente o interesse pela matéria, no geral a maioria considera a disciplina como algo chato, difícil e sem utilidade. Entre esses que desenvolveram afeição, 95% tiveram contato com aulas práticas num cotidiano recorrente e planejado. Outro fato importante é que em uma dessas escolas, em específico aquela onde foi promovido o maior número de intervenções, agora, 3 anos depois, pôde ser comprovado que o número de alunos que adentrou ao ensino técnico em instituições federais na área de ciências, Química e Biotecnologia, e na área da saúde (incluso ensino superior público e instituições privadas), Enfermagem e Farmácia, é surpreendentemente maior quando comparado às demais escolas e às turmas anteriores na mesma escola, que não tiveram a mesma oportunidade de contato com aulas práticas. Os dados coletados através de contatos por questionários e pela internet com esses ex-alunos sugerem que a experimentação nas aulas de Química oportuniza maior desenvolvimento desse interesse. Até então 82% dos alunos declararam que a motivação com as aulas experimentais foi essencial para sua escolha profissional.
- 66. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 5 57 FIGURA 1. Formação dos professores das escolas estaduais no município de Viana – ES: Porcentagem de professores licenciados em Química (58%); professores com outra formação e complementação pedagógica (42%); Cargo por contrato temporário (100%) dos entrevistados. A figura 1 apresenta uma das primeiras barreiras enunciadas pela maioria dos professores para a promoção de aulas práticas em Química – “não somos efetivos” – onde 100% dos entrevistados nesse período mantinham seus empregos por contrato temporário. A princípio a interpretação desse dado se tornou um tanto confusa – Como esse fato pode se relacionar com o não preparo de aulas práticas? – porém, durante as entrevistas, ele ficou mais claro e quando associado à figura 2 ele se torna ainda mais esclarecedor. A ideia inicial é que desenvolver esse trabalho com uma turma sem ter segurança de continuidade no próximo ano ou até no mesmo ano letivo pode ser um esforço um tanto esgotante e desnecessário, algo que não se justifica, mas foi assumido por muitos dos professores. Outro ponto que fortalece essa iniciativa é que os professores efetivos existem (não para todas as vagas), porém estão alocados nos cargos de gestão como diretoria ou na superintendência regional exercendo outras funções e podendo retomar sua posição como professor a qualquer momento, logo o desgaste pode ser improdutivo uma vez que não será dada continuidade ao trabalho. Nesse contexto também foram correlacionadas as formações iniciais dos professores entre Licenciatura em Química (58%) e outras formações com complementação pedagógica (42%). Fato importante é que as aulas práticas realizadas nas escolas estavam sendo desenvolvidas no formato colaborativo, onde em apenas duas das seis escolas foram articuladas com a teoria por meio de associações entre alunos e professor, professores de outras instituições e através de vínculos com profissionais da saúde. Nesse contexto as salas de aulas comuns se transformavam em laboratórios de práticas experimentais, os materiais que faltavam eram obtidos por doação ou por colaboração entre professores e alunos, a limpeza das vidrarias e descarte dos resíduos eram realizados pós turno para não atrapalhar as aulas seguintes (revezamento de grupos). Foi observado, como demonstrado na Figura 2, que as aulas práticas eram em
- 67. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 5 58 sua maioria aplicadas por professores que estão a menos de 10 anos trabalhado na profissão, prioritariamente a menos de 5 anos e que possuem outro vínculo empregatício, que por todos foi apontado como facilitador da elaboração de aulas contextualizadas, interdisciplinaridade e práticas motivacionais, incluso aulas práticas de interesse dos alunos. FIGURA 2: Relação entre o tempo de profissão, o exercício de outras funções e a realização de aulas práticas. Os dados da Figura 2 colaboram com a proposição de analogias que sustentam a essencialidade do trabalho colaborativo: a formação da rede de colaboração pelos professores que praticam as atividades experimentais é um dos fatores que suprimem as barreiras encontradas no ambiente escolar e pode contribuir para um trabalho mais articulado entre teoria e prática. Esses dados também permitem correlacionar as concepções dos educadores- pesquisadores que, em suma, foram aqueles que de fato realizaram aulas práticas e possuem formação atual, estando trabalhando na área a menos de 5 anos, logo se confirmam duas condições. Primeira, a necessidade de capacitação e atualização dos professores dentro desse município - talvez essa seja uma realidade que se aplique dentro de todo Estado do Espírito Santo, visto que os cursos de formação/capacitação na área de ciências tem sido deixado de lado por anos pela Secretaria de Educação do Estado (GONÇALVES, 2016). Segunda é que a formação em Licenciatura em Química atual que pode estar promovendo avanços dentro da temática de experimentação e aulas práticas que estão refletindo nas salas de aula. A discussão sobre o trabalho colaborativo pode ser ainda mais ampliada quando através dos dados coletados em campo é possível afirmar que, tais profissionais estão em constante participação em eventos da área de pesquisa em educação e dentro de outras formações ligadas a saúde, possibilitando a formação de contatos colaborativos e intervenções de projetos desenvolvidos diretamente nas escolas. Ao que cabe pensar, o educador-pesquisador tenta de forma atual trazer
- 68. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 5 59 oportunidades de contextos para a sala de aula e propõe relações interdisciplinares por meio da motivação dos alunos e da equipe para o desenvolvimento de atividades capazes de sustentar noções aplicáveis da educação, que por sua vez, são mais interessantes e de alguma forma possibilitam responder à um anseio de muitos alunos: para que eu estou estudando isso? A afirmação posterior pode ser um dos contribuintes para os resultados que demonstram maior interesse desses alunos que tiveram contato com aulas práticas, dando destaque para o quantitativo superior de alunos (82%) que após terminarem o ensino médio se dedicam a carreiras profissionais na área de ciências. Oprocessodeinserçãodeexperimentaçãodentrodessasescolasaindarepresenta um longo caminho a ser percorrido, repleto de desafios, que não pode ser feito apenas com duas pernas (professor), mas que deve se iniciar por elas e agregar inúmeros colaboradores (alunos, pedagogos, instituições, outros profissionais) na importante tarefa de romper com as condições ditas como dificuldades, no enfrentamento das barreiras e na efetivação de uma relação teórico-prática promotora de maior qualidade para educação em ciências. 3 | ELUCIDANDO AS BARREIRAS PARA EXPERIMENTAÇÃO EM QUÍMICA Para compreender o motivo pelo qual o processo de ensino e aprendizagem não tem se fortalecido por meio das práticas experimentais na área de ciências, especificamente em Química no ensino médio das escolas estaduais de Viana - Espírito Santo, foi necessário ampliar o diálogo com os professores dentro dessas instituições e procurar motivos pelos quais fosse “justificável” as ações do “não fazer”. Nesse contexto a procura por condições no ambiente escolar foi pautada pela existência ou não de laboratórios de prática e pelas justificativas dos professores dentre possibilidades que permeiam e movimenta as tentativas da aula experimental e as impossibilidades que condicionam à inércia teórica do quadro e pincel. Os dados revelam uma gama de barreiras condicionantes do “não fazer” aula prática, o que se torna frustrante aos olhos dos educadores-pesquisadores, uma vez que os mesmo atuam em condições mais alarmantes e conseguem sustentar uma didática em sala de aula que caminha em meio à experimentação sem se desvincular do conteúdo curricular num formato colaborativo que se apresenta de forma satisfatória quando o quesito em questão é abordagem investigativa, contextualização e motivação nas aulas de Química. As principais barreiras apontadas por esses professores para não execução de aulas práticas foram: - Ambiente escolar inapropriado (falta dos laboratórios): observado em 4 das 6 escolas; - Falta de recursos materiais/humanos (reagentes/técnicos): observado em todas
- 69. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 5 60 as escolas; - Pouca maturidade dos alunos (segurança e riscos): observado em 5 das 6 escolas; - Tempo de planejamento insuficiente: observado em todas as escolas; - Falta apoio pedagógico, cursos de formação/capacitação e material de apoio: observado em todas as escolas; Tais apontamentos ressaltados pelos professores foram analisados e conferidos um a um, onde sem exceção as justificativas são todas plausíveis e confirmadas, contudo também foi verificado que diante dessas condições dois professores realizaram aulas práticas durante todo o ano letivo em escolas que não tinham laboratórios e a escassez de materiais e recursos eram extremas em comparação às demais. Esses dois casos foram analisados mais minuciosamente e feitas as articulações com a formação desses professores e o modelo didático aplicado em sala de aula, ampliando a entrevista. Ambos são formados em áreas afins (saúde), com complementação pedagógica e se consideram educadores-pesquisadores, possuindo rotinas específicas de trabalho extras vinculadas a sua formação e a pesquisa em educação, o que possibilita uma rede de contatos colaborativa e maior contextualização em sala de aula. As aulas desses professores tornam-se mais motivacionais segundo os alunos. Dos 243 alunos questionados nessas duas escolas, 93% (226) alegam que as aulas experimentais são mais produtivas e estimulantes, 81,5% (198) disseram preferir aula de química com experimentação e confirmaram ter gostado mais da disciplina após a realização das mesmas. Nessa assertiva ambos professores observaram de declararam que os alunos adquirem maior responsabilidade e prestam mais atenção na aula com a rotina de práticas, chegando a colabora quando preciso com a aquisição dos reagentes e propondo investigações (projetos). Contudo as observações dessa pesquisa apontam conclusivamente para a necessidade de intervenções emergenciais contínuas nessas escolas, rumo à realização de atividades experimentais (aulas práticas) na área de ciências, pois a alternativa atual tem sido cruzar os braços e esperar mudanças burocráticas que contemplem a experimentação no ensino público, o que provavelmente fortalece as barreiras, transformando o cotidiano das justificativas em medida de apoio para os professores, infelizmente. Uma alternativa poderia ser a inserção nessas escolas de alunos em formação na Licenciatura em Química como apoio através dos estágios curriculares, contribuindo para formação de ambos (professores e estagiários) através do diálogo e troca de ideias por meio de pré-análises observacionais e projetos interventivos colaborativos diretos na sala de aula, promovendo a prática experimental e possibilitando a construção de trabalhos de conclusão de curso mais ligados à educação em si com divulgação em meios acadêmicos (uma proposta que fica para continuidade da
- 70. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 5 61 pesquisa posteriormente em longo prazo). Outra ideia seria adaptar a sala de aula para prática experimental na inexistência de laboratórios como fez Gonçalves (2016) e adquirir recursos por meio de doações e projetos conjugados com outras instituições (apoio pela pesquisa em educação), estimular uma rotina de práticas trimestrais para auxiliar no amadurecimento comportamental dos alunos, agir de forma colaborativa com a equipe escolar e a turma (compartilhar responsabilidades), adentrar a projetos e pesquisas na escola e difundir os resultados em meio acadêmico para promover novas ações e adaptações, além de intervenções diretas com o objetivo de articular teoria e prática numa realidade cotidiana de acordo com a singularidade presente em cada escola. É necessário pensar e agir para romper com os modelos atuais de produção de pesquisas na educação que continuam por desenvolver a perspectiva da ciência moderna no olhar e dificultam associações contraditórias, pois na realidade educacional diferentemente da então aclamada ciência, dificilmente uma resposta direta causará efeito sustentável, e mesmo que se componham predominâncias de certos apontamentos ou a separação desses de forma compartimentada, essas podem não trazer a tão aclamada solução, por entre outros fatores, devido a questões políticas, econômicas sociais e culturais extremamente dinâmicas e mutáveis que afloram no ambiente escolar. As pesquisas precisam se aproximar do cotidiano de forma impactante se debruçando num contexto mais realista, quem sabe através de transformações interventivas se aproximando do chão da sala de aula. AGRADECIMENTOS E APOIO Professores, Pedagogos, Coordenadores e Diretores das Escolas Estaduais de Viana-ES, Instituto Federal do Espírito Santo, EDUCIMAT, FOPEC, FAPES, CAPES. REFERÊNCIAS BIZZO, N. Ciências: fácil ou difícil. Ed. Ática, São Paulo, SP, 1998. JUNIOR, W. E. F.; PETERNELE, W. S.; YAMASHITA, M. A formação de professores de química no estado de Rondônia: necessidades e apontamentos. Química Nova na Escola, São Paulo, n. 2, 2009. GONÇALVES N. T. L. P. Práticas experimentais e laboratórios de química nas escolas estaduais de Viana-ES: realidades frente à aprendizagem significativa crítica. 2016. 193f. Dissertação de Mestrado Profisisonal em Educação em Ciências e Matemática, EDUCIMAT, Instituto Federal do Espírito Santo, Espírito Santo. 2016. GONZÁLEZ, E. M. ¿Qué hay que renovar en los trabajos prácticos? Em: Enseñanza de las Ciencias. Vol. 10, 1992. GIL-PÈREZ, Daniel. Formação de professores de ciências. São Paulo: Cortez, 1993.
- 71. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 5 62 FRACALANZA, H. et al. O Ensino de Ciências no 1º grau. São Paulo: Atual. 1986. KAUARK, F; MUNIZ, I; MORAIS, J. Professor e aluno motivado: isto faz a diferença. Itabuna, BA : Via Litterarum, 2007. LIMA, J. O. G. Perspectivas de novas metodologias no Ensino de Química. Revista Espaço Acadêmico, Londrina, v. 12, n. 136, 2012. SILVA, L. H. A; ZANON L. B. A experimentação no ensino de ciências. Em: Schnetzler, R.P. e Aragão, R. M. R. Ensino de Ciências: fundamentos e abordagens. Piracicaba: CAPES/UNIMEP, p.120-153, 2000. ZANON D. A. V; FREITAS D. A aula de ciências nas séries iniciais do ensino fundamental: ações que favorecem a sua aprendizagem. Ciências & Cognição,Vol. 10, p. 93-103, 2007.
- 72. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 6 63 EXPERIÊNCIA ESTÉTICO SOCIAL EM ARTE: O CAMINHO COMO MÉTODO NOS APRENDIZADOS EM ARTE CAPÍTULO 6 doi Laura Paola Ferreira e-mail – laurapaola1@yahoo.com.br UFMG Eloisa Mara de Paula e-mail – eloizaarte@gmail.com Fabrício Andrade e-mail – fabricioandrade1111@yahoo.com.br UEMG RESUMO: Este estudo tem como objeto discussões sobre o ensino/aprendizado em Arte no terceiro ciclo de ensino (6°,7°,8° e 9°). Trata-se do ensino em Arte e dos caminhos para os métodos na experiência nas aulas de Arte, no intuito de investigar a formação do estudante, a criação e a experimentação do conteúdo artístico na Escola Municipal Josefina de Sousa Lima em Belo Horizonte, MG. Tem como propósito a experiência como caminho para o aprendizado em Arte. Como recurso metodológico utilizou-se também a revisão de literatura por meio da pesquisa descritiva, bibliográfica e empírica. A experiência em arte é um tema que tem sido muito discutido e tem desvendado muitas possibilidades de pesquisa no ensino de Arte. PALAVRAS-CHAVE: Ensino/Aprendizado em Arte. Experiência. Método/Caminho. AESTHETIC EXPERIENCE IN SOCIAL ART: THE PATH AS A METHOD OF LEARNING IN ART ABSTRACT: This paper studied the teaching / learning of Art on the third cycle of education (6th, 7th, 8th and 9th). This is the art of teaching as a way for the method in the experience of art classes, in order to investigate the formation of the student, the creation and experimentation of artistic content in Josefina Municipal School de Sousa Lima in Belo Horizonte, MG. It has as object the experience as a way to Art of Learning. As a methodological resource used the literature review by descriptive literature and empirical research. The experience of art is a topic that has been much discussed and has unraveled many research possibilities in the art of teaching. KEYWORDS: Teaching / learning in art. Experience. Education. Method / way INTRODUÇÃO Este artigo, refere-se ao relato de experiências, a partir das memórias ao longo dos anos de docência. Tem como foco o trabalho desenvolvido na Escola Municipal Josefina de Sousa Lima/BH- MG. Foi feito pensando na reconstrução das minhas aulas de artes, direcionadas ao mestrado profissional.
- 73. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 6 64 Tem como objeto as experiências e metodologias para o ensino em Arte. Levar o experimentar e construir dos saberes em arte.1 A proposta permite que os educandos construam conhecimentos e interajam com saberes significativos na construção das aulas. O desafio para o educador é criar e proporcionar experiências em um ambiente escolar, que permita perceber e incorporar os possíveis erros como partes dos processos expressivos, e modificá-los quando desejável. Segundo Nóvoa (1992), as diferentes realidades nos mostram que de alguma forma podemos criar elos entre teorias educacionais e as realidades profissionais escolares. E o mestrado profissionalizante, tem esse papel, de aliar a teoria e a prática na pesquisa prática, através dos profissionais que conheçam e vivenciam o cotidiano escolar. Este trabalho tem como foco maior, a contribuição para uma reflexão sobre a construção do ensino de Arte no ambiente escolar. Considera indissociáveis as instâncias de teoria e de prática. Portando, este artigo tem também como foco, retribuir à sociedade a oportunidade de dar sequência aos meus estudos acadêmicos. Porque entendo ser umas das melhores formas de contribuirmos para uma educação de qualidade. 1 | O CAMINHO PARA A EXPERIÊNCIA EM ARTE: CONSTRUINDO OS SABERES DA PESQUISA Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já tem a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos, que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia: e, se não ousarmos fazê-la, teremos ficado, para sempre, à margem de nós mesmos. Fernando Pessoa. Os processos que conduzem a uma experiência significativa nas aulas deArte, tem sido foco de discussões recentes, que norteiam muitas pesquisas no âmbito do ensino daArte. Entende-se o caminho para a experiência em arte, como um processo contínuo de um repensar diário das práticas escolares, “A ação inicia a reflexão” (ZABALA, 1998, p.15). O educador, como mediador no processo de aprendizado, utiliza-se de metodologias para o auxílio ao diálogo entre educando, escola e sociedade. E nesse diálogo permite-se a criação de novos elos de experimentação e transformação. O estudante faz parte do processo de ensino na escolha dos métodos para a construção do próprio desenvolvimento do aprendizado escolar. Ao pensar no processo de ensino, na relação da construção do aprendizado entre educador e educando, o professor percorre caminhos metodológicos, que auxiliam o ensino nas aulas de Arte. Segundo Zabala (1998), a prática é parte de 1 A pesquisa a ser realizada encontra-se em sua fase inicial de levantamento do referencial bibliográfico. Apresento aqui a proposta dos primeiros passos com a intenção de divulgar e receber contribuições que me ajudem na realização da mesma. O experimento para o caminho em Arte, será feito na escola onde leciono na Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.
- 74. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 6 65 ações reflexivas, na escolha de processos metodológicos que envolvem o pensar e o refletir dos métodos cognitivos do aprendizado escolar. O método como caminho para o conhecimento, de acordo com Morin (2003), é uma construção coletiva, e de estratégias cognitivas, que interage com o cotidiano dos nossos educandos. Nesse sentido, Celeste (2009), acrescenta a importância do educador para criar uma proposta de trabalho com metodologias que desafiem o educando na construção do método. Só se aprende algo quando se experimenta e se interpreta a partir dos contextos que regem a vida. Quando o aprendizado não se relaciona com o cotidiano, quando não gera significados suficientes, esse conhecimento se dissipa, pois não gerou uma relação de proximidade. O ser humano necessita relacionar os conhecimentos a algo que lhes pertença, que faça parte do cotidiano que o cerca. Quando o educador constrói o processo de aprendizado com seus estudantes, em vez de “faça como eu”, “faça comigo”, ele cria proximidade com o estudante que se sente confiante nos processos da construção do ensino. Quando se envolve na experiência colaborando na execução do processo, o educador deixa de lado a postura de detentor do saber, para se tornar participante. Ele aprende ensinando, há uma consciência sobre o método de ensino. Há uma construção significativa do aprendizado, há um tempo para interferir na composição prática, há uma desconstrução da informação massificada para uma transformação propulsora de saberes experimentados. Para Larrosa (2002), o excesso de informação não tem possibilitado o espaço para se pensar e construir os saberes. A falta de tempo e o excesso de informação criam uma fragmentação dos conhecimentos, que impede a experiência singular e fluida dos conhecimentos. Percebe-se que a metodologia pode ser definida como conjunto de métodos que auxiliam o docente no processo do ensino e aprendizagem. E os métodos, são caminhos para se chegar a um fim (ANDRADE, 2009, P.37).Aabordagem metodológica é escolhida pelo educador de forma flexível, respeitando o contexto social de cada indivíduo. Partindo do princípio da flexibilidade da metodologia como estratégia cognitiva, MEIRE (2010, p.29), escreve: “É abrir novos espaços sem perder de vista a essência propostadoobjetoaserestudado.Maisdoqueissoéestarmosdispostosacriarvínculos afetivos que nos auxiliarão nos processos de ensinar e aprender.”. O educador constrói as metodologias como uma estratégia de ensino, fruição e interação. O estudante apropria-se destes processos metodológicos para desenvolver um pensamento de interação com objeto de estudo. Entende- se portando, que a metodologia, é um conjunto de métodos escolhidos pelo educador como meio para atingir a experiência significativa nas aulas de Artes. Para se alcançar o aprendizado, o educando constrói, também, seu próprio método de ensino. Segundo Hernándes (1998), o aprendizado educacional contém um saber único e singular. O estudante traz contextos familiares, sociais e culturais que interferem no modo de expressar, refletir e compreender os conceitos estudados em sala. Neste sentido, Tomasello (2003) aborda o aprendizado como uma relação de identificação com o contexto de mundo em que vive o educando.
- 75. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 6 66 O aprendizado possibilita um espaço para uma experiência singular onde o educando cria um método a partir do reconhecimento do vivido e compartilhado coletivamente. 2 | RELATO DE EXPERIÊNCIA: AMPLIANDO OS OLHARES ATRAVÉS DOS CONTEXTOS DA ARTE A primeira vivência na escola E.M Josefina de Sousa Lima, foi desenvolvida com o projeto “Construindo os saberes da Arte”, com o intuito de ampliar os conhecimentos expressivos, trazidos pelos alunos. O projeto “Construindo os saberes da Arte”, iniciou- se pelo diagnóstico realizado nas primeiras aulas de Arte, com os alunos do terceiro ciclo de ensino (6°,7º,8º e 9º) da Prefeitura de Belo Horizonte. Percebeu-se que os alunos não tinham muito contato com as expressões artísticas e que conheciam um pouco da cultura 2 Hip Hop (Break, o Rap e o Grafite encontrados nos muros da comunidade). Os estudantes reproduziam as letras, o estilo, a linguagem artística sem consciência por vezes que copiavam meios culturais de outro país. Foi então que desenvolveu- se aulas, pensando em ampliar os contextos artísticos já conhecidos pelos educandos e construindo novos saberes na Arte. Os alunos a partir das trocas de experiências, dos diálogos proporcionados em sala, foram se habituando e acrescentando novos conhecimentos. O desenvolvimento das aulas, ocorreu individualmente de acordo com as habilidades, com o desejo e com o esforço de cada educando. Foi construído um ambiente de saberes, observando o tempo de aprendizado de cada estudante. A escola, o educador e a sociedade fizeram parte do processo de ensino. Houve uma interação com o dia a dia dos alunos, que comentavam sobre os grafites encontrados nos muros da comunidade. Faziam comparações, traziam outras referências encontradas nas redes sociais (Facebook, e-mail) e em reportagens. As exposições na escola trouxeram comentários, e pedidos dos educadores para desenvolverem trabalhos artísticos com outras turmas e turnos da escola. Os educandos passaram a reconhecer e a respeitar as aulas de Arte. Os pais perceberam pelos comentários dos estudantes, o quanto estavam envolvidos com o universo artístico. E neste processo, com a ação metodológica no ensino, os estudantes, obtiveram um aprendizado contínuo, através de experiências significativas na arte, que transformaram grande parte da informação em conhecimento. Larrosa (2002), nos diz sobre o processo da experiência significativa: A experiência, a possibilidade de que algo nos aconteça ou nos toque, requer um gesto de interrupção, um gesto que é quase impossível nos tempos que correm: requer para pensar, parar para olhar, para escutar, pensar mais devagar, olhar mais devagar, e escutar mais devagar; parar para sentir, sentir mais devagar, demorar-se nos detalhes, suspender a opinião, suspender o juízo, suspender a vontade, suspender o automatismo da ação, cultivar a atenção e a delicadeza, 2 O Hip Hop surgiu em Nova Iorque, nas comunidades negras, como forma de extravasar os sentimentos de uma classe marginalizada que vivia em verdadeiros guetos onde a violência era muito grande. (Www.significadosbr.com.br).
- 76. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 6 67 abrir os olhos e os ouvidos, falar sobre o que nos acontece, aprender a lentidão, escutar aos outros, cultivar a arte do encontro, calar muito, ter paciência e dar-se tempo e espaço (LARROSA, 2002, p. 19). O estudo dos contextos culturais que envolvem a cultura Hip Hop, iniciou-se com a investigação da origem do movimento e das expressões artísticas que abrangem (dança, música e artes visuais). Com foco maior no estudo das Artes Visuais, representados pelo Grafite. Foi feito uma pesquisa historiográfica e imagética no laboratório de informática, com três artistas: Nilo Zack (local), Os Gêmeos (nacional) e Franz Ackermann (internacional), que utilizam o grafite como linguagem. Foi convidado o artista mineiro Nilo Zack, para conversar sobre sua história de vida e a escolha da Arte como profissão. A preferência pelo estudo deste artista, se deu pela sua história. O artista veio de uma comunidade carente de Belo Horizonte no Bairro Taquaril, começou a fazer grafite em sua comunidade e resolveu se profissionalizar e entrar na universidade. O intuito da conversa foi proporcionar a identificação dos estudantes com o contexto de vida do artista, para que se sentissem motivados. Os alunos da escola encontram- se em uma comunidade carente da região norte de Belo Horizonte e convivem com realidades sociais e econômicas do local. Barbosa (1998), escreve sobre a importância da arte no desenvolvimento cultural: A arte na educação como expressão pessoal e como cultura é um importante instrumento para a identificação cultural e o desenvolvimento. Através das artes é possível desenvolver a percepção e a imaginação, apreender a realidade do meio ambiente, desenvolver a capacidade crítica, permitindo analisar a realidade percebida e desenvolver a criatividade de maneira a mudar a realidade que foi analisada (BARBOSA, 1998, p.16). Os estudantes ficaram envolvidos com a palestra e com os trabalhos de Arte que foram mostrados nos slides pelo artista. Trabalhos estes que faziam referências a palhaços com características hiper-realistas. Em entrevista concedida Nilo Zack afirma: Zack: Acredito que grande parte dos artistas bem-sucedidos, transmitem experiências de seu cotidiano em suas obras, coisas que os tocam, comovem ou inquietam. Pensando desta forma comecei a desenhar pessoas e objetos comuns ao meu dia a dia. Surgiu assim meu primeiro “Menino Palhaço” personagem criado através de minha vivencia com meu sobrinho Juan Manuel, que veio morar comigo a cerca de cinco anos atrás (ZACK, 2014. A arte de Nilo Zack. Disponível em: https:// lilifoiali.wordpress.com/2014/01/30/a-arte-de-nilo-zack/ Acesso em 04/06/2016). Ao final do encontro, tivemos um momento de perguntas e autógrafos, com direito a distribuição de desenhos feitos pelo artista. Foi organizado uma equipe de estudantes para gravarem uma entrevista após a palestra. Os educandos elaboraram perguntas, conforme mostra a ilustração 1, fizeram pesquisas sobre o artista e divulgaram o resultado com um vídeo. Wilson (2008), nos traz uma visão sobre os processos de ensino de arte:
- 77. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 6 68 Os professores de arte no mundo inteiro terão que se deparar com a tarefa de construir uma nova visão de ensino da arte nas escolas. Esta nova visão provavelmente abrigará as características mais interessantes do modernismo e acrescentará práticas derivadas das ideologias pós-modernas emergentes (WILSON, 2008, p.93). Ilustração 1 - Entrevista dos estudantes do Terceiro Ciclo. Fonte: Elaboração dos autores, 2015. Ilustração 2 - Palestra do artista Nilo Zack, para os estudantes do Terceiro Ciclo. Fonte: Elaboração dos autores, 2015.
- 78. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 6 69 Observou-se que os alunos ficaram muito envolvidos com o relato do artista e com a possibilidade da descoberta das pinturas hiper-realistas com rosto de palhaço nos muros da cidade de Belo Horizonte. O resultado foi percebido pelos comentários recorrentes ao longo do ano na escola e na internet. Os estudantes enviavam mensagens, fotos e vídeos nas redes sociais, sobre o artista e os contextos que envolvem as pinturas. Com o desenvolvimento das aulas de Arte, fizemos a análise das obras de Arte dos artistas, Os Gêmeos “Sem título” ilustração 3, com a obra de Arte da artista modernista Tarsila do Amaral “Os operários” ilustração 4. Os educandos relacionaram as lutas sociais que envolvem as duas obras, analise das suas semelhanças e das suas diferenças: na forma, nas linhas e nas cores. Identificou-se os estilos referentes ao modernismo e a Arte Contemporânea, e assistiu-se também filmes sobre os artistas estudados: Nilo Zack, Os Gêmeos e Franz Ackerman. E fez-se atividades de expressão artística como: pintura, desenho e colagem. Ilustração 3 - Os Gêmeos, obra sem título Fonte: http://www.osgemeos.com.br/pt Acesso em 04/06/2016
- 79. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 6 70 Ilustração 4 - Obra "Os operários" Tarsila do Amaral. Fonte: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/index.html Acesso em 04/06/2016. Percebeu-se que os alunos já estavam mais envolvidos com o experimentar das formas plásticas, das cores e com o criar mais livre das amarras do estereótipo. Segundo Herres (2003), os meios de informação têm direcionado o homem ao universo imagético de manipulação. As imagens estereotipadas inibem a produção criativa, dificultando a experiência. Cabe a escola, segundo Herres (2003), ensinar aos educandos maneiras de ultrapassar as barreiras da hipnotização da imagem estereotipada, para a construção do olhar do sujeito sobre o mundo. Com o desenvolvimento das aulas de Artes na escola, no ano de 2015, os estudantes, estavam cada vez mais experimentando os materiais (cola colorida, recortes de revistas e papel colorido) e as possibilidades de criação, conforme a ilustração 5. Percebeu-se que os educandos estavam bastante estimulados com a criação expressiva. Fizeram colagens, desenhos compositivos que extrapolaram a proposta inicial, pois acrescentavam muitos elementos plásticos nas suas criações. Os estudantes representados na ilustração 5, criavam cores novas com cola colorida, inseriam formas com texturas em estêncil e utilizavam a colagem em vários planos no desenho. E o estímulo para o exercício da curiosidade, do aprendizado investigativo, trouxe resultados. A confiança nos saberes relacionados ao ambiente artístico.
- 80. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 6 71 Ilustração 5 - Estudo da Composição. Estudantes da E.M Josefina de Sousa Lima/BH, MG Fonte: Elaboração dos autores, 2015. O encontro com o artista, a pesquisa feita no laboratório, a entrevista e as atividades de expressão artística, são métodos que foram sendo construídos durante o processo do ensino. Com o interesse do educando que conduzia todo o processo de criação. Ao criar métodos como estratégias para a experiência em sala de aula, com estudantes que fazem parte do processo, lida- se também com os desafios e com os imprevistos e, por vezes com a escassez de material, a falta de estrutura física e a falta de estímulo por parte dos educandos. O planejamento com determinada turma, nem sempre serve para outra. As mudanças ocorrem com o desenvolvimento das aulas e o educador que observa estes contextos tem melhores condições para criar e recriar o próprio processo de ensino. O autor Morin (2003), nos diz sobre o método de ensino: O método é, portanto, aquilo que serve para aprender e, ao mesmo tempo, é aprendizagem. É aquilo que nos permite conhecer o conhecimento. Não existe um método fora das condições em que se encontram o sujeito. O método é o que ensina a aprender. É uma viajem que não se inicia com um método; inicia-se com a busca do método, (MORIN 2003, p.29). Com o seguimento das aulas foi-se desenvolvendo o estudo do desenho, das cores e da composição plástica, que culminavam sempre na exposição, mostrada na ilustração 6, dos trabalhos nos murais da escola. Murais estes que ficam em frente a sala dos professores, e com muita visibilidade aos visitantes, funcionários, professores e estudantes.
- 81. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 6 72 Ilustração 6- Exposição dos trabalhos desenvolvidos nas aulas de Artes. Fonte: Elaboração dos autores, 2015. Pode-se perceber, através da ilustração 6 (exposições no mural da escola), o quanto os alunos se envolveram e o quanto sentiram-se valorizados com os resultados alcançados. Passaram dias, na entrada, recreio e saída contemplando e significando as imagens. Além da interação com toda a escola e turnos que fruíam os trabalhos na exposição no mural. Tiveram pedidos da equipe de educadores, de outros turnos da escola, para que fizessem o projeto com outras turmas. Nesse sentido, criou-se um diálogo, uma interação com a escola, sociedade e com a experimentação ocorrida em sala. A experiência deixa de ser individualizada para se tornar social, compartilhada coletivamente. Para Larrosa (2002), a prática cria uma reflexão emancipadora, que possibilita um pensar e existir de uma educação com sentido para o educando. Contudo é cada vez mais raro a experiência nos âmbitos educacionais artísticos por causa do excesso de informações fragmentadas, que tem levado aos educandos o acúmulo de informações vazias, que não geram uma reflexão e um vivenciar das práticas. Para Charlot (2000): “Os alunos alienados não conseguem perceber-se como sujeitos de sua experiência escolar. Experimentam um sentimento de “invalidação” pessoal, de impotência, de absurdo ou de vazio da cultura escolar” (DUBET e MARTUCCELLI, apud- CHARLOT, 2000, p.40). Pode-se observar pelos contextos relatados, que os estudantes vivenciaram experiências significativas, caracterizadas por serem uma experiência estético social. Neste sentido entendemos como estético, a construção e a desconstrução dos significados, dos gostos e da beleza dos paradigmas impostos pela sociedade pós-moderna, segundo Cauquelin (2005). Sendo o social permeado pela identidade, pelo sujeito que se insere e se reconhece nas relações humanas de reconstrução
- 82. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 6 73 da sociedade, das culturas geradoras da pluralidade de ideias e a diversidade dos mundos. 3 | CONSIDERAÇÕES FINAIS Com o relato, percebeu-se que a experiência significativa em Arte, caminha por metodologias, que dialogam com o ambiente trazido pelos educandos. Reduzir as dificuldades educacionais, dependem de vários fatores físicos, humanos e sociais. O desejo do educador em criar métodos que proporcionem a curiosidade na construção do saber, se torna fundamental para o desenvolvimento dos estudantes. A construção do conhecimento, parte com o estímulo do educador, que propulsiona o desejo do estudante em se transformar, conforme afirma Charlot (2007). A docência requer um repensar diário das práticas escolares. Um olhar aberto as diferentes formas de aprendizado. Os processos metodológicos se redirecionam com o desenvolvimento da experimentação e das práticas diárias. Cabe a nós mediadores do aprendizado, ir de encontro ao cotidiano dos nossos educandos, para observar as realidades que nos cercam e conduzirmos aos saberes significativos, que transformem a realidade cotidiana, em conteúdos vivenciados no campo educacional Diante das reflexões expostas sobre o processo de ensino em Arte, leva-se as seguintes perguntas: Pode-se elaborar um caminho de aprendizado, onde os alunos se fazem presentes no processo, construindo-o de acordo com suas experiências em sala? O aprendizado em Arte requer um caminho a ser percorrido? O que se faz necessário para uma experiência significativa em Arte? Realizam-se métodos nas aulas de Arte? O método requer um processo, um conceito claramente definido? O educador percorre os caminhos junto com o educando no criar o próprio método de ensino. Há uma construção, um esforço para um entendimento e desenvolvimento do conhecimento significativo. A ilustração 7, mostra uma aula onde os alunos encontram- se no Parque Primeiro de Maio/ BH/MG que fica ao lado da escola. Os estudantes já estão acostumados a frequentarem o parque. Mas no momento que retira-se, da sala convencional, cria-se estímulo e pertencimento sobre o local. Há um reconhecimento do lugar e um recriar deste espaço. O parque deixa ser o local de subterfúgio, para se tornar lugar de experiências. Para o contato, para o observar e fruir das relações com o ensino de Arte.
- 83. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 6 74 Ilustração 7 - Aula no Parque Ecológico Primeiro de Maio/ BH-MG. Fonte: Elaboração dos autores, 2015 Espera-se que este relato contribua com as pesquisas no ensino de Arte, no terceiro ciclo (6°,7°,8° e 9°) nas redes públicas de ensino. Que motive educadores, nos caminhos metodológicos para a experiência cognitiva em Arte. E que possa despertar o interesse e a continuidade de pesquisas empíricas nos âmbitos educacionais. REFERÊNCIAS ANDRADE, Gilberto, Martins. Metodologia da Investigação para Ciência Sociais Aplicadas. Editora Atlas S.A. 2009. p. 37. ARROYO, Miguel. Imagens quebradas: trajetórias e tempos de alunos e mestres. Petrópolis: Vozes, 2006 BARBOSA, Ana Mae. Tópicos Utópicos, Belo Horizonte: C/ Arte, 1998, 16p. BEATRIZ, Maria, Medeiros, A arte pesquisa, Coletânea de textos, HERRES, Cristiane, Terraza, Brasília, D.F.; Mestrado em Artes, UnB, 2003, p. 57. CAUQUELIN, Anne. Arte contemporânea: uma introdução. São Paulo CELESTE, Mirian, Martins, Teoria e prática do ensino de arte: a Língua do Mundo: volume único, ed. São Paulo: FTD, 2009, p.117. CHARLOT, Bernard, Da relação com o saber: Elementos para uma teoria; TRAD. Bruno Magne, Porto Alegre: Artmed, 2000, p.40. GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2008. HERNÁNDES, Fernando, Montserrat, Ventura, A Organização do Currículo por projetos de trabalho,
- 84. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 6 75 Editora Artmed; 1998, Porto Alegre. LALANDE, André. Vocabulário técnico e crítico da filosofia. Trad. Fátima Sá Correia, Maria Emília V. Aguiar, José Eduardo Torres e Maria Gorete de Souza. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1999. LARROSA, Jorge. Sobre a lição: linguagem e educação depois de Babel. Belo Horizonte: Autêntica, 2004, p.19. MARTINS, Gilberto de Andrade; THEÓPHILO, Carlos Renato. Metodologia da investigação científica para ciências sociais aplicadas. São Paulo: Atlas, 2007. p.37. MEIRE, Marly Ribeiro. Arte, afeto e educação: a sensibilidade na ação pedagógica, Morly Ribeiro Meire e Silva Sell Duarte Pillotto. Porto Alegre. Editora Mediação, 2010, p. 29. MORIN, Edgar. Educar na era planetária: o pensamento complexo como método de aprendizagem no erro e na incerteza humana/ elaborado para a Unesco por Edgar Morin, Emilio Roger Ciurana, Raúl Domingo Motta; tradução Sandra trabuco Valenzuela; revisão técnica da tradução Edgard de Assis Carvalho. São Paulo: Cortez; Brasília, DF: UNESCO, 2003. p.29. MORIN, Edgar, Os Sete Saberes Necessários para a Educação do futuro. UNESCO/Cortez Editora 2000, edição brasileira. NOVOA, Antônio. Os professores e as histórias da sua vida. In. Nóvoa Antônio. Vidas de Professor. Porto. Porto Editora, 1992. WILSON, Brent. Mudando conceitos da criação artística: 500 anos de arte-educação para crianças. In: Barbosa, Ana Mae (Org.). Arte/Educação Contemporânea: consonâncias internacionais. São Paulo: Cortez, 2005, p.96. ZACK, Nilo. A arte de Nilo Zack. Disponível em: https://lilifoiali.wordpress.com/2014/01/30/a-arte-de- nilo-zack/ Acesso em 04/06/2016.
- 85. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 7 76 FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL COMO INSTRUMENTO DE MOTIVAÇÃO E AUTOESTIMA DO PROFESSOR CAPÍTULO 7 doi Cinthya Maduro de Lima Universidade Federal do Pará - UFPA. Belém - PA Adriana Nunes de Freitas Faculdade Ipiranga Belém - PA Mariene de Nazaré Andrade Sales Instituto de Ensino Superior Franciscano Belém - PA RESUMO: Este trabalho discute o tema Formação e Qualificação Profissional como Instrumento de Motivação e Autoestima do Professor. Tem como objetivo comprender a importância da formação e da qualificação profissional dos professores para o desempenho positivo no processo de ensino-aprendizagem. Por meio de uma revisão de literatura, concluiu- se que a formação e a qualificação profissional de professores, são importantes não só para o aperfeiçoamento docente, mas também para a motivação e elevação da autoestima dos professores, pois a motivação é o processo responsável pela intensidade, direção e persistência dos esforços de uma pessoa para o alcance de uma determinada meta. A formação e a qualificação profissional são vistas como “molas propulsoras” que agem no cotidiano do professor vigorando o prazer pelo trabalho e acentuando a capacidade que ele tem para agir e continuar atuando com qualidade em sua prática pedagógica. Concluiu-se também que, para o processo de ensino aprendizagem acontecer de forma positiva, faz-se necessário a reformulação dos métodos de ensino dos cursos de formação e qualificação docente, de forma que articulem as teorias do conhecimento com a prática do professor no cotidiano de seu trabalho, visando um ensino integral e não fragmentado. Bem como, devem criar meios que favoreçam o desenvolvimento de competências e habilidades dos professores, voltadas para o entendimento e a compreensão da clientela escolar e dos caminhos percorridos no processo de construção de conhecimentos, proporcionando uma educação de qualidade aos educandos e imprimindo na sociedade o senso de valorização da profissão professor, motivando-os para a prática pedagógica. PALAVRAS-CHAVE:Formaçãodeprofessores. Autoestima. Motivação. ABSTRACT: This paper discusses the topic Training and Professional Qualification as a way of Motivation and Self-esteem. Its target is to understand the importance of training and professional qualification of teachers for the positive performance in the teaching- learning process. Through a literature review, it was concluded that training and professional qualification of teachers, are important not
- 86. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 7 77 only for teaching but also for enhancing the motivation and raising the self-esteem of teachers, because the motivation is the process responsible for the intensity, direction and persistence of a person’s efforts to achieve a certain goal. Training and professional qualification are seen as “driving forces” that act in the everyday life of the teacher with the pleasure for the work and highlighting the ability that they have to act and continue working with their pedagogical practice quality. It was concluded that, for the process of teaching/learning to happen in a positive way, it is necessary to recast the teaching methods of training courses and teaching qualification, so that articulating the theories of knowledge with practice of the professor in their daily work, targeting an integral education and not a fragmented one. As well as, it should be created ways to encourage the development of skills and abilities of teachers, dedicated to the understanding and the comprehension of the school clientele and the paths traversed in the process of construction of knowledge, providing a quality education to the students and printing in society the sense of appreciation of teacher’s profession, motivating them to the pedagogical practice. KEYWORDS: Teacher’s training. Self-esteem. Motivation. 1 | INTRODUÇÃO O presente trabalho discute o tema Formação e Qualificação Profissional como instrumento de motivação e autoestima do professor. Assunto amplo e importante por está presente em todas as ramificações da vida humana (pessoal, afetiva e profissional) e, sendo assim, imprescindível para que o indivíduo seja produtivo. Partindo desse pressuposto, o traballho tem como objetivo comprender a importância da formação e da qualificação profissional do professor para o desempenho positivo no processo de ensino-aprendizagem. A maneira pela qual um indivíduo reage a determinadas instruções e medidas destinadas a motivá-lo é geralmente difícil de prever e, mais ainda, de explicar. As atividades e o comportamento humano são muito complexos e ainda mal compreendidos, já que as reações dos indivíduos são, em parte, determinadas por suas necessidades e características pessoais. Do ponto de vista profissional esta inquietação é, segundo Aguiar (2005), realmente boa, haja vista que o desejo de obter maior satisfação de qualquer espécie é a fonte da motivação individual, assertiva que justifica a temática exposta neste artigo, considerando-se que a motivação e autoestima de um professor, estas normalmente geradas a partir de sua qualificação e desenvolvimento profissional, possuem influência na prática pedagógica dos professores, em se tratando do processo ensino- aprendizagem.
- 87. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 7 78 2 | REVISÃO DE LITERATURA O procedimento metodológico escolhido para o desenvolvimento deste trabalho foi a revisão da literatura, a partir de materiais já elaborados, constituídos principalmente de livros e artigos científicos, dos seguintes autores: Aguiar (2005), Bergamini (1975), Chiavenato (2006), Doll (2007), Freire (1996), Libâneo (1998), Mantoan (1999), Pena (1975), Perrenoud (2002), Pinto (1999). Segundo Triviños (1987), a revisão de literatura é importante na pesquisa científica porque permite a familiarização profunda sobre o tema tratado. 3 | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL COMO INSTRUMENTO DE MOTIVAÇÃO E AUTOESTIMA DO PROFESSOR A origem da palavra motivação repousa no verbo latino “movere” que significa mover-se e indica um estado de despertar do organismo. Dessa forma, Motivo ou Motivação refere-se a um estado interno que resulta de uma necessidade e que ativa ou desperta comportamento usualmente dirigido ao cumprimento da necessidade ativante (PENNA, 1975). Segundo o autor, os motivos geralmente podem ser categorizados de acordo com as necessidades de sobrevivência, necessidades sociais e necessidades para satisfazer a curiosidade. A motivação é um motivo para ação, ou seja, é uma força interior que nos impulsiona a agir. Sendo assim, é algo que não se pode observar diretamente, inferimos a existência de motivação observando o comportamento, o qual se caracteriza pela energia relativamente forte nele dispensada e por estar dirigido para um objetivo ou meta, sendo compreendida como um estado interno que dá início e direção ao comportamento. Para Robbins (1989, apud CHIAVENATO, 2000) motivação é o processo responsável pela intensidade, direção e persistência dos esforços de uma pessoa para o alcance de uma determinada meta. Portanto, a motivação pode acentuar a capacidade de agir, enquanto que a obtenção de um objetivo pode diminuir a intensidade da motivação. Para Bergamini (2006, p. 64), “a motivação nasce da interação do sujeito e seu ambiente, dessa forma elevando autoestima do indivíduo, ou seja, a satisfação e bem- estar em relação ao seu desempenho, tanto pessoal quanto profissional”. Desse modo, acredita-se que a formação inicial e a qualificação profissional dos professores podem ser instrumentos para a motivação e elevação da autoestima do professor. Relativamente ao processo de formação de professores, Perrenoud (2002, p. 47) alerta que se faz necessário o desenvolvimento de competências profissionais, segundo ele: Para desenvolver competências é preciso, antes de tudo, trabalhar por resolução de problemas e por projetos, propondo tarefas complexas e desafios que incitem os alunos a mobilizar seus conhecimentos e, em certa medida, completá-los. Isso
- 88. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 7 79 pressupõe uma pedagogia ativa, cooperativa e aberta. Assim, de acordo com Perrenoud (2002), a formação tem considerável peso na motivação das práticas desenvolvidas pelos professores nas atividades docentes, pois não se fala em formar professores para mudar as práticas, no entanto a formação se mostra um meio privilegiado de ação. Sobre este aspecto, Libâneo (1998, p. 87) é mais incisivo ao afirmar que “é certo que a formação geral e qualidade dos alunos dependem da formação de qualidade dos professores”. Segundo o autor, os cursos de formação ministram a teoria, expõem a didática, mas não compatibilizam a teoria com o exercício dessa teoria, ou seja, a prática. Assim, os cursos apresentam, normalmente, currículos distanciados da prática pedagógica e, portanto, da realidade escolar, pois não enfatizam a formação do profissional em educação no sentido de prepará-lo para trabalhar com a diversidade encontrada no universo dos educandos. A formação de qualidade requer, portanto, o estabelecimento das relações que envolvem teoria, prática e realidade escolar educacional, de modo que o ensino não se apresente fragmentado e compartimentalizado, fazendo-se necessária, também, a criação de condições que proporcionem ao professor uma formação sólida e integral capaz de proporcionar mudanças em sua prática pedagógica, auxiliando-o, portanto, “a tomar consciência e autorregular sua atividade, ao ministrar as aulas, ao avaliar os alunos, ao planejar seu trabalho” (MANTOAN, 1999, p. 62). Desse modo, a reflexão crítica sobre a prática, na formação continuada do professor, é também assinalada por Freire (1996, p. 103) que considera a reflexão, aspecto fundamental, pois: Pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem é que se pode melhorar a próxima prática. O próprio discurso teórico, necessário à reflexão crítica tem de ser de tal modo concreto que quase se confunda com a prática. A prática profissional, desse modo, resulta da aquisição de competências, que no contexto educacional diz respeito ao ato de agir com eficiência, utilizando com propriedade conhecimentos e valores adquiridos durante sua formação inicial e continuada e que se expressa na ação que o profissional desenvolve em seu trabalho nas escolas, onde deve agir com a mesma propriedade em situações diversas. Segundo Perrenoud (2002, p. 49), “as competências manifestadas por determinadas ações não são em si, conhecimentos; elas utilizam, empregam e mobilizam conhecimentos”. Desta feita, de nada adianta um conhecimento desarticulado da prática; assim como uma prática vazia de conhecimento é inócua, não produzindo os efeitos desejados ou esperados, pois é ilusão acreditar que o aprendizado sequencial de conhecimentos provoca espontaneamente sua integração operacional em uma competência (PERRENOUD, 2002, p. 54).
- 89. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 7 80 O trabalho por competências exige, portanto, a consciência da inconclusão, pois requer continuidade, requer que se tenha sempre em mente que tudo é um processo contínuo de formação, em virtude de que “a ênfase primária de qualquer modelo de competências não está nos déficits de Ser, mas nos poderes do Tornar-se” (DOLL, 2007, p. 21). Assim,aformaçãoprofissionaldeveseempenharnosentidodeoferecercondições que favoreçam o desenvolvimento de competências e habilidades dos professores, voltadas para o entendimento e a compreensão da clientela escolar, assim como a compreensão dos caminhos que são percorridos no processo de construção de conhecimentos, ou seja, da motivação dos alunos para o processo de aprendizagem. Nesse sentido, existem mecanismos de formação que favorecem as tomadas de consciência e transformações do habitus. Sobre isso, Perrenoud (2001, p. 174) esclarece que esses mecanismos de formação são em especial: a) prática reflexiva; b) mudança nas representações e nas práticas; c) observação mútua; d) metacomunicação com os alunos; e) escrita clínica; f) vídeoformação; g) entrevista de explicitação; h) história de vida; i) simulação e desempenho de papéis; e j) experimentação e experiência. Assim a formação inicial dos futuros professores e a formação continuada, ou seja, a qualificação dos que já estão em exercício, deve primar pela qualidade do preparo deste profissional, no sentido de fomentar e favorecer uma prática pedagógica, a partir de métodos ativos, que visem uma educação de qualidade aos educandos e que imprima na sociedade o senso de valorização da profissão professor, motivando- os para a prática pedagógica. 4 | CONCLUSÃO Partindo do princípio de que a motivação para o trabalho pedagógico, assim como para o desenvolvimento de qualquer outra atividade profissional, é fator preponderante para o desempenho positivo do processo ensino aprendizagem, concluiu-se que a formação e a qualificação profissional dos professores, além de importantes para o aperfeiçoamento profissional são, sem dúvidas, importantes também para a motivação e elevação da autoestima dos professores, pois como foi possível observar, a motivação é o processo responsável pela direção, persistência e pela intensidade dos esforços de uma pessoa para o alcance de uma determinada meta. Neste caso, a formação e a qualificação profissional são vistas como “molas propulsoras” que agem no cotidiano do professor vigorando o prazer pelo trabalho e acentuando a capacidade que ele tem para agir e continuar atuando com qualidade em sua prática pedagógica. Concluiu-se também que, para o processo de ensino aprendizagem acontecer de forma positiva, faz-se necessário a reformulação dos métodos de ensino dos cursos de formação e qualificação de professores, de forma que eles articulem as teorias
- 90. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 7 81 do conhecimento com a prática do professor no cotidiano de seu trabalho, visando um ensino integral e não fragmentado. Bem como devem criar meios que favoreçam o desenvolvimento de competências e habilidades, a compreensão da clientela escolar e dos caminhos percorridos no processo de construção do conhecimento. Proporcionado, assim, uma educação de qualidade aos educandos e imprimindo na sociedade o senso de valorização da profissão professor, motivando-os para a prática pedagógica. REFERÊNCIAS AGUIAR, Maria Aparecida Ferreira de. Psicologia Aplicada à Administração: uma introdução à psicologia organizacional. São Paulo: Atlas, 2005. BERGAMINI, Cecília Whitaker. Motivação nas organizações. 4ª ed. São Paulo: Atlas, 2006. CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas organizações. Rio de Janeiro: Campus, 2000. DOLL, Jean Marie; BELLANO, Denis. Essas crianças que não aprendem. Petropólis: Vozes, 2007. FREIRE, Paulo. Educação e mudanças. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1996. LIBÂNEO, J. C. Pedagogia e modernidade: presente e futuro da escola. Curitiba: 1998. MANTOAN, Maria Teresa Egler. O processo de conhecimento: tipos de abstração e tomada de consciência. NIED-Memo, Campinas, São Paulo: NED-Memo, 1999. PENNA, Antonio Gomes. Motivação e emoção. Rio de Janeiro: Editora Rio, 1975. PERRENOUD, Philippe. Formando professores profissionais: quais estratégias? Quais competências? 6ª ed. Tradução Fátima Murad e Eunice Gruman. Porto Alegre: Artmed Editora, 2002. __________. 10 Novas Competências para Ensinar: convite à viagem. Tradução: Patrícia Chittoni Ramos. Porto Alegre: Editora ArtMed, 2001. __________. Competências para ensinar no século XXI. Porto Alegre: Artes Médicas, 2002. PINTO, G. A. C. O Educador e o Educando. São Paulo: Atlas, 1999. TRIVIÑOS, Augusto Nibaldo Silva. Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa qualitativa em educação. São Paulo, Atlas, 1987.
- 91. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 8 82 FORMAS E CORES: BRINCANDO E DESENVOLVENDO AS PRIMEIRAS NOÇÕES DE GEOMETRIA NA EDUCAÇÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA CAPÍTULO 8 doi Lindaura Marianne Mendes da Silva Universidade Federal de Goiás - Regional Jataí Jataí Goiás Luciana Cristina Porfírio Universidade Federal de Goiás - Regional Jataí Jataí Goiás RESUMO: O texto traz reflexões suscitadas a partir de uma intervenção realizada no Estágio Supervisionado II, vinculado ao Curso de Pedagogia da Universidade Federal de Goiás, da Regional Jataí, realizado no período de outubro a dezembro de 2017 em uma classe do Maternal I (MI) de uma Creche Municipal desta mesma cidade. O projeto contou com dois momentos distintos, mas complementares, sendo o primeiro observacional e o segundo de aplicação e desenvolvimento do projeto de intervenção. A etapa de observação foi uma ferramenta importante para a elaboração e sucesso do Projeto aplicado porque possibilitou a problematização dos conteúdos matemáticos nesse segmento, como também conhecer os alunos e o processo de aprendizagem para que as atividades realizadas fossem significativas para produzir aprendizagens relativas ao campo da geometria. Para a sistematização do projeto fez-se uso do método Holandês de Educação Matemática Realística de Hans Freudenthal. Nos quatro primeiros meses que antecederam a aplicação do projeto buscou- se conhecer o cotidiano e a disposição para a aprendizagem de geometria para esta faixa etária do MI que compreende crianças entre 02 e 03 anos. A partir de uma visão ampliada do ensino de conteúdos para esse público é que se propôs o desenvolvimento dele durante seis aulas previamente elaboradas e reestruturadas conforme a dinâmica da turma e as reflexões sobre as repostas dadas pelas crianças mediante os objetivos estabelecidos. PALAVRAS-CHAVE: Trabalho Pedagógico. Educação infantil. Noções geométricas. 1 | INTRODUÇÃO Este capítulo é uma forma de apresentar aos nossos leitores algumas reflexões suscitadas sobre o ensino de matemática na Educação Infantil a partir da elaboração e aplicação de um projeto de ensino em uma classe de maternal I – que atende 20 crianças com idade entre 02 e 03 anos, a partir dos conteúdos de geometria - formas e cores com a utilização de jogos e brincadeiras. O projeto contou com quatro meses de observações e acompanhamento semanal da turma antes de sua aplicação. Durante o período de observação foi possível acompanhar a rotina das crianças,
- 92. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 8 83 em relação aos conteúdos abordados, dificuldades encontradas e a aprendizagem delas em relação aos conteúdos que seriam propostos à instituição. Em se tratando de Educação Infantil, esse processo observacional foi essencial porque a partir dele foi possível estabelecer proximidades as respostas dadas pelas crianças em inúmeras atividades e constatar que na maior parte do tempo os conteúdos de matemática para essa faixa etária têm sido negligenciados e, quando abordados, restringem-se a contagem de números sem conexão com a representação das quantidades. Mas o que significa falar de matemática e, mais especificamente de geometria e seu ensino na Educação Infantil? Primeiro, é reconhecer que esse conhecimento preexiste no cotidiano da criança, por meio de situações envolvendo espaço, quantidades, números, formas, cores. Há de acordo com o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI/1998) uma curiosidade deste público para o mundo que o cerca e por isso mesmo é possível explorar inúmeras situações que deem conta de ideias matemáticas propostas neste documento curricular. O pensamento geométrico nesta etapa preexiste não como conceito geométrico em sim, mas a partir das relações e representações espaciais que as crianças possuem e exploram em seu dia-a-dia a partir do olhar, do contato, do mover-se e de como buscam, nesse contato, solucionar os problemas com os quais se deparam. Esse tipo de orientação está dada nos documentos curriculares oficiais, tanto nos RCNEI/1998 quanto na recente Base Nacional Curricular Comum BNCC/2018 e ambos os documentos instruem que os conteúdos geométricos nesta etapa da escolarização serão elaborados a partir das relações e representações que as crianças constroem com seus espaços. Nesse sentido, o projeto se ocupou do eixo de matemática, tal como previsto no RCNEI/1998, buscando formular uma abordagem dos conteúdos que não fossem restritivas, mas ao contrário, significativas em torno da estruturação do espaço escolar que elas tinham a sua disposição, para que as crianças desenvolvam e para que adquirissem maior controle de suas ações e do seu entorno, movimentando-se, problematizando e estabelecendo novas relações com esse espaço de forma mais autônoma a fim de potencializar o pensamento geométrico delas e promovessem efetivamente a aprendizagem matemática. (O projeto foi aplicado no ano de 2017, momento em que a BNCC passava ainda por discussões, reformulações do texto final, por esse motivo, optou-se por pautar o projeto nos RCNEI /1998 que era o documento curricular oficial até então.). As ações para o desenvolvimento do projeto foram encaminhadas a partir da seguinte problematização: quais conceitos podem ser ensinados para agregar sentidos ao ensino da matemática na Educação Infantil? A partir daí o projeto encontrou no ensino da geometria uma alternativa, por se tratar de um dos conteúdos previstos para a faixa etária de 2 a 3 anos, mas, sobretudo, por se consideramos que as orientações postas nos RCNEI/1998 no
- 93. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 8 84 campo da geometria poderiam ser fundamentadas a partir dos estudos da geometria realística de Hans Freudenthal. Porém, é a geometria banalizada ou constantemente negligenciada nesta etapa da escolarização, por três ordens de fatores, o primeiro, definido por uma concepção equivocada do papel da área para a educação infantil; o segundo, a falsa crença dos profissionais sobre a aprendizagem de conteúdos complexos serem abstratos para as crianças e, terceiro, por uma formação deficitária dos professores nessa área que saem das licenciaturas com a preocupação quase exclusiva de treinar os alunos nos numerais como se isso fosse suficiente para dar conta das ciências matemáticas. Por décadas, a natureza do pensamento matemático passou por várias concepções, sendo uma delas a teoria piagetiana que muito influenciou o ensino dos conteúdos por decifrar como a criança se desenvolve intelectualmente. Sem recorrer à especificidade dessa abordagem sobre o pensamento infantil, convém ressaltar que é por meio das ideias piagetianas que o conhecimento físico, lógico-matemático e social auxilia na exploração do espaço cotidiano, em especial do ambiente físico e social no qual ela está inserida para a construção das noções matemáticas em todas as áreas, mas em especial, da geometria pela natureza das relações que elas estabelecem com o espaço. A partir de estudos sobre a construção do conhecimento pela criança é que foi possível ponderar ações educativas mais pontuais, eficazes e significativas como as propostas nos currículos e por meio de projetos desenvolvidos por alguns profissionais que lidam diretamente com esse público, como os pedagogos e, prioritariamente um ensino real, de acordo com as múltiplas e variadas realidades de cada instituição educativa. 2 | A GEOMETRIA REALÍSTICA: FUNDAMENTOS E PRÁTICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO PENSAMENTO GEOMÉTRICO NA PRIMEIRA INFÂNCIA A partir de uma abordagem qualitativa e bibliográfica o projeto foi ancorado na Realistic Mathematics Education (RME) traduzido em Língua Portuguesa como Educação Matemática Realística (EMR), de origem holandesa teorizada por Hans Freudenthal nascido em Luckenwalde, na Alemanha, em 11 de setembro de 1905 e faleceu em 13 de outubro de 1990, foi um matemático de origem holandesa. Fez contribuições substanciais à topologia algébrica e também teve interesse na literatura, filosofia, história e educação matemática. Para Freudenthal (1968; 1994) a matemática deve ser vista e entendida como uma atividade humana, que está presente a todo o momento em nossa vida e não se limita a um conteúdo a ser “imposto”, “transferido”, “receptado”, mas resultante de um processo de observar, compreender a matemática da realidade ou como ele mesmo pontua, é preciso “matematizar” essa realidade. Segundo Freudenthal
- 94. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 8 85 (1994), o aprendizdeveria aprender matemática, matematizando; abstrair, abstraindo; esquematizar, esquematizando; algoritmos, algoritmizando; fórmulas, formulando. Desse modo o processo de matematização pode ser entendido como organização da realidade utilizando ideias e conceitos matemáticos. Aabordagem, tal como proposta em Freudenthal (1994) contribui para a educação matemática, tanto para a formação docente dos pedagogos e demais profissionais que lida com o público infantil quanto para a própria aprendizagem das crianças. Mais do que isso, viu-se nesta teoria e proposição uma modo de engendrar ações na sala de aula a fim de proporcionar um ensino pleno, crítico e funcional e gerar uma transformação na forma mecânica e impositiva na forma que essa área tem sido abordada na Educação Infantil. Nessa perspectiva a matemática deveria ser entendida como um componente integrado a vida e nosso cotidiano não apena uma ciência abstrata. Lopez, Buriasco e Ferreira (2014) afirmam que é necessário: Tomar a matemática como uma atividade humana significa compreendê-la de uma maneira mais ampla, não se limitando a definições, algoritmos, fórmulas, equações. Implica compreendê-la como um processo de organização da realidade que permite tanto tratá-la (a realidade) utilizando objetos e ideias matemáticas (ex. algoritimizar, formular, equacionalizar, generalizar) como utilizá-la como fonte para elaboração de conhecimento matemático. (p. 2) A partir da leitura de Lopez, Buriasco e Ferreira (2014) e da teoria de Hans (1968; 1994) reconheceu-se que ensinar com sentido exigiria propor conteúdos a partir da interlocução com o próprio espaço, matematizando então essa realidade, sensibilizando o olhar delas para o seu entorno e reconhecendo nele a matemática que ali está posta. Nas orientações didáticas dadas em relação à geometria nos RCNEI (Vol.3, 1998) traz algo similar em relação a teorização de Freudenthal. As crianças exploram o espaço ao seu redor e, progressivamente, por meio da percepção e da maior coordenação de movimentos, descobrem profundidades, analisam objetos, formas, dimensões, organizam mentalmente seus deslocamentos. Aos poucos, também antecipam seus deslocamentos, podendo representá-los por meio de desenhos, estabelecendo relações de contorno e vizinhança. Uma rica experiência nesse campo possibilita a construção de sistemas de referências mentais mais amplos que permitem às crianças estreitarem a relação entre o observado e o representado. (p. 230) Para desenvolver o projeto em si, optou-se pela seleção de conteúdos que foram estudados em outro momento do curso de Pedagogia, mais especificamente na disciplina de Fundamentos e Metodologia de Matemática II. O princípio adotado para a realização da intervenção foi o ensino contextualizado da matemática, cuja premissa foi partir da realidade do aluno e propor um ensino sistematizado. Ao encontro deste princípio, estava a teoria da matemática realística de Freudenthal (1971) que se define como: [...] uma abordagem que defende a ideia de que a matemática é uma atividade
- 95. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 8 86 humana e como tal não pode ser imposta transferida e receptada de forma mecânica e sim construída por meio de um processo de “matematização” da realidade associando a matemática com a realidade tornando-a assim mais próxima dos alunos e se tornando cada vez mais relevante para a realidade. (p. 6) Em outras palavras, há que se ter sempre um ponto de partida para desenvolver atividades e conteúdos, para inserir e envolver os alunos em suas atividades. Ideia similar pode ser observada no RCNEI (Vol.3, 1998): [...] as crianças poderão tomar decisões, agindo como produtoras de conhecimento e não apenas executoras de instruções. Portanto, o trabalho com a Matemática pode contribuir para a formação de cidadãos autônomos, capazes de pensar por conta própria, sabendo resolver problemas. Nessa perspectiva, a instituição de educação infantil pode ajudar as crianças a organizarem melhor as suas informações e estratégias, bem como proporcionar condições para a aquisição de novos conhecimentos matemáticos. (p. 207) Sabendo que o ensino da Matemática deve partir sempre de situações que fazem sentido para o aluno e fatos relacionados ao seu cotidiano, a geometria foi selecionada como conteúdo por estar diretamente relacionada à conceituação, exploração e relações estabelecidas com o ambiente natural, físico, social no qual a criança está imersa. A ideia fundante para esse pressuposto é a de que se estabeleça um paralelo entre o que a criança já conhece e os conteúdos a serem desenvolvidos, e para a etapa do Maternal I, optou-se ainda pela utilização das cores primárias como interlocutoras das atividades desenvolvidas. Nas orientações dadas no RCNEI (1998, Vol. 3) para o ensino da geometria inclui ainda os jogos e as brincadeiras e o papel do adulto como mediadores essenciais para o desenvolvimento da exploração espacial a partir de três perspectivas e de como podem ser desenvolvidas: [...] relações espaciais contidas nos objetos, as relações espaciais entre os objetos e as relações espaciais nos deslocamentos. As relações espaciais contidas nos objetos podem ser percebidas pelas crianças por meio do contato e da manipulação deles. A observação de características e propriedades dos objetos possibilita a identificação de atributos, como quantidade, tamanho e forma. É possível, por exemplo, realizar um trabalho com as formas geométricas por meio da observação de obras de arte, de artesanato (cestas, rendas de rede), de construções de arquitetura, pisos, mosaicos, vitrais de igrejas, ou ainda de formas encontradas na natureza, em flores, folhas, casas de abelha, teias de aranha etc. A esse conjunto podem ser incluídos corpos geométricos, como modelos de madeira, de cartolina ou de plástico, ou modelos de figuras planas que possibilitam um trabalho exploratório das suas propriedades, comparações e criação de contextos em que a criança possa fazer construções. As relações espaciais entre os objetos envolvem noções de orientação, como proximidade, interioridade e direcionalidade. Para determinar a posição de uma pessoa ou de um objeto no espaço é preciso situá-los em relação a uma referência, sejam ela outros objetos, pessoas etc., parados ou em movimento. Essas mesmas noções, aplicadas entre objetos e situações independentes do sujeito, favorecem a percepção do espaço exterior e distante da criança. As relações espaciais nos deslocamentos podem ser trabalhadas a partir da observação dos pontos de referência que as crianças adotam; a sua noção de distância, de tempo etc. É possível, por exemplo, pedir
- 96. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 8 87 para as crianças descreverem suas experiências em deslocar-se diariamente de casa até a instituição. Pode-se também propor jogos em que elas precisem movimentar-se ou movimentar um objeto no espaço. As estratégias adotadas, as posições escolhidas, as comparações entre tamanhos, às características da construção realizada e o vocabulário adotado pelas crianças constituem-se em objeto de atenção do professor. Para coordenar as informações que percebem do espaço, as crianças precisam ter oportunidades de observá-las, descrevê-las e representá-las. (pp. 230-231, grifos nossos) Apesar de longa, a citação de parte das orientações colocadas no documento dos RCNEI por 20 anos (1998-2018) são importantes porque trazem os mesmos pressupostos teóricos contidos na teoria de Freudenthal e, ao mesmo tempo, permite identificar como as atividades que foram sendo propostas para o ensino de geometria e de cores para o maternal I exploraram estas perspectivas. Ainstituição não dispunha nem de material apropriado para o ensino de geometria e também de espaço físico dentro da sala, então foi necessário planejar as aulas com certa antecedência, pois todo material utilizado foi confeccionado a mão. Sendo assim as aulas foram realizadas dentro de sala quando essa não necessitada de um espaço mais amplo e nem de carteiras visto que na sala não possuía mesas e cadeiras para os alunos, ou no pátio que também era o refeitório e por esse motivo já tinha disposto em seu espaço mesas e cadeira pareadas que poderiam ocupar todos os alunos. Na primeira aula como existia a necessidade de transmitir familiaridade e apresentar à proposta as atividades foram feitas em sala, assim pôde-se observar de forma mais controlado como os alunos agiriam em atividade que envolvesse participação individual e em grupo. Na segunda aula como eram necessárias carteiras para que os alunos pudessem fazer a pintura fomos para o pátio sentado todos juntos, eles pintaram cada uma das formas planas, com as tintas nas cores primaria, podendo escolher a forma e a cor, enquanto isso foi preparado na sala o circuito geométrico (imagem 01). Na terceira aula foi feito uma atividade com massinha de modelar caseira que permitiu não só a participação dos alunos em sua confecção como também permite que o aluno busque a autonomia em sua atividade, então após a massa pronta cada aluno podia escolher a cor e formato que gostaria de atribuir a sua forma. Na quarta aula uma vez que percebido que os alunos já identificavam as formas mesmo estando apenas andando sobre suas linhas realizamos o primeiro jogo que necessitava esse desprendimento da forma com a cor, o jogo também foi confeccionado manualmente em caixa de papelão e permite que a criança analisasse e caracterizassem a forma pelas suas diferenças de formato e tamanho (imagem 02). Na quinta aula visto que os alunos não mais faziam uso da cor para se relacionar com a forma foi realizada a primeira brincadeira “amarelinha geométrica” na qual o aluno deveria jogar o dado reconhecer na amarelinha onde estava localizada aquela forma e pular (imagem 03). Na sesta e ultima atividade visto o bom desempenho da turma associamos vários elementos para gerar um nível maior de dificuldade assim
- 97. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 8 88 analisar se o objetivo de promover aprendizagem significativa do ensino de geometria para uma turma de maternal havia obtido, então realizamos uma brincadeira chamada de Twister, mas que para nossa aula foi adaptada dento as formas geométricas disposta no tapete e dois dados um com a parte do corpo outro com a forma geométrica misturados, assim a turma deveria se atentar qual parte do corpo, qual forma e qual a cor deveria ser encostada, um detalhe importante é que ao jogar o dado cabia ao aluno verificar qual forma havia sido sorteada e qual a cor e então se direcionava ao local onde ela se encontrava e por fim colocava a parte do corpo indicada pelo outro dado (imagem 04). Um exemplo do conhecimento incorporado foi quando após as três primeiras aulas de reconhecimento e identificação das formas uma mãe ao trazer o filho a instituição perguntou se estavam ensinando formas geométricas as crianças. A professora regente do Maternal I, na ocasião, relatou que era um projeto desenvolvido pelos estagiários do curso de Pedagogia. A mãe relatou que seu filho ao chegar à farmácia junto com ela, identificou que para o machucado menor nas mãos deveria ser usado o curativo adesivo no formato de círculo que era um dos que estavam expostos na gôndola. O exemplo dado demonstra que a EMR incentiva esse olhar matemático para o mundo e seus objetos. Permitindo também supor que a experiência de dispor espaço e atividades diferenciadas permite que o aluno interaja e ao brinca formule hipóteses que o levará ao conhecimento superando a pratica de memorização existente nas instituições de ensino. Em linhas gerais, a proposta da EMR, de acordo com Lopez; Buriasco e Ferreira (2014) é a de que: [...] os estudantes tenham um papel ativo na construção de seu conhecimento matemático e que, dessa maneira, aprendam fazer matemática como uma realização, ou seja, matemática como um processo, uma ação, uma maneira de proceder, não como uma ciência, pronta e acabada. Matemática como o “realizar” e não como o resultado. (p. 10) A partir da definição dada pelos autores supramencionados, trabalhou-se o desenvolvimento da competência espacial, do reconhecimento do próprio corpo e o aumento da percepção das formas e figuras presentes no seu entorno para favorecer a exploração e aprendizado das noções geométricas no qual as crianças: “[...] desde o nascimento, estão imersas em um universo do qual os conhecimentos matemáticos são parte integrante”. (RCNEI, Vol. 3, 1998, p. 207) Contudo, não se pode deixar de mencionar a especificidade da Educação Infantil e por isso mesmo o papel do professor não é somente o de ensinar conceitos. Ao contrário, é necessário explorar as noções que as crianças já têm e aprofundá-las, levando-as a perceberem que a Geometria também está presente em sua realidade. Para Freudenthal (1971) às crianças deveria ser dada a oportunidade de “fazer” matemática por meio da “reinvenção guiada”, cujo foco, de acordo com ele não está
- 98. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 8 89 nos objetos matemáticos e, sim, na atividade, não está no produto e, sim, no realizar. Dito de outro modo, essa “reinvenção guiada” ao invés de apresentar conceitos e ferramentas matemáticas prontas e acabadas, oportuniza aos estudantes “reinventá- las” em um processo de “matematização” segundo suas necessidades e nível de compreensão, atribuindo aos estudantes o papel de protagonistas no processo de aprendizagem. Freudenthal (1994) apresenta dois argumentos pedagógicos em favor dessa política da “reinvenção guiada”. Primeiro, ele considera que se aprende mais e melhor como resultado de sua própria atividade; isso significa que, com isso, conhecimento e competência tornam-se mais rapidamente disponíveis do que quando impostos por outras pessoas. Segundo, ele considera que a descoberta ao aprender pode ser divertida, assim como a aprendizagem pela reinvenção pode ser motivadora, e, terceiro, nutre uma atitude de experimentação matemática como uma atividade humana. Para Freudenthal (1994) por serem conceitos construídos a partir das próprias ações, elaborações e produções dos estudantes, os conteúdos matemáticos tornam- se significativos para eles e, dessa forma, dificilmente serão esquecidos, como usualmente acontece com conteúdos ensinados de forma mecânica, impositiva ou memorizada. Além disso, informações ‘decoradas’ raramente podem ser aplicadas em contextos diferentes dos que foram transmitidos, já os conhecimentos elaborados por meio de matematização podem permitir um leque maior de aplicabilidade, uma vez que o aluno pode compreender os fenômenos que originaram estes conhecimentos e elaborações, quais ferramentas matemáticas foram utilizadas, que processos de organização podem ser utilizados para organizar outras situações, já que os processos são independentes da área de aplicação. Um exemplo disso é a maneira como é proposto o trabalho com algoritmos nas instituições de Educação Infantil. Diferentemente da abordagem tradicional, na qual se apresenta os algoritmos prontos e se espera que seus nomes sejam decorados pelos estudantes e só depois aplicados em diferentes contextos. Na EMR, eles podem ser elaborados pelos próprios alunos, partindo dos conhecimentos e estratégias que já possuem, ou foram desenvolvidos em um conjunto de situações, por meio da matematização. Dessa maneira, desde o começo, aos alunos são apresentados a problemas considerados complexos para sua faixa etária, mas que de início podem ser trabalhados em níveis relativamente ‘baixos’ e gradativamente conforme a sua compreensão serem ‘elevados’. 3 | METODOLOGIA DE ENSINO UTILIZADA DURANTE A APLICAÇÃO DO PROJETO Durante a execução do projeto, foram propostos jogos e brincadeiras que fossem
- 99. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 8 90 significativos e possibilitassem a vivência em novos saberes. Uma vez compreendidos, estes saberes auxiliariam os alunos a identificar, compreender e analisar a geometria ao seu redor, às noções de espaço através das regras das brincadeiras, que são atividades especificas para se utilizar na infância porque possibilitam recriar a realidade, na qual fantasia, imaginação se interagem na produção de novas possibilidades de interpretação, de expressão e de aprendizagem, assim como formas de construir relações com outros sujeitos. Para Vygotsky (1998) a relação entre o jogo e a aprendizagem é muito importante, pois entendesse que o desenvolvimento cognitivo resulta da interação entre os sujeitos, que através dessa mediação permita que o aluno ao trabalhar em grupo atinja resultados melhores do que conseguiria estando sozinha em meio uma situação problema. No desenvolvimento a imitação e o ensino desempenham um papel de primeira importância. Põem em evidencia as qualidades especificamente humanas do cérebro e conduzem a criança a atingir novos níveis de desenvolvimento. Acriança fará amanhã sozinha aquilo que hoje é capaz de fazer em cooperação. Por conseguinte, o único tipo correto de pedagogia é aquele que segue em avanço relativamente ao desenvolvimento e o guia; devem ter por objetivo não as funções maduras, mas as funções em vias de maturação (p. 138) Vygotsky (1998, p. 137) ainda afirma “Aessência do brinquedo é a criação de uma nova relação entre o campo do significado e o campo da percepção visual, ou seja, entre situações no pensamento e situações reais”. Essas relações irão permear toda a atividade lúdica da criança, serão também importantes indicadores do desenvolvimento da mesma, influenciando sua forma de encarar o mundo e suas ações futuras. Constatou-se que saber como a criança aprende favoreceu a proposta e potencializou o seu desenvolvimento sim, teoria essa dada pelas contribuições como mencionada anteriormente por Piaget. Aos 20 alunos, foi dado um total de 06 aulas com brincadeiras e jogos, sendo que o tempo estimado de cada aula era de 1 hora. As aulas foram apresentadas em dias alternados, e ao final de aproximadamente dois meses todos os jogos já haviam sido conhecidos pelas crianças. Com a realização das aulas notou-se a ampliação de certas habilidades como, por exemplo, a contagem, concentração, respeito às regras, saber esperar a vez, organização, conferência dos resultados apresentados pelos colegas. Na primeira aula, por meio da observação foi possível perceber que não só era restrito o ensino de matemática, como os alunos não conheciam as formas geométricas planas elementares: o quadrado, o circulo e o triangulo. Uma vez reconhecido esse “não saber” dos alunos, foram oportunizados alguns momentos dessa primeira aula para estabelecer essa relação entre a criança e o objeto através do material pedagógico: Blocos lógicos, por meio de uma atividade de reconhecimento que ocorreu da seguinte maneira. A aula iniciou-se com a explicação do que seria estudado e por que seria,
- 100. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 8 91 apresentaram-se os materiais blocos com as formas nas cores primárias. Identificou- se que os alunos não as identificaram ou estavam pouco estavam familiarizados com estas nomenclaturas. O primeiro contato se deu com a cor então visualizando a peça a turma foi estimulada a responder quais eram aquelas cores, então em seguida foi dito o nome da forma correspondente, por exemplo: triangulo azul, circulo vermelho, quadrado amarelo, cada cor uma a uma foi sendo repetida, coletiva e depois individualmente cada um dos alunos ia repetindo estes nomes relacionados às respectivas cores. Para concretizar essa primeira interação da criança com a geometria, foi feito uma corrida maluca, as peças do bloco lógico foram dispostas no chão misturadas e logo a frente havia três bambolês, também nas corres primarias, então as crianças foram informadas que deveriam agrupas as peças de acordo com a suas corres, então, ao ser autorizado todas juntas começaram a agrupar, ao final quando não havia mais nenhuma peça no chão foi feita a conferência e percebeu-se que houve confusão por parte de algumas crianças que não respeitaram o critério cor, mas o das formas. Pode se dizer que o primeiro objetivo que era de gerar proximidade foi alcançado uma vez que mesmo não obtendo êxito na atividade, os alunos já conseguiram diferenciar as peças pelas suas formas e não somente pela cor, atingindo o objetivo de incentivar a interação da classe com o conteúdo. Na segunda aula, para dar continuidade a lógica de reconhecimento das formas geométricas estabelecida na primeira aula, realizamos uma atividade de pintura que ocorreu da seguinte maneira, os alunos foram levados para o pátio onde cada um sentou em uma carteira que estava agrupada de forma que todos os alunos pudessem sentar lado a lado, então pegamos o pote das formas que havia sido preparado anteriormente em papelão então mostrando a figura realizamos a repetição do nome de cada uma, visto a importância da repetição para estimular memória, visualização nessa faixa etária. Então, para aprofundar no conhecimento sobre geometria foi solicitado que os alunos pintassem os moldes com tinta guache e pincel, essa atividade permite que as crianças reconheçam, diferenciem formas, cores para além da repetição e assim consiga ter uma dimensão das linhas e formato da forma e assim consiga diferenciá- las. Foi então por meio da participação e interação dos alunos na atividade de pintura, na qual já manifestavam o reconhecimento e conhecimento sobre cada uma das formas e seus nomes, que seguiu-se as atividades motoras de linhas, espaço e equilíbrio denominado de circuito geométrico no qual as crianças caminhavam sobre o traçado das formas desenhadas no chão. Esse objetivo foi atingido porque ainda em apreensão das características específicas de cada forma elas conseguiam contornar as formas e dizer sobre qual delas estavam. Na terceira aula, foi possível observar a autonomia com que os alunos haviam obtido esse reconhecimento das formas geométricas planas apresentadas. A consolidação do conteúdo se deu através da ligação do nome com a forma a partir da confecção de peças feitas de massinha de modelar na qual os alunos tiveram a oportunidade de construir sua própria forma,
- 101. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 8 92 escolhendo cor, formato e tamanho. Em paralelo foi possível desenvolver algumas habilidades matemáticas a partir da receita utilizada para confecção da massa como, por exemplo, trabalhar quantidade, contagem, ordem dos elementos, sequencia, transformação e mudança de estado e noções de regra e trabalho em grupo a partir da participação dos alunos. Na atividade de construção de formas o intuito era que o aluno coordenasse suas atividades para isso foi necessário que eles participassem de todas as etapas, desde a fabricação da massinha até a escolha de quais moldes e cores iriam utilizar, sempre confrontando o porquê da sua escola por determinada forma e como ela se chamava e como ela se diferenciava das demais. Na quarta aula os alunos já estavam familiarizados com as formas geométricas planas e para a caracterização, diferenciação das formas, suas características específicas e foi proposto um jogo de encaixe, que exigia deles o reconhecimento da forma e a compreensão de quais eram as formas correspondentes existentes para os encaixes das formas geométricas de acordo com as suas características elementares. O jogo foi confeccionado em caixa de papelão (anexo 02) em que cada um dos lados foi feito o desenho e o corte da forma, sendo dois círculos diferentes, dois quadrados diferentes e dois triângulos diferentes, nesse exercício conseguiram aumentar o nível de dificuldade, pois, além de associar a forma era também necessário perceber a diferença entre elas e localizar na caixa o local correto do encaixe. Ao término desta atividade os alunos reconheceram e diferenciaram para além das cores, mas associando as características específicas contidas em cada uma delas. Na quinta, foi à associação nome versus a forma, reconhecimento visual, equilíbrio e coordenação motora através da brincadeira de “amarelinha” que teve os números substituídos pelas formas, triângulo, circulo e quadrado, nessa atividade a criança tinha que jogar o dado reconhecer e diferenciar a forma e então pular até o local que a peça sorteada se encontrava, associando o trabalho motor e intelectual a partir do equilíbrio e do senso de localização. Na sexta aula foi realizado o jogo Twister, que permitiu associar diversos elementos pertencentes à realidade da criança como as partes do corpo humano, cores e as formas geométricas, nesse jogo era necessário jogar dois dados o que indicava a forma e sua cor e outro que indicava a parte do corpo, essa atividade forçava a criança a fazer relações, mas profundas, o que nos permitiu compreender que o objetivo final foi alcança, pois mesmo fazendo tantas associações eles não só conseguiam realizar as atividades propostas como se divertiam durante a execução. Para finalização analisou-se os objetivos propostos para cada aula haviam sido alcançados, o que permitiu avaliar, condensando e misturando os jogos e brincadeiras que haviam sido aplicados a partir do estabelecimento de conexões com os conteúdos a partir da lógica infantil trazida pelas crianças em relação aos conteúdos. Os jogos e as brincadeiras contribuíram positivamente para novos conhecimentos fossem aprendidos. As repetições a partir da organização prévia, o planejamento das
- 102. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 8 93 aulas conhecendo as crianças envolvidas no projeto em relação às atividades escolares propostas, oportunizou-se um ambiente descontraído que não as desestimulavam quando erravam e transformavam-no em um desafio a ser superado e vencido. A assimilação das regras foi outro fator importante, pois as crianças não entendiam e não as cumpriam, mas depois, internalizaram-nas. A aprendizagem individual e coletiva dos alunos foi sendo evidenciada a cada aula não apenas no que tange a geometria, mas ao trabalho em equipe, a colaboração, respeito às regras, entre vários outros valores que foram trabalhados paralelamente. Isso só foi possível porque assim como prever na Educação Infantil não cabe apenas educar, mas também promover o cuidado durante esse processo, permitindo que aprender seja gratificante e prazeroso para os educandos e educadores e assim a partir de uma tarefa continua e planejada promover o ensino e aprendizagem. 4 | RESULTADOS E DISCUSSÕES FEITAS APÓS A EXECUÇÃO DO PROJETO DE ENSINO CORES E FORMAS Frente ao referencial teórico adotado foi possível elaborar algumas conjecturas. A primeira aula permitiu a identificação das três formas apresentadas através da manipulação e observação das características de cada uma, inicialmente associando às formas as cores. Já a segunda possibilitou delimitar o grau de compreensão dos alunos sobre o tema proposto, registrando as dificuldades que cada uma delas apresentava para irmos intervindo. Na aula três estimulou-se a identificação das formas desprendida das cores. Na quarta aula, observou-se um nível de compreensão aprofundado e o incentivo na realização das atividades foi para que elas as fizessem de forma autônoma. Na aula cinco elas executaram os conteúdos abordados nas últimas quatro aulas através de jogos e brincadeiras. A sexta aula, teve como objetivo não só a finalização do projeto, mas também uma avaliação final, por meio dos jogos e brincadeiras que foram sendo executado, demonstrando que as mesmas também aprenderam as regras e os modos de brincar, por meio das conexões com os conteúdos ensinados a partir da lógica delas. Por fim o objetivo de aferir sentido e significado a matemática trouxe resultados positivos porque houve aprendizagens. Freire (2002) ao expressar que o ensinar não se limita apenas em transferir conhecimentos, mas desenvolver consciência em um ser humano incompleto, nesta ensinar é também uma forma de intervir na realidade da pessoa e do mundo que a cerca. Por isso, reconhecer a maneira de pensar da criança, possibilitou intervenções pertinentes, permitindo a formulação de hipóteses na sua ação sobre o objeto e estabelecer conexões entre o que sabem e um novo conhecimento para, gradativamente, conquistarem a autonomia intelectual.
- 103. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 8 94 5 | CONSIDERAÇÕES FINAIS A experiência possibilitou a aproximação teoria-prática e revelou-se como uma oportunidade para responder as dúvidas a respeito das praticas e dificuldades encontradas nas escolas. Assim optou-se pelo olhar crítico e fundamentado sobre a realidade da pratica docente a fim de potencializar e se apropriar dos conhecimentos aprendidos durante a graduação. O Estágio Supervisionado representou bem mais que uma aproximação ao campo profissional do Pedagogo. Pela experiência desenvolvida a partir de um projeto de ensino bem definido e fundamentado ele possibilitou compreender de que forma a teoria fundamenta as práticas e de como o campo da educação matemática, em especial, no âmbito do ensino ofertado a primeira infância carece de sistematização. Por mais que as informações obtidas sejam impressões, aliadas à observação realizada durante as atividades, a interpretação dessas observações e a reflexão a respeito delas podem fornecer um diagnostico do processo de ensino e de aprendizagem, que podem possibilitar questionar qual matemática os estudantes estão aprendendo, que entendimento está tendo do que é trabalhado em sala de aula ou quais dificuldades estão apresentando, para que possa haver uma reflexão de como estas podem ser superadas. A defesa da ideia da utilização da EMR de Freundenthal para o ensino da Matemática e, neste caso, da geometria na primeira infância, tornou-se um desafio, mas que resultou em caminho fértil para mudanças no ensino oferecido nesta etapa da escolarização. Pelo eixo curricular da matemática, ficou clara a importância da busca de alternativas para o ensino dos conteúdos, a partir da compreensão da necessidade de estímulos variados, que contemple o cognitivo, o físico e o biológico. Uma vez que as atividades propostas no projeto permitiram associar, relacionar e integrar os ensinamentos matemáticos pertinentes ao educar com ações de cuidado a partir de utilização de regras, atividades em grupo, o trabalho transversal com conhecimentos relativos a outros eixos curriculares, não se limitaram a memorização um determinado saber, mas pelo contrario buscando permitir uma formação plena. Desse modo, infere-se que o ensino desta área na Educação Infantil, deve oferecer oportunidade de situações significativas de aprendizagem e que os jogos e brincadeiras devem estar sempre presentes, auxiliando no ensino do conteúdo, proporcionando aquisição de habilidades e desenvolvendo capacidades motoras. O desenvolvimento do trabalho foi de grande valia e importância para a formação docente, pois, através de uma prática orientada como aqui exposta pôde-se perceber como a matemática é pensada de maneira simples e diferenciada pelas crianças. Ao encerrar-se o projeto, constatou-se que houve avanços em relação ao conhecimento dos alunos individual e como grupo, na medida em que aprenderam a escutar as regras propostas nos jogos e nas brincadeiras, a se organizarem para
- 104. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 8 95 participar, a realizarem atividades de modo cooperativo entre si. O ensino matemática na educação infantil se faz importância, pois permite articular o eixo curricular com o desenvolvimento psicossocial permitindo uma formação plena que garanta o direito do aluno de ser cuidado e educado em seu processo de ensino e aprendizagem. REFERÊNCIAS BRASIL (MEC). Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. v.03. Brasília: MEC/SEF, 1998. BRASIL. Conselho Nacional de Educação. CNE/CEB Nº 04/2010. Resolução n. 4, de 13 de julho de 2010 e Parecer n. 7/2010. Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica. DOU de 09 de julho de 2010. FERREIRA, P. E. A; BURIASCO, R. L. C. de. Educação Matemática Realística: uma abordagem para os processos de ensino e de aprendizagem. Educ. Matem. Pesq. 1ª ed. São Paulo, 2016. p. 238- 252. FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 2. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2002. FREUDENTHAL, H. Why to Teach Mathematics so as to Be Useful. Educational Studies in Mathematics, n. 1, 1968, pp. 3-8. FREUDENTHAL, H. Revisiting mathematics education. 2 ed. Netherlands: Kluwer Academic, 1994. FREUDENTHAL, H. Geometry Between the Devil and the Deep Sea. Educational Studies in Mathematics, n. 3, 1971. pp. 413-435. LOPEZ, J. M. S.; BURIASCO, R. L. C. de; FERREIRA, P. E. A. Educação Matemática Realística: considerações para a avaliação da aprendizagem, 2014. Disponível em: http://seer.ufms.br/index.php/pedmat/article/viewFile/883/562 [Acesso em 15/06/2016]. SILVA, L. M. M. da ; PORFÍRIO, L. C. Formas e Cores: brincando e desenvolvendo as primeiras noções de geometria na educação da primeira infância. Anais da Semana de Licenciatura, [S.l.], p. 326-332, out. 2018. ISSN 2179-6076. Disponível em: <http://semlic.com.br/semlic/revista/index.php/ anais/article/view/317/311>. Acesso em: 10 jan. 2019. SILVA, L. M.M. da; PORFÍRIO, L.C. Re-Conhecendo a Realidade do Trabalho Pedagógico e o Ensino da Matemática na Educação Infantil.. In: XIX ENCONTRO NACIONAL DE DIDÁTICA E PRÁTICAS DE ENSINO - XIX ENDIPE, 2018, Salvador. Saberes docentes estruturantes na formação de professores. Salvador, 2018. SILVA. L. M. M. da; PORFIRIO, L.C. Formas e cores: Brincando com a Geometria. In: XI SEMINÁRIO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO, 2017, Jataí. Coletânea de Resumos, 2017. pp. 28-30 MUNIZ, A. da S, R. A geometria na educação infantil. XI Congresso Nacional de Educação. Curitiba. 2013. VYGOTSKY, L.S. A Formação Social da Mente. 6ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998.
- 105. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 8 96 ANEXOS Imagem 01. Figura 01: Pintando as formas. (Acervo pessoal) Imagem 02. Figura 02: Jogo de encaixe. (Acervo pessoal) Imagem 03. Figura 03: Brincadeira: amarelinha geométrica. (Acervo pessoal)
- 106. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 8 97 Imagem 04. Figura 04: Brincadeira: Twister. (Acervo pessoal)
- 107. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 9 98 INTERDISCIPLINARIDADE, O QUE PODE SER? CAPÍTULO 9 doi Núbia Rosa Baquini da Silva Martinelli Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, PROPI, e Universidade Federal do Rio Grande, Rio Grande, RS. Francieli Martins Chibiaque Universidade Federal do Pampa, Uruguaiana, RS. Jaqueline Ritter Universidade Federal do Rio Grande, EQA, Rio Grande, RS. RESUMO: Tratamos da interdisciplinaridade na escola e nas ciências como conceito polissêmico, na perspectiva integradora entre as ciências da Natureza e as disciplinas correlatas. Refletir sobre a interdisciplinaridade na escola e na formação de professores justifica- se pela amplitude de compreensões que o termo abriga, pela sua recorrência na escola básica, fatores que associados resultam em um esvaziamento do seu sentido. Assim, nosso objetivo é problematizar a interdisciplinaridade na escola á luz do aporte teórico diversificado, fazendo discutir os autores, no contexto das interações havidas no Grupo de Pesquisa EducaçãoQuímicanaProduçãoCurricular,onde estabelecemos uma dupla interação triádica: professores da escola básica, acadêmicos em formação docente inicial e continuada e pesquisadores da Universidade, das áreas das ciências da Natureza: Química, Física e Biologia. Como o próprio nome do grupo indica, debruçamo-nos sobre a produção curricular, na perspectiva de análise dos currículos e dos processos que o afetam, como também propositura, elaboração e reelaborações, a partir das necessidades e vontades dos sujeitos da escola, de acordo com seu contexto. Os primeiros resultados das interações no GEQPC resultamdoprocessodegravaçãodosencontros e transcrição, como passos da metodologia de análise, num percurso formativo de escutarmo- nos para sistematizar nossa própria produção, construindo conhecimento mediado, integrado, contextualizado e referenciado nas práticas docentes escolares e acadêmicas na área de ciências da natureza. Entre essas produções destaca-se o amadurecimento acerca da perspectiva interdisciplinar, objeto desta escrita. PALAVRAS-CHAVE: Produção curricular; ensino; interações; formação docente. ABSTRACT: We deal with interdisciplinarity in school and science as a polysemic concept, in the integrative perspective between the natural sciences and related disciplines. Reflecting on interdisciplinarity in school, and teacher training is justified by the breadth of understandings that the term shelters, by its recurrence in elementary school, factors that associate it results in an emptying of its meaning. Thus, our objective
- 108. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 9 99 is to problematize the interdisciplinarity in the school in the light of the diversified theoretical contribution, making the authors discuss in the context of the interactions in the Research Group on Chemical Education in Curricular Production, where we establish a double triadic interaction: primary school teachers, academics in initial and continuing teacher training and researchers of the University, in the areas of the natural sciences: Chemistry, Physics and Biology. As the name of the group itself indicates, we focus on curricular production, from the perspective of curriculum analysis and the processes that affect it, as well as proposition, elaboration and re-elaboration, based on the needs and wants of the subjects of the school, according to with its context. The first results of the interactions in the GEQPC result from the process of recording the meetings and transcription, as steps of the analysis methodology, in a formative way of listening to systematize our own production, building mediated, integrated, contextualized and referenced knowledge in school teaching practices and academics in the field of natural sciences. Among these productions stands out the maturation about the interdisciplinary perspective, object of this writing. KEYWORDS: Curricular production; teaching; interactions; teacher training. 1 | INTRODUÇÃO O Grupo de Pesquisa Educação Química na Produção Curricular – GEQPC, como espaço formativo de professores visa dentre seus movimentos estudar, compreender, formular e reformular concepções pedagógicas dos seus integrantes que são pesquisadores em educação da universidade, licenciandos, graduandos, pós- graduandos e professores das ciências da natureza em atividade na escola básica. Entre essas concepções está a interdisciplinaridade. Tendo em vista que o objeto que une o grupo é interdisciplinar, qual seja o modo de produção curricular por Situações de Estudo, bem como sua composição e seu propósito, apresenta-se neste trabalho uma síntese de discussões teóricas acerca deste conceito, fomentadas por discussões realizadas em alguns encontros onde a interdisciplinaridade foi a ideia em debate. Ao estudar a perspectiva interdisciplinar procuramos confrontar as teorias e as práticas escolares sobre a superação do sentido da abordagem disciplinar vigente (JAPIASSU,1976;FAZENDA,2003;DEMO,1997),nocaminhoparaatransversalidade, interdisciplinaridade e/ou complementaridade como tem sido a recomendação legal no Brasil para a Educação Básica e outros níveis de ensino. Atemo-nos nesse texto à interdisciplinaridade na perspectiva escolar, embora a análise do fenômeno interdisciplinar deva passar pelo seu sentido nas ciências e na academia, como defende FRIGOTTO (2008). Segundo KUENZER (2016), a interdisciplinaridade é uma necessidade e um imperativo quando tratamos da produção social do conhecimento. Circunscrevendo a interdisciplinaridade à escola, chegamos a cogitar que ela ocorre na perspectiva do estudante, que está imerso no caldo da cultura escolar constituído tanto por iniciativas interdisciplinares, mas fundamentalmente disciplinares devido
- 109. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 9 100 aos movimentos curriculares vigentes. Assim, baseadas no conceito de propriedades emergentes (Teoria de sistemas), supomos que alguma coisa de concreto e frutífero pode ocorrer no estudante, como consequência das experiências proporcionadas pelos professores. E esse algo poderia ser a interdisciplinaridade. Entretanto pensamos que essas possibilidades tornam-se mais concretizáveis, através de um ensino que fomente a integração dos conhecimentos, para que a tarefa de elaboração conceitual pelo estudante não seja tão solitária. Fazendo uma breve análise temporal da educação brasileira, vê-se que a escola tem sido árdua para uma quantidade significativa de estudantes. Se desde os anos 1970 a repetência e a evasão ilustram essa realidade; até os anos 1950 – 60, antes de pensarmos em repetência e evasão temos que considerar que havia uma seleção prévia das pessoas que iam para a escola, que não era obrigatória e nem desejável para algumas camadas da população, havendo inclusive dentro das famílias uma segregação nesse sentido, mais ou menos aguda dependendo da realidade regional analisada. Porém, hoje todos devem estar na escola básica, com obrigatoriedade de oferta do ensino fundamental a todas as crianças até os 14 anos. Mas esses estudantes são recebidos numa escola ainda com fortes marcas da filosofia positivista e do modelo fordista da produção que seguem embasando a escola no Brasil. Isso concorre para compor o panorama de inadequação da escola aos novos sujeitos que hoje lá estão. Assim enxergamos os devires das relações sociais na escola: durante décadas taxou- se e excluiu-se os sujeitos que não se adequavam e não se enquadravam no esquema escolar. Agora se trata de propor formas de a escola adequar-se para receber esses sujeitos. E nessas tentativas, ocorre amiúde de a interdisciplinaridade ser invocada como via de remédio para os problemas enfrentados. Além de, obviamente, esta tarefa estar acima das possibilidades das práticas interdisciplinares, o uso inconsequente da interdisciplinaridade como discurso, segundo Pombo (2004), tira-lhe o sentido, esvaziando-a. 2 | REFERENCIAIS TEÓRICOS EM DISCUSSÃO Pensando na tarefa docente no 3º milênio, é imperativo que busquemos a superação das práticas de ensino instrucional, que sabemos, não levam em consideração as diversas formas de aprender. Nessa perspectiva tivemos e temos que superar o binômio ensino-aprendizagem, que supõe que havendo ensino, a aprendizagem será automática, entre outras superações necessárias. Esse é também um tema recorrente no GEQPC: o que deve ser superado; e o que deve ser conservado das práticas escolares vigentes? Entretanto é importante estarmos atentos aos condicionamentos sócio-históricos presentes, que determinam, muitas vezes imperceptivelmente, as intenções e as ações, através de discursos veiculados e repetidos, irrefletidamente. Severino chama atenção que é tarefa da educação,
- 110. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 9 101 também “...desvendar os mascaramentos ideológicos de sua própria atividade, evitando... (que a escola seja) mera força de reprodução social” (SEVERINO, 2008). Acerca disso cabe questionar: que condicionamentos estão amparando a busca pelo interdisciplinar? Essa busca ganha força porque serve ao mercado que necessita profissionais cada vez mais generalistas e multi-talentosos? Ou é uma necessidade legítima, do ponto de vista de uma formação integral, que se impõe para a formação do cidadão investido de um saber mais contextualizado, com maiores condições de desenvolver-se autonomamente? Retomando a ideia de interdisciplinaridade acontecendo no/pelo estudante, ao mesmo tempo em que ela pode ser possível como fenômeno individual, numa perspectiva psicológica, creditada a Japiassu (VEIGA-NETO, 1996), mas também como fenômeno coletivo de elaboração do conhecimento, é óbvio que o processo torna-se facilitado por ações docentes planejadas para esse fim. Assim pensamos o problema da interdisciplinaridade sob três enfoques diferentes, porém em interação: a) construção de conhecimentos pelos estudantes; b) formação de professores e c) produção do conhecimento de ponta nas universidades e institutos de pesquisa. Na segunda situação o que está em cena é o desenvolvimento de métodos, práticas e conteúdos que fomentem ações interdisciplinares. Ou seja, uma metodologia, uma práxis e uma epistemologia do conhecimento das quais os professores e futuros professores devem apropriar-se e construir, com vistas às suas próprias elaborações do conhecimento e à sua prática pedagógica. Trata-se de uma reconstrução desses conhecimentos, em forma de conhecimento escolar com os estudantes, num processo que alguns autores chamam de transposição didática, sendo um dos saberes docentes destacados por TARDIF (2002). Em relação à construção de conhecimentos dos estudantes, impõe-se a transposição da interdisciplinaridade para o ambiente pedagógico, como ferramenta para pensar e planejar o ensino e a aprendizagem, e como prática didática em si (a interdisciplinaridade no ambiente de aula). Para essa tarefa é necessário contar com uma equipe, pois a interdisciplinaridade pressupõe comunicação (ETGES, 2008). Entretanto no cotidiano da escola, muitas vezes há professores conscientes da necessidade da interdisciplinaridade, e com atuação pedagógica para além dos conhecimentos tradicionais da sua disciplina, porém sem equipe. Este seria para alguns o professor interdisciplinar, ou que se percebe interdisciplinar (FAZENDA, 2003), ao que contrapomos a ideia de professor com saberes interdisciplinares (LOPES, 2002). De imediato cabe questionar: legitima-se essa reflexão adstrita ao ensino? E a aprendizagem? Sabendo da não automaticidade entre ensino e aprendizagem, a discussão sobre a interdisciplinaridade requer necessariamente considerar, além do ensino, aspectos das aprendizagens possíveis. Inobstante reconhecemos que essa situação é melhor do que nenhuma iniciativa no sentido da superação da fragmentação do conhecimento. Pode-se considerar que esse professor com saberes interdisciplinares está no caminho da interdisciplinaridade, (FAZENDA, 2003), que
- 111. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 9 102 pode vir a ser desencadeador na escola das reflexões sobre interdisciplinaridade e de práticas que apontem nessa direção. Entretanto isso beira o espontaneísmo e o voluntarismo, se não houver na escola um esforço institucional articulado e intencional de superação das práticas tradicionais de fragmentação, desconexão e descontextualização do conhecimento. Ressaltamos que temos identificado na escola, aqui e ali, mesmo desarticuladamente, iniciativas ditas interdisciplinares, uma vez que a grande maioria dos docentes em atividade hoje na educação básica, já tomou contato com a noção da necessidade de superação do modelo escolar instrucional. E a interdisciplinaridade aparece, ao mesmo tempo como uma necessidade dos novos tempos e como possibilidade de inovação, assim ela é signatária de várias tentativas bem intencionadas de mudança nas práticas escolares. Isso não quer dizer que essas iniciativas apontem o caminho da interdisciplinaridade. Muitas vezes nem chegam a ser inovação, ficam no nível da novidade, que é efêmera, ao contrário da inovação que segundo Fino (2011) é articuladora de mudanças que persistem, revelando-se como marco temporal e epistemológico, que opera transformações duradouras na educação. Japiassu (1976) postulou uma evolução das práticas interdisciplinares, que passa pela multidisciplinaridade e pela pluridisciplinaridade, sendo que a transdiciplinaridade seria um estágio superior da interdisciplinaridade, na qual as disciplinas seriam diluídas em favor de um conhecimento unitário. Assim o caráter patológico do conhecimento seria superado, em favor de um conhecimento que desse conta da complexidade do real. Fazenda (2003), baseada inicialmente em Japiassu (1976), tratou da interdisciplinaridade na educação escolar, mas o que chegou à escola do pensamento desses autores foram fragmentos da teoria que não chegam nem a tratar das raízes da produção do conhecimento, nem a criar condições para a formulação de proposições inovadoras que mexam com a dinâmica escolar. Isto porque, entre outros motivos, são ainda incipientes na escola básica movimentos de apropriação das teorias, integradas ao fazer docente. Pombo (2004) defende que ao largo das diferenças de significado desses termos, o importante é que a interdisciplinaridade e suas congêneres apontem e denunciem a gradativa especialização dos conhecimentos, que nos levou a sua fragmentação crescente. E propõe em última instância, que a interdisciplinaridade possa nos ajudar a ver que ao separar em partes os fenômenos e processos, como a ciência se constituiu na modernidade, algo essencial se perde, ou não emerge, ou seja, que o todo é mais que a soma das partes. Na escola básica temos nos limitado a refletir sobre práticas interdisciplinares como possibilidades de melhoria na educação escolar, sem que esse movimento adquira uma potência inovadora, ou pelo menos, desacomodadora do status quo curricular. Nesse contexto as escolas que fazem alguma formação continuada, tentam ressignificar o conhecimento e produzir novas formas de lidar com ele, através do estudo e do emprego de técnicas e métodos interdisciplinares. Mas isso ainda está distante
- 112. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 9 103 da própria produção do conhecimento transdisciplinar e até mesmo interdisciplinar. Não queremos dizer com isso que a tarefa da produção do conhecimento não possa ser feita na escola. Ao contrário: deveria ser! Mas certamente teremos mais êxito nessa empreitada, se pudermos contar com a academia, articulando-se com os outros espaços de produção de conhecimento relevantes para a escola, que é a própria escola e a comunidade onde se insere. Assim entendida e praticada, a interdisciplinaridade servirá para ensejar o protagonismo do estudante, de modo a propiciar que ele vá interagindo em situações de aprendizagem situada na prática social (LAVE e WENGER 1991), como caminho para tornar-se autor/ produtor de conhecimento no sentido da sua ressignificação, num exercício constante de busca por autonomia, independência e tomada de consciência (VIGOTSKI, 2001). Nesse sentido destacamos o que pensa Etges (2008) que ilustra um modo inovador de enxergar a interdisciplinaridade: “Se o educando aprendeu alguns poucos construtos e os revolveu de cima a baixo, e se ele soube transpor tais construtos e subconstrutos para outros contextos, se ele soube reduzi-los para colegas em trabalhos de grupo, etc, ele aprendeu a ser livre frente aos construtos” (p. 90). É precisamente este é o sentido dos estudos no GEQPC. Parte-se do pressuposto de que a formação inicial articulada à formação contínua e permanente de professores através de parcerias instituídas na interface universidade e escola, através de pequenos grupos de pesquisa, estudo e planejamento tem-se tornado de fundamental importância a (re)construção dos fundamentos teóricos/práticos da docência. Trata-se de estimular que novas condições sejam criadas e garantidas com vistas à constituição de um tipo específico de conhecimento que é o conhecimento de professor e, assim, também criar novas necessidades próprias dessa atividade e do currículo que desenvolvem em cada área de Ensino. Nesse intuito, o GEQPC busca articulação com as unidades acadêmicas – Instituto de Matemática, Física e Estatística (IMEF) e Instituto de Ciências Biológicas (ICB) – responsáveis pela formação de professores licenciados na área de ciências da Natureza; bem como com os professores de Química, Física e Biologia que atuam nas Escolas de Educação Básica, pós-graduandos e licenciandos. Estes sujeitos e seus contextos de formação e atuação/trabalho favorecem a constituição de uma dupla interação triádica potencialmente ativa, tanto no sentido dos seus conhecimentos e saberes específicos, quanto da recontextualização dos mesmos em distintos contextos e níveis de ensino e aprendizagem. O GEQPC propõe-se a formação pela pesquisa e para a pesquisa, ou seja, assume-se a pesquisa como princípio e prática formativa como possibilidade de reinvenção da tradição curricular, tanto na escola quanto na universidade (RITTER, 2017). De forma intencional, sistemática e deliberada, pelo exercício da pesquisa, tencionam-se os modelos de docência, currículo, ensino e aprendizagem que foram sendo incorporados à constituição dos sujeitos em todos os níveis, favorecendo a formação do professor-pesquisador da sua própria prática curricular, objeto de
- 113. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 9 104 investigação de todos os sujeitos do GEQPC. O grupo fomenta e subsidia teórica e metodologicamente a criação de núcleos de pesquisa nas duas escolas parceiras. Ao mesmo tempo, estão em curso produções curriculares integradas e interdisciplinares, do tipo Situação de Estudo (Maldaner, 2004; 2007a), na área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, no Ensino Médio, cujos temas são demandas das escolas participantes, através dos seus professores que integram o GEQPC. As interações no GEQPC são gravadas e analisadas, pelos pesquisadores integrantes do grupo, constituindo-se na busca do conhecimento, como produção histórico-social, a partir dos saberes elaborados e reelaborados no grupo pelos sujeitos, a partir de suas visões teóricas e práticas, baseando-se em última instância nos conhecimentos disciplinares, visão corroborada por Etges (2008) na articulação possível entre as distintas áreas do conhecimento. Esse autor postula que a interdisciplinaridade não deve ser vista como a diluição das disciplinas e das ciências, mas como a interação, no sentido de uma ação conjunta e dinâmica entre as disciplinas e as ciências, entre si. “Ação fundada no trabalho dos cientistas, através de movimentos como o deslocamento e a comparação de construtos, de um campo a outro, entre outras formas” (ETGES, 2008). Isso requer uma visão diferente da de Japiassu e Fazenda, que identificam uma patologia do saber, também postulada por outras correntes epistemológicas. Entretanto, segundo Morin (2006) á complexidade devemos a noção essencial do todo como mais do que a simples soma das partes, como já mencionado. Ultrapassando essa visão patológica da fragmentação dos conhecimentos, se pode aceitar as disciplinas como as unidades escolares e as ciências como as unidades do conhecimento, que devem interagir de modo a prosseguir a produção de conhecimento, mediadas pela linguagem, mas reservando suas especificidades. A busca pela homogeneização, como superação das disciplinas, como espelho da realidade natural pretensamente una, não se justifica, pois a realidade não existe como um real absoluto e uno; ela é construída pelas interações humanas, dialeticamente, em devir, ou vir a ser. A ciência é uma construção de mundos, assim ela constrói realidade, constrói verdades provisórias, sendo um trabalho do intelecto humano “contra o mundo dado” (BACHELARD, 1996). Tornamos o mundo inteligível, através das construções científicas, além das filosóficas e artísticas. Em se tratando do aspecto da produção do conhecimento em recontextualização como conhecimento escolar, destacamos a perspectiva sócio-histórica, dialética, dependente das condições ensejadas no desenvolvimento da inteligência humana, através do trabalho, que é sua base material (ETGES, 2008). Esse entendimento não desconsidera as disciplinas e as Ciências estabelecidas, mas as têm como as unidades de produção do conhecimento, que é histórico e socialmente construído e reconstruído em seus sentidos e significados (RITTER, 2017), e não um espelho do real, sendo que a interdisciplinaridade, assim como a ciência, está baseada no trabalho dos cientistas, e na escola, dos professores, condicionada ao contexto social e cultural, como qualquer
- 114. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 9 105 atividade humana (VIGOTSKI, 2001). Nessa perspectiva (ETGES, 2008), chama a atenção para qual interdisciplinaridade e qual modelo de produção científica estamos buscando: os que queiram desfazer as especificidades das ciências, promovendo uma homogeneização; ou os que queiram tecer diálogos entre os campos do saber. O autor defende que esse diálogo é produtor de interdisciplinaridade, porque é produtor do próprio conhecimento, focando a atenção nos construtos como parâmetros do conhecimento e propondo que através de deslocamentos desses construtos para esquemas conceituais diferentes, se dá o conhecimento. Assim a interdisciplinaridade torna-se “uma epistemologia em ato, (...) uma prática compreensiva e criadora do saber” (ETGES, 2008, p.84). Nesse mesmo sentido posiciona-se Pombo (2004) ao perceber que a ciência no século XXI tem-se desenvolvido mediante metodologias / epistemologias heurísticas, isto é, relativas a descobertas, oriundas mais da aproximação e cruzamentos de informações originárias de campos disciplinares distintos, do que propriamente a partir de dentro das disciplinas. Assim os movimentos interdisciplinares, tanto nas ciências, como na escola são algo que se está a fazer quer nós queiramos ou não. Nós estamos colocados numa situação de transição e os nossos projectos particulares não são mais do que formas, mais ou menos conscientes, de inscrição nesse movimento. Podemos compreender este processo e, discursivamente, desenhar projectos que visam acompanhar esse movimento, ir ao encontro de uma realidade que se está a transformar, para além das nossas próprias vontades e dos nossos próprios projectos (POMBO, 2004, p. 11). A seguir concluímos subscrevendo-nos nesse movimento de refletir sobre os processos interdisciplinares, dos quais participamos em alguma medida, como professoras em formação continuada, em atividades de ensinar, aprender e pesquisar acerca dessas práticas. 3 | RESULTADOS E CONCLUSÃO Todos esses aspectos que discutimos mostram que, dada a polissemia que o termo interdisciplinaridade assume, faz mais sentido pensar em perspectivas interdisciplinares em situações reais, do que propriamente conceituar o vocábulo interdisciplinaridade. Isso em razão da variada gama de entendimentos de base teórica e empírica sobre ela, como demonstramos ao longo do texto. Finalizando essa escrita sintetizamos o que pensamos sobre interdisciplinaridade, como uma necessidade na educação escolar básica: envolve a busca pela desfragmentação do conhecimento, articulando-o em pontos convergentes, para que fique mais próximo de fazer sentido para os estudantes e professores, evitando perda de tempo e de energias criativas, pois em muitas circunstâncias ensina-se as mesmas coisas em tempos diferentes, sob perspectivas diferentes. Esse fazer sentido não deve ser entendido como imediatismo, que exige a compreensão rápida pelo estudante,
- 115. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 9 106 mas como possibilidade de conexão das novas informações e conhecimentos com as suas vivências e com os outros conhecimentos tratados na escola e fora dela. Nesse sentido, a reflexão sobre o movimento interdisciplinar, que envolve necessariamente a comunicação e a ação, deve, portanto, apostar nas relações disciplinares inter e intra-área de conhecimento, visando á produção social do conhecimento e sua ressignificação. Isso envolve relações conceituais entre professor e estudante, dos estudantes entre si e dos professores entre si, criando instâncias de interações sócio-afetivas, cognitivas e de ações efetivas. As interações, que geram clima de confiança entre os envolvidos nos processos de ensinar e aprender são essenciais para favorecer o processo de aprendizagem. Também no sentido de encarar a significação do conhecimento escolar como movimento, diz Deleuze (1994) que a aula é matéria em movimento e cada sujeito estudante será responsável pelas suas elaborações e reelaborações cognitivas, no seu próprio esforço de aprendizagem. Contudo, é papel das/os professoras/es permitir, mas fundamentalmente mediar esse movimento, no sentido de inserir os meios para que a significação aconteça (VIGOTSKI, 2001). Reiterando a ideia da comunicação como meio e condição da interdisciplinaridade, e indo para além da reflexão sobre dinâmicas pedagógicas, pensamos que a escola pode fazer convergir (jamais sozinha) os saberes produzidos na própria escola que são, segundo Tardif (2002) múltiplos e plurais, na universidade e centros de pesquisa e nas comunidades, com a tarefa interdisciplinar de ressignificar tais conhecimentos e saberes. É nesse sentido que temos construído, dialógica e interativamente o trabalho de pesquisa no GEQPC, que tem apontado para o amadurecimento desses distintos saberes sobre o fazer escolar, entre eles, a interdisciplinaridade. O processo de gravação dos encontros do grupo, com posterior escuta e transcrição propicia o percurso formativo de escutarmo-nos sistematizando nossa própria produção, bem como a produção de dados para as pesquisas em curso. Esse processo tem-se constituído como construção de conhecimento mediado, integrado, contextualizado e referenciado nas práticas docentes, escolares e acadêmicas na área de Ciências da Natureza e desta para com as demais. REFERÊNCIAS BACHELARD, G. A Formação do Espírito Científico. Rio de Janeiro: Contraponto, 1996. DELEUZE, G. Abecedário de Gilles Deleuze. Entrevista a Claire Parnet, 1994. Disponível em: <http:// escolanomade.org/wp-content/downloads/deleuze-o-abecedario.pdf>. Acesso em: 23 jun. 2016. DEMO, P. Educar pela Pesquisa. Campinas: Autores Associados, 1997a. 120p. ETGES, N. Ciência, interdisciplinaridade e educação. In: JANTSCH, A. P. BIANCHETTI, L. (Org). Interdisciplinaridade: para além da filosofia do sujeito. Petrópolis: Vozes, 2008. FAZENDA, I. C. A. Interdisciplinaridade: História, Teoria e Pesquisa. 11. ed. Campinas: 2003.
- 116. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 9 107 FINO, C. Investigação e Inovação (em educação), In: Fino, C. N.; Sousa, J. M. (2011). Pesquisar para mudar (a educação), p. 29-48. Funchal: Universidade da Madeira - CIE-Uma. FRIGOTTO, G. A interdisciplinaridade como necessidade e como problema nas ciências sociais. In: JANTSCH, A. P.; BIANCHETTI, L. (Org). Interdisciplinaridade: para além da filosofia do sujeito. Petrópolis, RJ: Vozes, 2008. JANTSCH, A. P. e BIANCHETTI, L. (Org). Interdisciplinaridade: para além da filosofia do sujeito. Petrópolis: Vozes, 2008. JAPIASSU, H. Interdisciplinaridade e Patologia do Saber. Rio de Janeiro: Imago, 1976. KUENZER, A. Conferência de Encerramento do XV Seminário Internacional Educação, Novo Hamburgo: Feevale, 2016. LAVE, J.; WENGER, E. Situated learning: legitimate peripheral participation. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1991. LOPES, A. C.; MACEDO, E. Currículo, debates contemporâneos. São Paulo: Cortez, 2002. MALDANER, O. A. Ciências Naturais na Escola: Aprendizagem e Desenvolvimento. In: Atas do XII ENDIPE - Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino. Curitiba, v. 3, 2004. _________. Situações de Estudo no Ensino Médio: nova compreensão de educação básica. In: A pesquisa em Ensino de Ciências no Brasil: alguns recortes. São Paulo: Escrituras, 2007 a. MORIN, E. Introdução ao pensamento complexo. Porto Alegre: Sulina, 2006. POMBO, O. Interdisciplinaridade e Integração dos Saberes. In: Congresso Luso-Brasileiro sobre Epistemologia e Interdisciplinaridade na Pós-Graduação. Porto Alegre, Brasil, PUCRS, Junho de 2004. RITTER, J. Recontextualização de Políticas Públicas em Práticas Educacionais: Novos sentidos para a formação de competências básicas. Curitiba: Appris, 2017. TARDIF, M. Saberes Docentes e Formação Profissional. Petrópolis: Vozes, 2002. VEIGA NETO, A. J. A ordem das disciplinas. Tese (Doutorado) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil, 1996.
- 117. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 10 108 O USO DO MAGNETÔMETRO NO ENSINO DE ELETROMAGNETISMO MAGNETOMETER USE ON ELETROMAGNETISM TEACHING CAPÍTULO 10 doi Karoline Zanetti Universidade de Passo Fundo, Instituto de Ciências Exatas e Geociências Passo Fundo- Rio Grande do Sul Jucelino Cortez Universidade de Passo Fundo, Instituto de Ciências Exatas e Geociências Passo Fundo- Rio Grande do Sul RESUMO: O ensino de Física na educação básica, no que se refere ao uso de ferramentas computacionais, está em constante evolução. Neste artigo procura-se apresentar um estudo sobre o uso de softwares disponibilizados em plataformas para smartphones, que permitem ao usuário obter informações sobre as componentes de um campo magnético. O objetivo deste trabalho consiste em divulgar alternativas para a melhoria do ensino da Física na educação básica, desde os anos finais do ensino fundamental até os estudos de eletricidade e eletromagnetismo dos terceiros anos do ensino médio. Para este intento utilizou-se para análise o aplicativo 3D Compass and Magnetometer para identificação e quantificação das componentes do campo magnético criado por uma corrente elétrica contínua em um condutor retilíneo. Este experimento poderá contribuir para a percepção de um fenômeno relativamente abstrato aos olhos dos educandos, superando assim diversas dificuldades vivenciadas por alunos e educadores no estudo do eletromagnetismo. PALAVRAS-CHAVE: ensino, física, magnetismo, magnetômetro, tecnologia. ABSTRACT: On basic education the physics teaching, with regard to the computational tools, can observe that evolution is constant. On this article, I try to present a study about the use of softwares available on smartphones platforms, which allows the user has informations about the peculiarities of the magnetic field. The goal of this work consists on spreading alternatives to employ the physics teaching on basic education, since middle school to study about electricity and electromagnetism on high school. To have a great analyze was used the app 3D Compass and Magnetometer for identification and quantification of the magnetic field components created by an electric current on some retracting wire. This experiment will be able to contribute for perception about some phenomenon abstract to students eyes, thus surpassing several difficulties experienced for students and teachers on electromagnetism study. KEYWORDS:teaching,physics,magnetometer, technology.
- 118. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 10 109 1 | INTRODUÇÃO A Física ensinada nas escolas de educação básica, segundo as orientações educacionaispresentesnosParâmetrosCurricularesNacionais,sugerequeesteensino potencialize os educandos a lidar e interpretar fenômenos naturais e tecnológicos, presentes no cotidiano dos indivíduos. Também esta Física deve permitir a capacidade de abstração necessária para a compreensão de eventos tanto de ordem micro ou nanoscópica, quanto os de ordem cosmológica (BRASIL, 2002). Porém, conforme cita Moreira em recente estudo sobre o ensino de Física nas escolas: Além da falta e/ou despreparo dos professores, de suas más condições de trabalho, do reduzido número de aulas no Ensino Médio e da progressiva perda de identidade da Física no currículo nesse nível, o ensino da Física estimula a aprendizagem mecânica de conteúdos desatualizados (MOREIRA, 2017, p.2). Esta dicotomia entre o que se deve abordar na educação básica formal e o que, de fato, tem sido diagnosticado nos estudos citados serve de motivo às diversas reflexões sobre como melhorar nosso ensino de Física. Desde a publicação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), em 1996, passando por diferentes documentos governamentais como os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), de 2000, as Orientações Curriculares Nacionais (OCN), de 2006 e as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), de 2013, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, tem orientado a todos os envolvidos na educação básica, sobre as características que devem ser buscadas nos processos de ensino, visando oferecer, balizado na interdisciplinaridade, na contextualização e diversidade de abordagens pedagógicas, à consolidação da formação de um educando apto às necessidades impostas pela sociedade atual. E é esta sociedade que de forma indireta oferece e exige saberes que muitas vezes estão distantes da educação formal, incentivando assim a desmotivação por parte dos educandos, daquilo que está em pauta nos currículos da disciplina de Física. Para diminuir a distância entre os conteúdos curriculares e as situações cotidianas que permeiam a vida dos estudantes, pesquisas como as realizadas por Elias e seus colaboradores (2009) e Macêdo, Dickman e Andrade (2012), defendem o uso de experimentações no ensino de Física, valorizando em especial o uso das ferramentas computacionais. SegundoAndrade(2011)quandoutilizamostaisferramentasestamosestimulando os alunos, dinamizando conteúdos e fomentando a autonomia e a criatividade dos alunos. Paralelo a este cenário, o telefone celular acabou dando espaço ao smartphone, possibilitando inúmeras aplicações tecnológicas a serviço da sociedade desde maquinários, informatização de empresas, capacitação de funcionários, lazeres em geral e inúmeras outras, a tecnologia está se expandindo cada vez mais e a educação
- 119. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 10 110 tem o dever de acompanhar as gerações conforme sua evolução. Os usos de ferramentas computacionais cada vez mais invadem as escolas e com isso deve-se buscá-las como aliadas da educação procurando demonstrar em aulas que elas também têm uso cientifico e didático para os nossos alunos. Com a criação da internet e os avanços tecnológicos da informática, os materiais didáticos utilizados no processo de ensino-aprendizagem passaram a contar com recursos multimídia que propiciaram maior interatividade, permitindo que o aprendizado se torne cada vez mais eficaz. (DIAS et al., 2009, p. 1). Com toda a disponibilidade de informações, o professor passa a não ser mais o único detentor do saber. Este tem o dever de procurar instigar os alunos, principalmente envolvendo as áreas da ciência onde a parte prática é a mais cativante, onde os alunos enfim podem colocar as “mãos na obra” e trabalhar, sentindo que fazem parte de algo importante e relevante, deixando de serem aqueles meros alunos passivos que infelizmente ainda encontramos hoje em dia. Sobre este novo perfil de aluno, Prensky (2001) comenta que eles são “nativos falantes” da linguagem digital no qual envolve computadores, internet e vídeo games. Rocha (2008), apresenta uma ideia fundamental da inserção tecnológica das escolas, apresentando as vantagens e os riscos que devem ser tomados para que isso ocorra. “As ferramentas computacionais, especialmente a Internet, podem ser um recurso rico em possibilidades que contribuam com a melhoria do nível de aprendizagem, desde que haja uma reformulação no currículo, que se crie novos modelos metodológicos, que se repense qual o significado da aprendizagem. Uma aprendizagem onde haja espaço para que se promova a construção do conhecimento. Conhecimento, não como algo que se recebe, mas concebido como relação, ou produto da relação entre o sujeito e seu conhecimento. Onde esse sujeito descobre, constrói e modifica, de forma criativa seu próprio conhecimento (ROCHA, 2008, p.5). ” De acordo comAndrade (2011) as principais vantagens de utilizarmos ferramentas tecnológicas de forma pedagógica é estimular os alunos, fomentar a criatividade e passar o conteúdo de forma mais clara e com contexto tentando buscar uma aprendizagem que seja significativa. A mesma traz um contraponto colocando que apesar de que a tecnologia seja sim boa para instigarmos nossos alunos desvantagens podem aparecer ao não termos profissionais capacitados e não ter uma organização para isso, onde pode-se então ocasionar alunos desestimulados e confusos sobre o real uso dessa tecnologia em sala de aula. Diante deste panorama, este estudo tem como objetivo demonstrar que a tecnologia pode e tem o dever de entrar em sala de aula, ser usado como máximo do seu potencial compreendendo que os alunos têm capacidade de utilizar muito bem utilizar a tecnologia sendo aliada da sua aprendizagem e o professor sendo mentor nesse processo, mostrando o caminho para a compreensão e as ligações necessárias
- 120. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 10 111 para que isso possa ser realizado. Também, como mote desta pesquisa, pretende- se compreender o funcionamento do sensor magnetômetro presente nos aparelhos móveis, utilizando, neste caso o aplicativo 3D Compass and Magnetometer buscando assim novas alternativas para o ensino de magnetismo e eletromagnetismo. 2 | REFERENCIAL TEÓRICO Com o avanço da tecnologia na sociedade pode-se observar a grande tentativa tanto dos professores como governamentais de conseguir trazer a tecnologia como computadores, televisões, mas principalmente agora o uso de eletrônicos móveis como smartphones e tablets para a sala de aula. Com o intuito de resgatar o estímulo, a atenção, a inovação dos alunos. No ramo do ensino de física, tanto ferramentas computacionais como tecnologia móvel sempre são bem-vindas onde conseguimos trabalhar mais efetivamente, conseguindo demonstrar muitas vezes fenômenos abstratos de difícil compreensão dos estudantes com uma ferramenta tão popular e utilizadas pela grande maioria da população jovem. Conforme a opinião defendida por Prensky (2005), muitos processos de aprendizagem podem ser auxiliados com o uso de celulares no ensino, desde que projetados com coerência, tornando esses vantajosos e propícios. Obviamente juntando portando o uso das novas tecnologias tornando-as em atividades experimentais com pleno intuito de gerar ligação do real com os conteúdos implícitos na matriz curricular podemos ter uma gama muito maior de experimentos que despertam o interesse dos alunos, ainda mais no que dissemos sobre Física onde sabe-se que há uma grande discriminação por parte dos alunos e que a experimentação é um dos grandes pilares para a cativação dos alunos. De acordo com Vieira (2013): “Os tablets e smartphones resolvem tanto o problema da mobilidade quanto o dos sensores. A alta portabilidade é característica essencial desses aparelhos, mas igualmente importante é o fato deles possuírem sensores capazes de medir inúmeras grandezas físicas de interesse. Quase todos os tablets e smartphones são equipados com acelerômetro, magnetômetro, câmera, microfone, giroscópio, luxímetro e outros sensores que, como veremos, podem ser facilmente usados em atividades experimentais nas salas de aula. Os aparelhos são amplamente difundidos entre os jovens em idade escolar, tanto alunos do ensino público quanto do particular. Essas características eliminam, em muitos casos, a necessidade de um espaço próprio para realização de atividades experimentais, tornando a sala de aula muito mais versátil e atraente para o aluno (VIEIRA, 2013, p.2). ” Com isso muitos conteúdos podem ser melhor aproveitados e a Física pode assim começar a ser vista com olhos melhores.
- 121. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 10 112 3 | DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA Com o desenvolvimento de novas tecnologias como os smartphones e tablets uma grande gama de atividades experimentais pode ser utilizada e melhor aproveitada no ensino de física no ensino médio, especialmente quando discutimos termos voltados para a eletricidade, magnetismo e por fim o eletromagnetismo. Muitas vezes conteúdos desse gênero passam despercebidos por falta de tempo, despreparação dos professores ou por não apresentarem grande significado no momento, sendo propostos geralmente no último ano do ensino médio. Ao retratarmos com a realidade a eletricidade, magnetismo e o eletromagnetismo estão muito mais ligados a ela do que podemos imaginar. E o que pode ajudar nos educandos a trazer mais realidade impossível para o ensino desses temas é o uso das tecnologias moveis como os smartphones e tablets. Ambos aparelhos móveis disponíveis no mercado com diversos modelos apresentam dentro do seu circuito integrado diversos sensores que podem auxiliar nas atividades práticas no ensino de física. Um dos que levamos em consideração para o ensino dos conteúdos de eletromagnetismo e magnetismo é o sensor denominado magnetômetro. O magnetômetro é um sensor onde hoje em dia demonstra-se principalmente em meio científico para pesquisas de ponta, as áreas que são mais enfatizadas nesse ramo são a da geofísica espacial, podendo detectar e auxiliar nos estudos sobre auroras boreais, o vento solar e o campo magnético terrestre, a geologia e na geofísica, com uso na localizações de magnetitas, auxiliar na exploração de carvão, na perfuração direcional de óleo ou gás, na exploração da mineração e petróleo em geral, também podemos encontrar esse tipo de tecnologia no uso militar como em sonares presentes em submarinos, navegação geral de navios, localizar munições, alguns modelos ainda podem ter aplicações na área média podendo detectar doenças através dos campos biomagnéticos do copo humano, na arqueologia, para além agora essa tecnologia vem sendo usada em dispositivos eletrônicos como smartphones e tablets. O magnetômetro em si tem a principal propriedade de ser muito sensível e assim muito preciso, por apresentar a característica de poder realizar suas medições nos três eixos do plano cartesiano (x, y e z). Existem diversos tipos e modelos de magnetômetros atualmente, usando propriedades de indução e susceptibilidade magnética diferentes, ainda como características podem medir os dados coletados em resultados vetoriais ou escalares, mostrandoumagrandevariedadenoramo.Atecnologiaenvolvidaemummagnetômetro podem ser através de bobinas e o fluxo magnético presente nelas depende das voltas presentes nessas bobinas, circuitos supercondutores, curvas de magnetização através de dispositivos Fluxgate, precessão livre de prótons, balanceamentos de elétrons, sensoriamento através do efeito Hall, vibração mecânica, também pode ser utilizado com a tecnologia de um pêndulo de torção conforme a detecção da sua variação angular, podem utilizar o Efeito Magnético Óptico Kerr, Rotação Magnética de Faraday,
- 122. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 10 113 através de vapores de césio e potássio observando a queda de energia emitidos pelos fótons, entre outros recursos. Especialmente no uso de smartphones e tablets o sensor magnetômetro auxilia no processo de localização podendo auxiliar o sistema de GPS integrado do dispositivo e o mesmo também pode ser utilizado como detector de metais. O sensor magnetômetro ligado aos aparelhos moveis apresenta detecção dos três eixos do plano (x,y,z) podendo assim medir o campo magnético local e interferências no mesmo. Conforme Vieira (2013): “Para se ter uma ideia do que é possível medir com esse magnetômetro, o campo magnético na superfície da Terra varia de 20 a 70 µT, dependendo do local (no Brasil ele vai de 23 a 28 µT) e imãs de porta de geladeira produzem campos da ordem de 1 mT. (VIEIRA, 2013, p.42) ” Com o uso de aplicativos que podem ser encontrados para sistemas Android como para sistemas iOS como o Sensor Mobile e especialmente o 3D Compass Magnetometer podemos reportar algumas atividades experimentais durantes as aulas de Física no ensino médio. Através do uso do aplicativo Sensor Mobile desenvolvido pela Universidad de Valladollid, ele irá em primeiro lugar mostrar quais sensores estão presentes em seu dispositivo. Para a realização dos experimentos utilizou-se o aparelho ASUS Zenfone 3 Zoom. Figura 1- Tela principal do aplicativo Sensor Mobile Fonte: Acervo do autor
- 123. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 10 114 Ao constatar que o sensor magnetômetro está presente no aparelho podemos passar para o próximo passo que é a instalação do aplicativo 3D Compass and Magnetometer, desenvolvido pela plaincode onde o mesmo apresenta um sistema de bússola nos três eixos, conseguindo realizar a medição do campo magnético e alterações que podemos provocar no mesmo. O aplicativo consegue demonstrar tanto o vetor resultante como o valor escalar com as unidades de µT. Figura 2- Tela principal do aplicativo 3D Compass and Magnetometer Fonte: Acervo do autor Podemos observar que o sensor presente no dispositivo é extremamente sensível podendo medir uma pequena oscilação de apenas a presença de um clip ou tesoura já resulta em uma grande diferença na medição recorrente.
- 124. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 10 115 Figura 3: Oscilação decorrente por objetos metálicos de pequena interferência magnética Fonte: Acervo do autor Nos experimentos acima tanto o clip como a tesoura foram colocados primeiramente ao lado do sensor propositalmente para ser possível observar a interferência criada no campo do sensor presente no smartphone.Após isso colocamos de o lado contrário do sensor para poder observar que o mesmo é muito sensível podendo detectar alterações mínimas no campo. Para ir além podemos também utilizar o mesmo com a medição de um fio condutor ligado a uma fonte de energia de corrente continua onde podemos observar o comportamento diferenciado e mais oscilante do que anteriormente previsto. Também é analisado que conforme a direção e sentido da corrente o nosso sensor é capaz de medir também alternando, portanto, o seu comportamento sendo proporcionalmente ligado a essa mudança. Figura 4- Alterações na medição com a fonte de corrente continua e o fio condutor Fonte: Acervo do autor
- 125. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 10 116 A, B: sem interferência de campo elétrico C: com interferência de 1 V D: com interferência de 2 V Para realizar a última experiência foi utilizado uma fonte de energia de corrente continua que pode chegar aos 5V, na qual foi usado somente a voltagem de 1V e de 2V, com um fio condutor com bitola de 2mm e um comprimento aproximadamente um metro de comprimento no qual completa o circuito de ligação com a fonte e entre os prendedores que apoiam o fio, ligado na mesma na forma de realizar uma ponte de conexão, o smartphone deve ser colocado em um suporte ou sobre uma superfície não condutora ou magnetizante para não criar interferia no campo do sensor onde o dispositivo eletrônico deve estar aproximadamente cinco centímetros de distância do fio condutor. Sendo o dispositivo colocado em diversas posições diferentes em relação ao fio condutor para podermos analisar a diferença dos vetores criados em relação ao campo elétrico induzido. Com isso pode-se analisar que as maiores interferências ocorreram quando o fio condutor estava ao lado do sensor onde observamos uma interferência de 116µT no campo magnético. Mesmo com uma voltagem maior quando colocado o fio condutor acima do dispositivo ainda percebemos uma interferência menor apresentando o valor de 84µT. Comparado ao valor inicial de 25µT no qual é o valor aproximado do campo magnético terrestre no nosso país. Podemos averiguar que o sensor demostrou uma grande sensibilidade em ambas experiências. Através das experiências, principalmente a última na qual trabalha-se com corrente contínua e o fio condutor pode-se incorporar elementos da história do eletromagnetismo já que a experiência se aproxima muito do experimento de Oersted, feito pelo cientista Hans Christian Oersted aproximadamente no ano de 1820. Conforme Chaib e Assis (2007): “Oersted colocou um fio metálico paralelo a uma agulha magnética que estava orientada ao longo do meridiano magnético terrestre. Ao passar uma corrente elétrica constante no fio observou que a agulha era defletida de sua direção original (CHAIB E ASSIS, 2007, p. 42). ” Sendo assim a experiência realizada com o smartphone e o aplicativo demonstra esse experimento de forma mais completa conseguindo demonstrar o vetor resultante e o valor escalar dessa deflexão causada pela corrente elétrica. Junto a comparação e resgate histórico da experiência de Oersted pode trazer a Lei de Biot-Savart. Essa relação retrata matematicamente a análise qualitativa de Oersted. A lei é descrita: Isso nos diz conforme Tanaka dos Santos e Gardelli, 2017 relata que Biot e Savart concluíram que o torque magnético exercido pelo fio sobre a agulha varia com o inverso da distância entre o fio e agulha. Tal fato foi expresso em função da força
- 126. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 10 117 magnética que o fio exercia sobre as moléculas magnéticas da agulha. Sendo que também procuravam calcular e demonstrar a intensidade e a direção da força exercida. Conforme Tanaka dos Santos e Gardelli (2017): “Eles tinham o intuito de determinar a intensidade e a direção da força magnética exercida por um fio condutor de corrente constante longo e retilíneo sobre um polo de uma agulha magnetizada. Após eliminar o efeito do magnetismo terrestre, era possível observar que a agulha ficava perpendicular ao fio com corrente e à linha reta que ligava o fio ao centro da agulha (TANAKA DOS SANTOS E GARDELLI, 2017, p.871) ” Então com o desenvolver dessa perspectiva, conseguimos propor uma prática de atividade experimental viável e esclarecedora onde conseguimos unir os conceitos de eletricidade, magnetismo e eletromagnetismo. Unindo o trabalho de cientistas importantes para esse ramo da física, trazendo o uso do contexto histórico da mesma para trabalhar qualitativamente leis importantes sobre esses conteúdos. Ainda com o fato de possibilitar o compreendimento do espaço vetorial de um campo magnético e demonstrando a potência da tecnologia que está nas mãos dos nossos estudantes, tornando o aprendizado mais dinamizado e ligado com a realidade dos nossos alunos. 4 | CONSIDERAÇÕES Através dessa pesquisa podemos averiguar que o uso do celular como objeto de auxílio a aprendizagem nas escolas ainda é visto com muito preconceito pois o celular é algo que serve somente para tirar a concentração dos alunos e o seu uso deve ser vetado. Porém muitas vertentes da educação demonstram grande entusiasmo em mudar essa visão que os dispositivos móveis apresentam. Pois os mesmos são um recurso inimaginável de tecnologia tão potente quanto ou mais que um computador qualquer. A apresentação dos sensores nos smartphones e tablets demonstra ser algo muito inovador e que mostra uma nova perspectiva do que esses dispositivos podem realizar. Conseguir compreender campos magnéticos e elétricos através de um desses dispositivos junta demanda de diminuir a abstração do conteúdo em si trabalhado com a realidade do que o celular algo que está disseminado por todos nossos alunos atualmente. Trabalhando juntos de forma a melhorar os processos de aprendizagem uma nova era da tecnologia e aprendizagem está por vir. Contando que ao ligarmos aprendizagem dos nossos jovens com o cotidiano e a realidade dos mesmos, levando em conta que nossos alunos já apresentam bagagens sobre esse tipo de saber e o mundo da tecnologia, nos educadores temos muito mais possibilidade de conseguir que uma aprendizagem significativa ocorra como Moreira retrata as palavras de Ausubel “[...] o fator mais importante que influencia a aprendizagem é aquilo que o aluno já sabe. Descubra isso e ensine-o de acordo” (AUSUBEL apud MOREIRA, 1999; p. 163) Portanto o uso das atividades experimentais principalmente utilizando as novas
- 127. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 10 118 tecnologias demonstram um novo espectro da educação que deve ser desenvolvida e aproveitada no seu máximo para que nossos alunos estejam mais próximos da sua realidade e consigam desenvolver modelos mentais que sejam adequados para sua vida. REFERÊNCIAS ANDRADE, Ana Paula Rocha de. O uso das tecnologias na educação: computador e internet. 2011. Monografia (Licenciatura em Biologia) – Universidade de Brasília/ Universidade Estadual de Goiás, Brasília, 2011. DIAS, C. C. L.; KEMCZINSKI, A.; LUCENA, S. S.; FERLIN, J.; HOUNSELL, M. S. Padrões abertos: aplicabilidade em Objetos de Aprendizagem (OAs). XX Simpósio Brasileiro de Informático na Educação. Florianópolis: UFSC, 2009.Disponível em: <http://roai.joinville.udesc.br:8080/xmlui/ bitstream/handle/123456789/73/SBIE_OA_com_autoria_V14.pdf?sequence=1>. Acesso em: 12 jul. 2018. CHAIB, J.P.M.C; ASSIS, A.K.T. Experiência de Oersted em sala de aula. Revista Brasileira de Ensino de Física, v. 29, n. 1, p. 41-51, (2007). ELIAS, D. C. N.; Araújo, M. S. T.; ARAUJO Jr., C. F.; AMARAL, L. H. Tendências das Propostas de Utilização das Ferramentas Computacionais no Ensino de Física no Nível Médio e Superior. VII Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências, Florianópolis: UFSC, 2009. Disponível em: < http://posgrad.fae.ufmg.br/posgrad/viienpec/pdfs/94.pdf>. Acesso em: 13 jul. 2018. MACEDO, J. A de; DICKMAN, A. G.; ANDRADE, I. S. F. Simulações Computacionais como Ferramentas para o Ensino de Conceitos Básicos de Eletricidade. Caderno Brasileiro de Ensino de Física, v. 29, n. Especial 1: p. 562-613, set. 2012. MOREIRA, M. A. Aprendizagem significativa. Brasília: Ed. Universidade de Brasília, 1999. MOREIRA, M. A.; Grandes Desafios para o Ensino da Física na Educação Contemporânea; Revista do Professor de Física, Brasília, vol. 1, n. 1 • 2017. PRENSKY, M. Digital Natives, Digital Immigrants. On the Horizon - MCB University Press, Vol. 9 No. 5, Outubro 2001. PRENSKY, Marc. What Can You Learn from a Cell Phone? Almost Anything!, Innovate: Journal of Online Education, Nova Southeastern University, Fort Lauderdale, Vol. 1, No. 5, Junho /Julho 2005. ROCHA, Sinara Socorro Duarte. O uso do Computador na Educação: a Informática Educativa. Revista Espaço Acadêmico. No.85, Junho de 2008. TANAKA DOS SANTOS, Hugo Shigueo; GARDELLI, Daniel. Análise da Lei de Biot-Savart em comparação com a força entre elementos de corrente de Ampère. Caderno Brasileiro de Ensino de Física, v. 34, n.3, 2017. VIEIRA, Leonardo Pereira; AGUIAR, Carlos Eduardo. Experimentos com o Magnetômetro de Tablets e Smartphones. 2013. Dissertação (Mestrado Ensino de Física) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Outubro de 2013.
- 128. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 11 119 REDESIGN DE UMA SEQUÊNCIA DE ENSINO APRENDIZAGEM SOBRE AROMAS PARA O ENSINO DE QUÍMICA CAPÍTULO 11 doi Elton Kazmierczak kazmierczak.elton@gmail.com Universidade Estadual de Ponta Grossa, Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Educação Matemática Ponta Grossa – Paraná Jeremias Borges da Silva silvajb@uepg.br Universidade Estadual de Ponta Grossa, Departamento de Física Ponta Grossa – Paraná RESUMO: Este trabalho é parte inicial de uma dissertação de mestrado que estuda a aplicação de sequências didáticas no ensino de química.Tendo em vista as lacunas de aprendizagem, as dificuldades inerentes dos alunos, as metodologias pouco diversificadas nas salas de aula, o conhecimento fragmentado e desvinculado do cotidiano do aluno, esse trabalho busca analisar o design e estrutura de uma sequência de ensino-aprendizagem (SEA) da perspectiva de Mehéut & Psillos (2004) para elaborar uma nova estrutura, portanto, um redesign. Dessa forma, o artigo possui duas partes, a primeira é a discussão dos referenciais teóricos e a segunda trata-se da análise do design de uma SEA sobre funções orgânicas da temática “Aromas e odores” discutindo seus pontos positivos e negativos, vantagens e desvantagens para justificar a elaboração da nova sequência, chamado de Redesign. O Redesign apresenta abordagens com melhor interação entre as dimensões epistêmica e pedagógica, além de incluir novas funções orgânicas e de algumas atividades educacionais. PALAVRAS-CHAVE: Sequências de Ensino Aprendizagem, Mehéut, Aromas, Funções Orgânicas, Pesquisa Baseada em Design ABSTRACT: This work is the initial part of a dissertation of masters degree in Teaching of Science and Mathematics Education, and in view of the learning gaps, the inherent difficulties of students, the little diversified methodologies in classrooms, the fragmented knowledge and detached from the everyday life of the students, this study seeks to analyze the design and structure of a teaching-learning sequence (TLS) from the perspective of Mehéut & Psillos (2004) to elaborate a new structure, therefore, a redesign. In this way, the article has two parts, the first is the discussion of theoretical references and the second is the analysis of the design of a SEA on organic functions of the theme "smells and odors" discussing their positives and negatives points, advantages and disadvantages to justify the elaboration of new sequence, called Redesign. The redesign introduces approaches with better interaction
- 129. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 11 120 between the epistemic and pedagogical dimensions, as well as adds new organic functions and the withdrawal of another and some activities. KEYWORDS: teaching-learning sequence, Mehéut, smells, Organic Functions, Design Based Research 1 | INTRODUÇÃO E REFERENCIAL TEÓRICO O Ensino de química para o ensino médio, vem encontrando diversas dificuldades para alcançar seu objetivo de uma aprendizagem realmente significativa. Muitos são os desafios e obstáculos, sejam as lacunas de aprendizagem, o conhecimento ou conteúdo apresentado de forma fragmentada, as dificuldades inerentes à aprendizagem dos alunos, o conhecimento desvinculado da realidade e cotidiano do aluno, ou seja, pouco contextualizado, e um dos mais discutidos, que diferencia o ensino positivista e tradicional do ensino construtivista, a transmissão de conteúdo e não a mediação. Freire (2018) considera o aluno como paciente de transferência do objeto ou do conteúdo de conhecimento quando ocorre simples e unicamente a chamada memorização mecânica, já que a “memorização mecânica do perfil do objeto não é aprendizado verdadeiro do objeto ou do conteúdo” (FREIRE, 2018, p.67). Considerando todas as dificuldades de aprendizagem de sala de aula, os obstáculos para a prática docente, a formação do professor, condições de trabalho, etc., é necessário e urgente que o professor seja realmente um professor reflexivo. Pois, sua prática precisa ser constantemente pensada e repensada, junto do suporte teórico adequado, para passar pelo processo de reflexão na ação e reflexão sobre a ação. Vale salientar aqui que não se deve usar o termo “professor reflexivo” como modismo ou âncora de bom discurso e slogan, mas dizê-lo sabendo seu verdadeiro papel e finalidade a fim de executar os processos reflexivos. (SHIGNOV NETO & FORTUNATO, 2017). Freire ressalta a importância da reflexão quando diz que a “reflexão crítica sobre a prática se torna uma exigência da relação teoria/prática sem a qual a teoria pode ir virando blá-blá-blá e a prática, ativismo.” (FREIRE, 2018, p. 24). 1.1 Sequências de Ensino-Aprendizagem e a Metodologia Dbr Na busca de compreender as concepções alternativas e prévias dos alunos, surge o Movimento das Concepções Alternativas (MCA), e o conceito de sequência didática como um pacote curricular de curto prazo busca auxiliar os alunos a compreender os conceitos científicos juntamente na compreensão de suas concepções. Nessa tradição de investigação em educação científica, o ensino e aprendizagem são investigados em nível micro (sessões específicas) ou em nível médio (uma única sequência de tópicos), contrariando os currículos de longo prazo. (KARIOTOGLOU & TSELFES, 2000). Remontando as pesquisas educacionais da década de 70 e 80, Mehéut & Psillos (2004) elaboram projetos e implementação de currículos de curto a médio prazo, a qual chamam de sequências de ensino-aprendizagem (SEA), do
- 130. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 11 121 inglês teaching-learning sequence (TLS), e definem como “uma atividade de pesquisa interventiva quanto um produto, como um pacote tradicional de unidade curricular, que inclui atividades de ensino-aprendizagem bem pesquisadas, empiricamente adaptadas ao raciocínio do aluno.” (MEHÉUT & PSILLOS, 2004, p. 516).Considera-se uma atividade de pesquisa, pois possui duplo caráter, enquanto atua como pesquisa-ação para lidar com diversos problemas e objetivos do ensino e aprendizagem, também há seu papel de desenvolvimento para situar no meio escolar em situações reais. Logo, a TLS envolve pesquisa e desenvolvimento para o entrelaçamento de projetos, desenvolvimento e aplicação de sequências de ensino sobre tópicos específicos, os quais seguem um processo cíclico iluminado por ricos dados de pesquisa. (MEHÉUT & PSILLOS, 2004, LIJNSE, 1994,1995). Considerando quatro componentes básicos: professor, aluno, conhecimento científico e mundo material, Mehéut & Psillos (2004) elaboram um losango didático (Figura 1) o qual demonstra seu esquema de classificação que regula e auxilia na estruturação da construção de SEAs. Figura 1: Losango Didático. Fonte: Mehéut & Psillos (2004) Durante o planejamento e aplicação de uma TLS, o professor-pesquisador deve ter em consideração as duas dimensões: a epistêmica e a pedagógica. A primeira visa relacionareaproximaroconhecimentocientíficodomundomaterial,comoumaformade contextualização, ou seja, relacionada ao método científico, de elaboração e validação do conhecimento científico em relação ao mundo real, e por fim, como funciona o conhecimento científico em relação ao mundo real. A dimensão pedagógica considera o papel do professor e do aluno, assim como as relações e interações sociais entre professor-aluno e aluno-aluno. A relação entre o vértice Aluno-Mundo Material está a compreensão das concepções prévias de fenômenos do mundo material (das ciências naturais) dos alunos, e próximo ao vértice “Aluno” está as formas espontâneas mais gerais de raciocínio deles. O vértice Aluno-Conhecimento Científico nos faz pensar sobre a reação, atitude e comportamento dos alunos frente ao conhecimento científico e suas formas de aprendizagem.
- 131. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 11 122 Essas concepções nos permitem organizar e sintetizar o planejamento de uma sequência de ensino-aprendizagem, e nos indica certa independência entre as duas dimensões. Muitos pesquisadores e professores buscam privilegiar uma dimensão em detrimento da outra, o que em muitos casos gera duas formas de construtivismo: o construtivismo psicológico que favorece a dimensão pedagógica que é centrada no aluno e em suas relações buscando promover sua autonomia e etc., estando nessa forma o construtivismo radical e moderado, o por outro lado o construtivismo epistêmico discute principalmente o conhecimento científico e suas formas de aprendizagem quanto ao uso de analogias e o tratamento do conhecimento como ferramenta para resolver problemas e não prioriza as relações de professor e aluno. Mehéut & Psillos (2004) propõem em seu modelo de TLS o que denominam de construtivismo integrado, que integra o psico-cognitivo e o epistêmico, chamado assim por Abordagem Construtivista Integrada em que não coloca nenhuma das dimensões abaixo de outra, mas busca integrá-las de modo que não haja nenhuma superposição e sim um agir em conjunto. A perspectiva construtivista integrada, além das características já relatadas, busca considerar a gênese histórica do conteúdo a ser ensinado, motivação para a aprendizagem, as características cognitivas dos alunos, significância do conhecimento à ser ensinado. Essa abordagem tem como base e referencial a Engenharia Didática (ARTIGUE apud MEHÉUT & PSILLOS, 2004) e Reconstrução Educacional (KATTMANN et AL MEHÉUT & PSILLOS, 2004). 1.2 Metodologia DBR e sua relação com a TLS Cada intervenção deve visar uma inovação para o ensino de ciências contribuindo para melhores resultados, a fim de aperfeiçoar tal empreitada pode ser utilizada a metodologia de pesquisa baseada em design, do inglês “design based research” (DBR), que busca auxiliar no planejamento de atividades a serem implementadas em contextos reais de sala de aula. Essa metodologia, que evolui ciclicamente e pode ser utilizada para diversas outras abordagens, não apenas para a TLS, surgiu na década de 1990 para desenvolver uma metodologia de pesquisa que aliasse aspectos da pesquisa teórica com a prática. DBR-Collective (2003) define DBR como uma pesquisa que combina a pesquisa teórica em educação com ambientes de aprendizagem, e consiste em processos de gerenciamento de designs, sendo uma metodologia que busca compreender se inovações educacionais funcionam ou não. Esse gerenciamento busca controlar o processo de produção e implementação de uma inovação em contextos e situações reais de sala de aula. O controle da pesquisa baseada em design ocorre no processo como um todo desde sua criação/ideia até sua avaliação pós-aplicação. Por causa do seu caráter cíclico, o que é aprendido no primeiro design deve contribuir para a elaboração do próximo design. Além de ocorrer com uma equipe formada para o processo de elaboração do design e o ideal é que o professor aplicador do design seja participante do processo de elaboração do design.
- 132. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 11 123 (KNEUBILL & PIETORECOLA, 2017). A metodologia DBR busca promover e estreitar a ligação entre as dimensões teórica e prática do conhecimento educacional, para isso, é necessário a proposição de um princípio de design. KNEUBILL & PIETROCOLA (2017, p.3) afirmam que “o processo de implementação de uma inovação nasce do desejo de aplicar algum princípio teórico (tomados como princípios de design na metodologia) a um ambiente real, que poderia, por exemplo, ser a sala de aula.”. Em que ambas as dimensões buscam contribuir com um novo conhecimento escolar. Veremos a seguir as etapas percorridas na metodologia DBR: i) Princípios de design: estão associados aos aspectos teóricos e devem nortear todo o desenvolvimento do design para que a implementação seja coerente com o mesmo. Eles orientam e dão sustentação e base para a construção e aplicação do design do produto e devem ser coerentes com aspectos reais e práticos de situações escolares. Nesse momento é que se seleciona um tema e o conteúdo específico a ser trabalhado dependendo das inovações a serem propostas, seja de natureza didático-pedagógica metodológica ou de inovação de conteúdo científico, ou seja, algum conteúdo incomum ou pouco trabalho nos currículos. ii) Design: é a estrutura, projeto ou desenho do produto a ser aplicado. Nessa etapa, sua construção é realizada por uma equipe de especialistas, nesse caso professores, e é importante que o professor aplicador esteja presente e ativo na elaboração. Para fortalecer sua construção, deve-se incluir objetivos gerais e específicos relacionados ao conteúdo específico. iii) Implementação: é o momento de aplicar e inserir o produto (sequência de aulas) em sala de aula, e, considerando que o professor aplicador domine o conteúdo a ser abordado, o fracasso ou sucesso da sequência dependerá unicamente das avaliações da TLS, suas estratégias e envolvimento interessado ou não dos alunos. Nesse momento, também, são gerados os dados para análise posterior da TLS. iv) Avaliação: pretende-se avaliar a TLS se atingiu ou não seus objetivos, se a aprendizagem e ensino ocorreu conforme o esperado e quais pontos qualitativos e quantitativos produziu como resultados de novos conhecimentos. Mehéut & Psillos (2004) adotam duas formas de avaliação/validação, externa e interna. A primeira é realizada por meio de pré e pós testes ou comparando com outra turma que não tenha participado da sequência, a segunda busca analisar os efeitos da sequência verificando se atingiu seus objetivos. Para possuir dados coerentes de análise é necessário utilizar de instrumentos de avaliação que forneçam de forma adequada. v) Redesign: de acordo com os dados e resultados coletados da primeira implementação, é gerado um redesign que consiste em replanejar reestruturar o design com base nas avaliações de sucesso e insucesso. Esse processo
- 133. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 11 124 cíclico pode ser refeito diversas vezes e ser aplicado em contextos variados. Nos redesigns são considerados as dificuldades e obstáculos de aprendizagem dos alunos, questões sobre o conteúdo, dificuldades do professor e estratégias de ensino. Podemos simplificar todas as etapas na Figura 2: Figura 2: etapas do processo de design. Fonte: KNEUBILL & PIETRECOLA (2017) Portanto, essa investigação tem por objetivo refletir e analisar um design de uma SEA sobre aromas e funções orgânicas, publicada por KAZMIERCZAK et al (2018), para elaborar uma nova estrutura refletindo sobre seus pontos positivos e negativos, vantagens e desvantagens, fatores de sucesso e insucesso, portanto um redesign. 2 | RESULTADOS E DISCUSSÃO - ANÁLISE DA SEA E REDESIGN Antes de iniciar a discussão e reflexão propriamente ditas sobre a SEA e seu Redesign é necessário ressaltar dois pontos. O primeiro trata-se que a primeira sequência faz parte do Trabalho de Conclusão de Docência (TCD) referente à disciplina de Estágio Supervisionado, e a segunda sequência faz parte de uma pesquisa de mestrado. O segundo ponto nos diz quanto ao contexto, o colégio da primeira e da segunda sequência fazem parte da mesma região da cidade de Ponta Grossa – PR, e ambos os colégios possuem como seu princípio e objetivo incentivar os alunos para o estudo ao vestibular visando sua aprovação. O princípio de design guiado para as TLS’s sobre aromas e odores é: “a temática sensação do olfato (aroma e odor) pode gerar uma aprendizagem significativa para o ensino de funções orgânicas utilizando-se de estratégias diversificadas e plurais através dessa contextualização”. Esse princípio norteou toda a construção a fim de diversificarmos as estratégias e técnicas durante as aulas, estando presentes as seguintes: exibição de vídeo (trecho do filme Perfume: a história de um assassino), jogo do olfato, análises sensoriais, atividades em grupo, seminário na forma de apresentação oral, aulas expositivas e dialogadas e aula experimental.
- 134. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 11 125 A escolha do tema “aroma e odor” foi proposto por atender ao resultado do questionário aplicado para se conhecer as concepções prévias dos alunos sobre sensações (KAZMIERCZAK et al, 2018), porém, ainda mais por se tratar de um dos sentidos que menos nos damos conta de sua importância, presença e caráter contextualizador para o conhecimento de funções orgânicas.Assim, pode-se aproximar o conhecimento científico do mundo material e cotidiano dos alunos relacionando os aromas de frutas, flores, ervas, especiarias e outros, à suas moléculas aromatizantes de acordo com sua função orgânica. Dessa forma, organizou-se essa sequência de modo que os aromas e odores estivessem de acordo com sua função orgânica. Cada aula é configurada em seu início por uma motivação inicial, gerando um momento de diálogo e de elaboração de questões sobre o olfato, sensações, sistema olfativo e temas relacionados. Geralmente também ocorre a análise sensorial dos alimentos e vegetais para que os alunos vivenciem com mais atenção esta experiência de sentirem seus aromas. Portanto, essa etapa se dará a significação, motivo e importância de se estudar o que virá em seguida no desenvolvimento: o estudo das funções orgânicas. Durante o desenvolvimento são abordados o conteúdo funções orgânicas, conforme disposição no Quadro 1 abaixo. Para não ser negligenciado frente à temática, trabalha-se suas definições, propriedades, fórmula estrutural e nomenclatura. Funções Tra- balhadas N° de aulas Motivações Aromas e Odores Recursos Didáticos Álcool 8 aulas Sensações, aromas e siste- ma olfativo. Ervas; Flores Rosa para sentirem o aroma, aula prática Jogo do Olfato e de- terminação do álcool da gasolina; Aldeído 2 aulas Importância dos aromas Especiarias e ali- mentos do cotidia- no Estrutura Molecular com gomas e palitos Cetona 2 aulas Trecho de filme Especiarias e ali- mentos do cotidia- no Pipoca e manteiga; Trecho de Filme. Ácido Carboxílico 2 aulas Memória olfa- tiva Cheiros desagra- dáveis Vinagre, Slides para diálogo so- bre memória olfativa; Éster 6 aulas Frutas e óleos essenciais Flavorizantes, aromatizantes de frutas Essências e extração do eugenol do cravo Amina 2 aulas Relação de neurotransmis- sores Cheiro de cadáve- res, etc. Trabalho cultural desenvolvido pelos alunos. Quadro 1 – Estrutura geral das aulas desenvolvidas na TLS da 1ª SEA Fonte: KAZMIERCZAK et al (2018). Este estudo não apresenta os resultados de sua aplicação, apenas a discussão e as justificativas das mudanças entre o primeiro design da SEA, e após sua aplicação e validação discutidas por KAZMIERCZAK et AL (2018), e o redesign que forma a
- 135. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 11 126 segunda SEA. A função hidrocarboneto possui algumas moléculas que são passíveis de serem abordadas nessa temática, como por exemplo, o limoneno, mirceno, óleo de terebentina e outros, por essa razão e para diversificar os aromas na apresentação oral de seminário, adicionou-se essa função orgânica para o redesign. Ao contrário, a função amina que possui apenas dois compostos que causam a sensação de aroma a serem abordados: cadaverina e putrescina, e os neurotransmissores que causam sensação de bem-estar (dopamina, serotonina e outros), não houve bons resultados quanto à aprendizagem e interesse dos alunos. A falta de interesse deles nesse caso pode ser justificada pela falta de explanação quanto à sua atuação no Sistema Nervoso Central (SNC), e pela sequência das aulas que tornou o tema repetitivo. Portanto, retirou-se essa função no redesign. A exibição do trecho de filme “Perfume: a história de um assassino” demonstrou- se ser vantajosa para motivar e atrair a atenção dos alunos quanto ao tema, e por conta disso, considera-se mais oportuno abordar o filme próximo ao início da sequência, adicionando as cenas que destacam o perfume, sua produção, notas, destilação simples e método enfleurage. Para isso, abordamos de forma mais detalhada no redesign conceitos como volatilidade, óleos essenciais e perfumes integrando os mesmos à vida dos alunos e suas interações sociais. O trabalho artístico cultural desenvolvido pelos alunos foi favorável a aprendizagem, assim como o seminário, por estarem relacionados ao gosto pessoal e ao saber fazer cultural e/ou artístico. Porém, os trabalhos que relacionaram com a profissão desejada de cada aluno não atingiu ao objetivo esperado. Para a nova sequência estes não serão solicitado, mas apenas a relação arte-ciência. A presença de alimentos, aromatizantes, frutas e essências despertou o interesse dos alunos pelo fato de estar relacionando com sua vida prática, por outro lado, também por ser uma atividade diferente do tradicional de sala de aula. Por sua vez, o Jogo do Olfato consiste em dividir a turma em grupos e vendar todos os alunos para aproximar de seus narizes alimentos, vegetais ou itens do cotidiano em geral para que, por uma análise sensorial, pudessem lembrar-se do cheiro característico de cada um. Essa atividade mobilizou e os conscientizou sobre a importância do olfato nas suas vidas, tornando-o um fator de sucesso na sequência. Assim, decidimos manter essa atividade para o redesign. Durante as aulas expositivas e nas reuniões em grupos houve momentos de indisciplina e falta de engajamento que não favoreceram a aprendizagem. A dispersão da turma nos fez repensar outras formas de envolver os alunos sem que prejudicasse o desenvolvimento das atividades e, por consequência, a sua aprendizagem. Outro fator de insucesso está relacionado a aspectos da organização escolar. Muitas aulas foram prejudicadas devido a realização de eventos da escola, tais como palestras, ensaio para festa junina, reuniões de formatura, entre outros. A atividade Estrutura Molecular com goma e palitos que consistia em formar a fórmula estrutural de diversos
- 136. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 11 127 compostos orgânicos foi retirada para a segunda sequência, o Redesign, devido ao fato de abordar majoritariamente a dimensão pedagógica se sobrepondo sobre a dimensão epistêmica, pois prevalecia as interações sociais não havendo relação explícita entre o conhecimento químico funções orgânicas e aromas e odores, deste modo essa atividade está ausente no redesign. No Quadro 2 abaixo, encontra-se a estrutura geral do redesign da segunda SEA explicitando as funções orgânicas discutidas nas aulas, o número de aulas para cada função, a motivação de cada tópico, os aromas estudados e explorados, a metodologia das aulas e os momentos de avaliação. Funções Orgânicas N° de aulas Motivações Aromas e Odores Metodologia das Aulas Momentos de Avaliação Hidrocarbonetos 8 Sensações, o que são? SNC. Perfumes e óleos essenciais. Laranja e limão (limoneno), mirceno, terpinoleno, cariofileno, α-pineno e entre outros. Trecho do Filme: Perfume a História de um Assassino. Atividades Avaliativas em grupo Álcool 6 Perfumes e óleos essenciais Hortelã (mentol), óleo de pinho (α-terpineol), rosas (geraniol), linalol(manjericão, bergamota, etc), bisabolol(camomila) e anis estrelado (anetol) Seminário na forma de Apresentação Oral. Jogo do Olfato. Seminário na forma de Apresentação Oral e Jogo do Olfato Ácido Carboxílico 2 Memória Olfativa e cheiros desagradáveis. Cheiros desagradáveis como ácido capróico, valérico, butírico, e acético e etc. Aulas sensoriais e expositivas dialogadas. Prova Escrita. Aldeído e Cetona 4 Sistema Olfativo, Propriedades dos aromatizantes. Pipoca, manteiga(butiraldeído), queijo(butano-diona), carvona, capim limão (citral), arruda(metilnonilcetona e metilheptilcetona), citronela (citronelal), baunilha (vanilina), canela (trans-cinamaldeído), framboesa (p-hidroxifenol-2- butanona), cerejas e pêssegos (benzaldeído), amêndoas (salicilaldeído) Aulas sensoriais e expositivas dialogadas. Atividades avaliativas individuais e em grupo. Éster 4 Métodos de obtenção e extração de óleos essenciais: tipos de destilação; Flavorizantes e perfumes. Aromas naturais e artificiais. Ésteres de diversas frutas, aromatizantes comerciais, amaciantes, sucos, salada de frutas. Aulas sensoriais e expositivas dialogadas Atividades em grupo e resolução de problemas, Produto Artístico Cultural (após o encerramento da sequência). Quadro 2 – Redesign geral da Segunda SEA Nessa segunda TLS foram incluídas as dimensões epistêmica e pedagógica de forma otimizada e diferenciada da primeira TLS. Por exemplo, nos momentos de resolução de exercícios e problemas, a turma foi reunida em grupos para promover
- 137. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 11 128 interações sociais e compartilhamento de informações, conhecimentos e auxílios. Nos momentos de correção, cada grupo é responsável por corrigir um exercício à frente da sala, isso é feito para promover a responsabilidade e conscientização na divulgação do conhecimento e de sua construção. Além de trazer questões sobre as representações simbólicas (nomenclatura e fórmula estrutural), procuramos abordar e trabalhar questões sobre a temática sensação olfato e suas curiosidades (o que não era feito na primeira SEA), tais como: “Qual é a importância da nossa capacidade de distinguir aroma desagradáveis dos agradáveis? Explique de forma sucinta, quais as características e propriedades que um composto orgânico precisa ter para causar a sensação de aroma e odor? Como o bolo de cenoura possui aroma e sabor de cenoura ou como a bala de canela possui aroma e sabor de canela? O professor Tomás ensinou seus alunos a realizarem o seguinte experimento para o dia dos namorados: acender uma vela em um pirex e ao seu redor colocar pétalas de rosas ou ramas de canela e cravos para que o ambiente ficasse com cheiro de rosas ou cravos e canelas. Qual a explicação para esse fenômeno do ambiente estar com o cheiro dos vegetais?”. Essa mudança se fez necessária para que os alunos pensassem não apenas no universo simbólico da química, e sim como ela se faz presente, por meio da sensação do olfato, qualitativamente em sua vida e como a afeta. A finalidade dessa mudança é a promoção de maior aproximação do conhecimento científico ao mundo material (dimensão epistêmica) e enriquecer as discussões nas aulas expositivas dialogadas e correções (dimensão pedagógica). Por correções entenda-se como os momentos em que os alunos têm a oportunidade de corrigir os exercícios propostos por meio de interações sociais entre professor-aluno e aluno-aluno. Uma das vantagens dessa sequência é o fato dos aromas e odores estarem sempre presente na vida dos alunos, ou seja, há certa facilidade em trabalhar o assunto por já conhecem o tema pela sua vivência cotidiana. Houve a dificuldade devido a infraestrutura da escola que não oferece condições de espaço e materiais para a realização dos experimentos de extração de óleo essencial, isso aconteceu nos dois colégios, mas para a segunda aplicação foi promovida uma visita à Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) para realização desses experimentos em seus laboratórios. O estudo das funções fenóis e hidrocarbonetos aromáticos foi realizado por meio de tarefas fora de sala de aula. A tarefa foi a realização de uma pesquisa teórica para os alunos, a fim de desenvolverem sua autonomia e senso de responsabilidade quanto ao próprio conhecimento a ser construído. Os alimentos (frutas, ervas, especiarias, temperos e vegetais) descritos na coluna Aromas e Odores do Quadro 2 referem-se a substâncias que causam a sensação de aroma e odor que irão ser trabalhadas durante as aulas, podendo ou não serem levados no início das aulas para serem cheiradas e degustadas, caso possível, para passar por análise sensorial nos alunos. Além de todas as mudanças já relatadas, por fim, houve algumas adequações e mudanças na ordem das motivações.
- 138. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 11 129 Embora não esteja descrito, mas toda etapa terá seu momento de aula expositiva e dialogada. Para manter a dimensão pedagógica sempre presente, será sempre incentivado a interação professor-aluno e aluno-aluno, mesmo em momentos comuns e por questionamentos, tais como: “Fulano, você concorda com o que disse Beltrano?”, “Alunos, o que vocês sabem sobre isso?”, “Ciclano, você entendeu agora?”. Devido ao limite de página não foi possível inserir os detalhes de cada aula junto de seus objetivos, data, motivação e conteúdo. Os detalhes de cada aula junto de seus objetivos encontram-se no Quadro 3 abaixo. Função Orgânica Nº de Aulas Data Objetivos Conteúdo Motivação/ Descrição da Atividade Hidrocarbonetos 2 18.04 Introduzir a temática sensação, aroma, olfato e a primeira função orgânica hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos de cadeia normal e sua nomenclatura. Suco natural de limão, o que é sensação, o que é a sensação do olfato, aroma e odor. 2 25.04 Discutir a presença e a relação das sensações do olfato com o Sistema Nervoso Central. Perceber e discutir sobre óleos essenciais e os aromas presentes em alimentos do dia a dia. H. de cadeia ramificada e fechada e sua nomenclatura Bolo de limão e refrigerante de laranja, qual a relação das sensações com o SNC? 2 02.05 Socializar ideias sobre o uso de perfumes, o sentido do olfato, profissões que usam olfato, o dom do personagem principal do filme. Colaborar e promover a cooperatividade em grupo para resolução de exercícios. Resolução de exercícios Trechos do filme: “Perfume História de um assassino”, quais profissões usam o olfato? Conversando sobre o filme. 2 09.05 Sensibilizar sobre a presença da química e dos aromas nos perfumes comerciais. Discutir o que são perfumes e como são produzidos. Correção dos exercícios Embalagens de perfumes; O que são perfumes? Solicitar pesquisa sobre fenóis e hidrocarbonetos aromáticos; Álcool 2 16.05 Compreender os aspectos químicos e diferenças entre álcool e hidrocarbonetos. Definição de álcool, propriedades e nomenclatura. Discussão sobre óleos essenciais. Hortelã, buquê de rosas, atividade experimental demonstrativa da solubilidade do álcool na água; O que são óleos essenciais? 2 23.05 Compreender a importância do olfato e como seu uso pode afetar nossas relações com as pessoas e com o mundo. Correção dos exercícios Jogo do Olfato e depois correção dos exercícios; 0 30.05 Sem aula devido à greve dos caminhoneiros suspendendo-se assim as aulas dos colégios estaduais do NRE de Ponta Grossa-Pr 2 06.06 Socializar e compartilhar seu conhecimento construído com os colegas através de uma interação promovida por seminário. Apresentação oral por parte dos alunos sobre alguns aromatizantes Apresentação Oral de um seminário.
- 139. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 11 130 Ácido Carboxílico 2 13.06 Perceber como os maus cheiros afetam nossa vida através de uma discussão sensibilizadora. Definição, propriedades e nomenclatura; Prova/Memória Olfativa (frasco não identificado com vinagre) Aldeído e cetona 2 20.06 Distinguir e argumentar o porquê nem todas as moléculas orgânicas apresentam aroma e/ou odor. Definição, propriedades e nomenclatura. Correção e retorno da prova na 2ª Aula. Propriedades de um Aromatizante para causar a sensação de aroma; Bala de canela e arruda; Éster 2 03.07 Discutir os aspectos sociais, econômicos e ambientais para o uso de aromas naturais e artificiais e sua respectiva extração e produção. Definição, propriedades, nomenclatura e reação de esterificação; Exercícios; Ésteres e aromas de frutas. Salada de frutas com frutas diversas. 2 10.07 Finalizar a sequência com confraternização e conversa sobre as aulas. Correção dos exercícios e confraternização. Métodos de extração (tipos de destilação); Recuperação; Quadro 3 – Design detalhado das aulas da segunda SEA 3 | CONSIDERAÇÕES FINAIS O trabalho docente não visa apenas seu cumprimento de ensino, ele deve sobretudo observar seu cumprimento quanto a aprendizagem dos alunos e como isso reflete sobre sua prática. Se é capaz de refletir sobre ela e mudar suas estratégias, métodosetécnicasdeensinovisandoaulascontextualizadas,nãofragmentadas,porém sem negligenciar o conhecimento escolar, sempre conhecendo as concepções prévias e formas de pensar do alunado. Os resultados obtidos, independente do contexto e do design, dependem também do grau de interesse, envolvimento e disciplina dos alunos. O professor por mais reflexivo e interessado por promover uma aprendizagem significativa estará sujeito à reação dos alunos. Cabe ao professor pensar e repensar em meios que possam levar a um melhor aproveitamento, causando interesse e motivação aos alunos. Após as atividades se observou que muitos alunos ainda possuíam dificuldade nas questões de nomenclatura e em desenhar as fórmulas estruturais de acordo com o nome. Porém, com o redesign a avaliação contemplou aspectos referentes a sensação de olfato e aromas além do universo simbólico. Durante as aulas, os alunos demonstraram interesse quando se discutia sobre perfume, bebidas alcoólicas e preservativos (aromas e sabores presentes neles). A nova sequência, portanto, propõe uma melhor integração entre as dimensões epistêmica e pedagógica permitindo interações sociais adequadas entre professor-aluno e aluno-aluno na busca de aproximar o conhecimento científico do mundo real, e as motivações iniciais utilizadas colaboraram para tal.
- 140. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 11 131 REFERÊNCIAS DBR-Collective. Design-Based Research: An Emerging Paradigm for Educational Inquiry. Educational Researcher, 2003, 32(1), 5–8. DOI:10.3102/0013189X032001005 FREIRE, P. PEDAGOGIA DA AUTONOMIA SABERES NECESSÁRIOS À PRÁTICA EDUCATIVA. 56. Ed. Rio de Janeiro/São Paulo: Paz e Terra, 2018. 143 p. KAZMIERCZAK, E.; ROCHA, R. N. da; SKEIKA, T.; FREIRE, L.I.F.; SILVA, J.B. da; Aromas e odores: ensino de funções orgânicas em sequência de ensino-aprendizagem. ACTIO, Curitiba, v. 3, n. 2, p. 178-193, mai./ago. 2018. Disponível em: <https://periodicos.utfpr.edu.br/actio>. No Prelo. KARIOTOGLOU, P., TSELFES, V. (2000), Science Curricula: Epistemological, Didactical and Institutional Approach. Epitheorisi Fisikis, 31, 9-28. KNEUBIL, F.B.; PIETROCOLA,M. A Pesquisa Baseada em Design: Visão Geral e Contribuições para o Ensino de Ciências. INVESTIGAÇÕES EM ENSINO DE CIÊNCIAS, v. 22, n. 2, p.01-16, Ago, 2017. LIJNSE, P.-L. (1994) La recherche-d´eveloppement: une voie vers une ‘structure didactique’ de la physique empiriquement fond´ee. Didaskalia, 3, 93–108. LINJSE, P.-L. (1995) ‘Developmental Research’ as a way to an empirically based ‘Didactical Structure’ of science, Science Education, 79(2), 189–199. MEHÉUT,M. and PSILLOS, D. Teaching-Learning Sequence: aims and tools for science education research. International Journal of Education Science, v.26, n.5, pp. 515-535, 2004. MEHÉUT,M. Teaching-Learning Sequences tools for learning and/or research. In: Research and Quality of Science Education (Eds. Kerst Boersma, Martin Goedhart, Onno de Jong e Harrie Eijlhof). Holanda: Springer, pp. 195-207,2005. Perfume: a Perfume: a história de um assassino. Direção: Tom Tykwer, Produção: Bernd Eichinger 26 de Jan de 2007história de um assassino. Direção: Tom Tykwer, Produção: Bernd Eichinger 26 de Jan de 2007 RODRIGUES, G. M.; FERREIRA, H. S.. Elaboração e análise de Sequências de Ensino- Aprendizagem sobre os estados da matéria. VIII Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências, 8, Campinas,. Anais... Campinas: UNICAMP, 2011. v. 1, p. 1-12, 2011. SHIGNOV NETO, A., FORTUNATO, I.. Donald Schön e o “professor reflexivo”. In: SHIGNOV NETO, A., FORTUNATO, I.(Org.). 20 anos sem Donald Schön: o que aconteceu com o professor reflexivo? São Paulo: Edições Hipótese, 2017, 137p.
- 141. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 12 132 A INTEFERFACE DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NA EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA CAPÍTULO 12 doi Edineide Rodrigues dos Santos UERR- Universidade Estadual de Roraima Boa Vista-RR Maristela Bortolon de Matos IFRR – Instituto Federal de Roraima Boa Vista-RR Sérgio Luiz Lopes UFRR – Universidade Federal de Roraima Boa Vista-RR RESUMO: A interface da Educação Especial na Educação Escolar Indígena é um tema atual, porém, pouco abordado no meio acadêmico nos últimos anos. O objetivo deste estudo é verificar como vem se constituindo a interface da Educação Especial na Educação Escolar Indígena. A pesquisa apresenta os conceitos de Educação Especial e Educação Escolar Indígena, destacando a interface entre as duas áreas. Nesta perspectiva, utilizou-se o materialismo histórico-dialético e os fundamentos da Pedagogia Histórico- Critica, para embasar o desenvolvimento da referida pesquisa. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica e documental. A pesquisa destaca osestudosdosautoresSáeCia(2012),Sá(2012) e Silva (2013), que abordam sobre a interface da Educação Especial e da Educação Escolar Indígena. Os resultados da pesquisa apontam que essa interface existe e que há alunos com deficiência intelectual em escolas indígenas, no entanto, o atendimento educacional especializado oferecido nas mesmas é apenas a mera reprodução do modelo não indígena de atendimento às crianças com deficiência (SILVA, 2013). Sá (2012) constatou que a formação inicial e continuada, tanto dos professores indígenas como de áreas remanescentes de quilombos, não contempla a interface da Educação Especial com a Educação Escolar Indígena e Quilombola. Neste sentido, percebe- se que a interface da Educação Especial na Educação Escolar Indígena não está sendo concretizada na prática, e por mais que esse direito a escolarização seja garantido em lei, ainda está sendo efetivado de forma ineficaz. Foi possível constatar que as pesquisas relacionadas a “A interface da Educação Especial na Educação Escolar Indígena” são reduzidas, o que demonstra a relevância de ampliação de pesquisas com esta temática. PALAVRAS-CHAVE: Interface. Educação Especial. Educação Escolar Indígena. ABSTRACT: The interface of Special Education in Indigenous School Education is a current theme, but little discussed in academic circles in recent years. The objective of this study is to verify how the interface of Special Education in Indigenous School Education has been constituted. The research presents the concepts
- 142. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 12 133 of Special Education and Indigenous School Education, highlighting the interface between the two areas. In this perspective, historical-dialectical materialism and the foundations of Historical-Critical Pedagogy were used to support the development of this research. A bibliographical and documentary research was carried out. The research highlights the studies of Sá and Cia (2012), Sá (2012) and Silva (2013), which deal with the interface of Special Education and Indigenous School Education. The results of the research indicate that this interface exists and that there are students with intellectual disabilities in indigenous schools, however, the specialized educational service offered in them is merely the reproduction of the non-indigenous model of care for children with disabilities (SILVA, 2013) . Sá (2012) found that the initial and continued training of both indigenous teachers and remaining quilombos areas does not include the interface of Special Education with Indigenous and Quilombola School Education. In this sense, it is perceived that the interface of Special Education in Indigenous School Education is not being concretized in practice, and although this right to schooling is guaranteed by law, it is still being ineffective. It was possible to verify that the research related to “The interface of Special Education in Indigenous School Education” are reduced, which demonstrates the relevance of expanding research with this theme. KEYWORDS: Interface. Special education. Indigenous School Education. 1 | INTRODUÇÃO A Educação Especial para efeitos da lei é “a modalidade educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento altas habilidades/superdotação” (BRASIL, 1996). O Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas-RCNEI, de1998 define quatro características para as escolas indígenas, são elas: comunitária, intercultural, bilíngue/multilíngue, específica e diferenciada. Diante disso, entende- se que a Educação Escolar Indígena deve ser mediada a partir do respeito a essas características, que são essenciais para a aprendizagem das comunidades indígenas. A interface da Educação Especial na Educação Escolar Indígena é um tema atual, porém pouco enfatizado por pesquisadores, educadores. No entanto, acredita- se que a Constituição Federal (CF) de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional-(LDBEN) de 1996 já representam um avanço nesta interface. A CF e a LDBEN não apresentam ações voltadas para Educação Especial com foco na Educação Escolar Indígena. Contudo, a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL,2008) contempla essa interface. Nessa pesquisa utilizou-se do Materialismo Histórico Diabético e da Pedagogia Histórico-Crítica, por entender que tanto o Materialismo Histórico Diabético, quanto a pedagogia em questão são essenciais para Educação Especial e Educação Escolar Indígena, pois ambos se têm a possibilidade de compreender as características,
- 143. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 12 134 necessidades e a realidade desta interface. Acredita-se que a Pedagogia Histórico-Crítica é essencial para Educação Especial e Educação Escolar Indígena, uma vez que seus fundamentos condiz com as características, necessidades e realidade das pessoas com deficiência e com os pressupostos da Educação Escolar Indígena, pois valoriza a cultura e a história, ferramentas relevantes no processo de ensino-aprendizagem dos alunos. Com isso, será utilizada a pesquisa bibliográfica, a qual destacara trabalhos realizados no período de 2012 a 2013. A perspectiva é de identificar como a relação entre Educação Especial e Educação Escolar Indígena, surge em trabalhos acadêmicos e publicações científicas deste período. A pesquisa bibliográfica permite ao pesquisador o contato com tudo o que já foi escrito sobre a temática (MARCONI e LAKATOS, 2010). Além disso, “[...] a pesquisa bibliográfica, não é mera repetição do que já foi dito ou escrito sobre certo assunto, mas propicia o exame de um tema a partir de um novo enfoque ou abordagem, chegando a conclusões inovadoras” (MARCONI e LAKATOS, 2010, p.166). Os principais autores utilizados nesta pesquisa foram: Sá e Cia (2012) que aborda sobre Interface da Educação Especial na Educação Escolar Indígena: algumas reflexões a partir do censo escolar; Sá (2012) com a pesquisa sobre Educação Especial nas escolas indígenas e quilombolas: uma discussão sobre a formação de professores, e o estudo de Silva (2013) que se refere À escolarização de indígenas com deficiência nas aldeias indígenas do município de Dourados, MS. Neste sentido, faz-se necessário discutir sobre a interface da Educação Especial e Educação Escolar Indígena, pois existem poucos estudos voltados para essa temática. Acredita-se que ela deve ser debatida pelas comunidades indígenas, professores, pesquisadores, acadêmicos. Assim o objetivo geral deste artigo é verificar como vem se constituindo a interface da Educação Especial na Educação Escolar Indígena. 2 | EDUCAÇÃO ESPECIAL Na LDBEN, o art. 58 reforça o direito dos educandos no âmbito do ensino regular. Assim define que Educação Especial para efeitos da lei, é “[...] a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação (BRASIL, 1996)”. Neste sentido, o artigo 59 da LDBEN enfatiza que os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação: I – Currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específica, para atender às suas necessidades; III – professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para
- 144. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 12 135 atendimento especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns [...] O Decreto 7611/2011 traz em seu artigo 1º inciso I e III as orientações para a construção de sistemas educacionais inclusivos: I - Garantia de um sistema educacional inclusivo em todos os níveis, sem discriminação e com base na igualdade de oportunidades (...) III – não exclusão do sistema educacional geral sob alegação de deficiência. Contudo, nota-se que o sistema regular de ensino precisa ser adaptado e pedagogicamente transformado para atender a este público-alvo, em especial aos alunos com deficiência, pois apesar de se manter a perspectiva de existência do ensino especializado, a escola regular Indígena necessita do apoio das pessoas que atuam na Educação Especial para assim contemplar as necessidades dos alunos, e isso pode ser feito mediante adequações necessárias ao atendimento educacional especializado. Neste sentido, Mantoan (2003, p. 34) destaca que “[...] mesmo sob a garantia da lei, podemos encaminhar o conceito de diferença para a vala dos preconceitos, da discriminação, da exclusão, como tem acontecido com a maioria de nossas políticas educacionais”. Nota-se que apesar da legislação, nem sempre as necessidades dos estudantes estão sendo contempladas nas escolas, inclusive nas escolas Indígenas, sendo relevante que se pesquise como se apresentam as condições de acessibilidade, recursos materiais e capacitação de profissionais da educação. 3 | EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA Sabe-se que um dos fundamentos da Educação Escolar Indígena é o reconhecimento da comunidade educativa indígena. O RCNEI, destaca que ela: [...] possui sua sabedoria para ser comunicada, transmitida e distribuída por seus membros; são valores e mecanismos da educação tradicional dos povos indígenas (...) que podem e devem contribuir na formação de uma política e práticas educacionais adequadas (BRASIL. MEC, 1988). Além disso, a escola indígena possui algumas características que as define, são elas: interculturalidade, bilinguismo, multilinguismo, especificidade, diferenciação e a participação comunitária (BRASIL, 2007). “A escola indígena se caracteriza por ser comunitária, ou seja, espera-se que esteja articulada aos anseios de comunidade e a seus projetos de sustentabilidade territorial e cultural” (BRASIL,2007, p.21). Valeressaltarque“OdireitoaumaEducaçãoEscolarIndígena[...]foiumaconquista das lutas empreendidas pelos povos indígenas e seus aliados, e um importante passo em direção da democratização das relações sociais no país" (BRASIL, 2007, p.09).
- 145. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 12 136 De acordo com o RCNEI, de1998 há quatro características que devem ser contempladas nas escolas indígenas, são elas: comunitária, intercultural, bilíngue/ multilíngue, específica e diferenciada. A CF de 1988 “[...] serviu como alavanca em um processo de mudanças históricas para os povos indígenas no Brasil [...]" (BRASIL, 2007, p.16). Mediante ela o Estado e os povos indígenas mantém uma relação transformadora na qual é rompido o caráter integracionista e homogeneizador vigente desde o período colonial, surgindo então um novo paradigma, o qual considera os indígenas como sujeitos de direitos (BRASIL, 2007). As políticas públicas relativas à Educação Escolar Indígena pós-Constituição de1988 passam a se pautar no respeito aos conhecimentos, às tradições e aos costumes de cada comunidade, tendo em vista a valorização e o fortalecimento das identidades étnicas. A responsabilidade pela definição dessas políticas públicas, sua coordenação e regulamentação é atribuída, em 1991, ao Ministério da Educação (BRASIL, 2007, p.16) Neste sentido é que "[...] iniciativas de caráter local tornam-se referência ampla para a conceituação e implementação de uma política pública de Educação Escolar Indígena [...]" (BRASIL, 2007, p.16). Vale destacar que essa política tem um novo paradigma, o qual valoriza as especificidades, diferenças, a diversidade e a interculturalidade dos povos indígenas (MONTE, 2000). Cohn (2005, p. 486) corrobora, ressaltando que: [...] a partir da C.F/1988 os índios, como todo cidadão brasileiro, passam a ter direito à educação escolar, enquanto, por outro lado, o Estado passa a ter obrigação de provê-lo, respeitando a cultura, língua e processos próprios de ensino e aprendizado de cada comunidade. Neste sentido, é que urge a efetivação da Educação Especial na Educação Escolar Indígena, por ser um direito dos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação ao serviço de atendimento educacional especializado, os quais devem ser realizados por meio de recursos adequados, de professores qualificados para o processo de ensino-aprendizagem. A LDBEN (BRASIL,1996) no art. 79 deixa claro que “A União apoiará técnica e financeiramente os sistemas de ensino no provimento da educação intercultural à comunidades indígenas, desenvolvendo programas integrados de ensino e pesquisa”.A LDBEN enfatiza que “Os programas serão planejados com audiência das comunidades indígenas”. São objetivos destes programas: I - fortalecer as práticas socioculturais e a língua materna de cada comunidade indígena; II - manter programas de formação de pessoal especializado, destinado à educação escolar nas comunidades indígenas; III - desenvolver currículos e programas específicos, neles incluindo os conteúdos culturais correspondentes às respectivas comunidades;
- 146. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 12 137 IV - elaborar e publicar sistematicamente material didático específico e diferenciado (BRASIL, 1996). Neste sentido, percebe-se quão rica é a Educação Escolar Indígena, pois ela apresenta um público intercultural. Assim faz-se necessário que seu currículo seja definido pela comunidade, a partir da realidade social dos indivíduos que a compõem, acredita-se desta forma há maiores possibilidades da efetivação da Educação Especial no contexto educacional indigena. Vale destacar que o RCNEI de 1998 define 04 característica para as escolas indígenas, são elas: comunitária, intercultural, bilíngue/multilíngue, específica e diferenciada. Assim a escola indígena é comunitária “Porque conduzida pela comunidade indígena, de acordo com seus projetos, suas concepções e seus princípios” (BRASIL, 1988, p.24). As comunidades indígenas possuem liberdade para definir seu calendário escolar, seus objetivos educacionais, seus conteúdos, a pedagogia a ser utilizada em seu ensino. De acordo com RCNEI (BRASIL,1988) a escola indígena tem característica intercultural pois: […] deve reconhecer e manter a diversidade cultural e linguística; promover uma situação de comunicação entre experiências socioculturais, linguísticas e históricas diferentes, não considerando uma cultura superior à outra; estimular o entendimento e o respeito entre seres humanos de identidades étnicas diferentes, ainda que se reconheça que tais relações vêm ocorrendo historicamente em contextos de desigualdade social e política. Além de ser comunitária, intercultural, a escola indígena também é Bilíngue/ multilíngue:: ·. […]astradiçõesculturais,osconhecimentosacumulados,aeducaçãodasgerações mais novas, as crenças, o pensamento e a prática religiosos, as representações simbólicas, a organização política, os projetos de futuro, enfim, as reproduções socioculturais das sociedades indígenas são, na maioria dos casos, manifestados através do uso de mais de uma língua [...] (BRASIL, 1988) Nesta perspectiva, entende-se que a Educação Escolar Indígena a ser oferecida no sistema de ensino deve considerar essas características, considerando que é um direito dos povos indígenas. O RCNEI (BRASIL,1988) deixa claro ainda que escola indígena é específica e diferenciada: “porque concebida e planejada como reflexo das aspirações particulares de povo indígena e com autonomia em relação a determinados aspectos que regem o funcionamento e orientação da escola não indígena”. Diante do exposto, percebe-se que a escola indígena tem suas peculiaridades, suas características. Neste sentido, a Educação Escolar Indígena deve ser tratada com respeito, com compromisso, com seriedade pelo sistema de ensino brasileiro, o qual deve possibilitar aos sujeitos indígenas uma educação de qualidade que respeite
- 147. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 12 138 as características da escola indígena, as necessidades de seus educandos. Nesta perspectiva, entende-se ser essencial que a Educação Especial seja garantida, efetivada na Educação Escolar Indígena, por ser um direito dos educandos com deficiência,transtornosglobaisdodesenvolvimentoealtashabilidadesousuperdotação ao acesso, permanência e a aprendizagem. 4 | O MATERIALISMO HISTÓRICO-DIALÉTICO E OS FUNDAMENTOS DA PEDAGOGIA HISTÓRICO- CRÍTICA Adotou-se como perspectiva teórico-metodológica da investigação o materialismo histórico-dialético, que segundo Saviani (2012, p.76) refere-se a “[...] compreensão da história a partir do desenvolvimento material, da determinação das condições materiais da existência humana [...]”. Triviños (20012, p.51) define da seguinte forma: [...]aciênciafilosóficadomarxismoqueestudaasleissociológicasquecaracterizam a vida da sociedade, de sua evolução histórica e da prática social dos homens, no desenvolvimento da humanidade. O materialismo histórico significou uma mudança fundamental na interpretação dos fenômenos sociais que, até o nascimento do marxismo, se apoiava em concepções idealistas da sociedade humana [...] Triviños (2012) afirma que o processo de desenvolvimento da pesquisa de cunho materialista apresenta a “contemplação viva” do fenômeno, a “análise do fenômeno” e a “realidade concreta do fenômeno”. Assim, esta pesquisa apoiou-se nos fundamentos da Pedagogia Histórico-Crítica, a qual deu suporte para o desenvolvimento deste estudo. A Pedagogia- Histórico -Critica “[...] trata-se de uma dialética histórica expressa no materialismo histórico [...]”. Para o autor a “[...] educação é vista como mediação no interior da prática social global. A prática é o ponto de partida e o ponto de chegada [...]”. (SAVIANI, 2012, p.120). O autor enfatiza que a práxis é: [...] uma prática fundamentada teoricamente [...] a prática desvinculada da teoria é puro espontaneísmo [...] a prática é ao mesmo tempo, fundamento, critério de verdade e finalidade da teoria [...] A prática para desenvolver-se e produzir suas consequências necessita da teoria e precisa ser por ela iluminada [...] Saviani (2012, p.120) Saviani (2009) afirma que seus métodos mantém uma vinculação entre educação e sociedade. Neste sentido, apresenta-os os cinco passos do processo educativo, no qual faz um paralelo aos cinco passos de Herbart e Dewey. O primeiro passo é a “prática social”, pois ela é comum a professor e aluno, proporcionando a ambos a oportunidade de atuarem como agentes sociais diferenciados. Contudo, em relação à questão pedagógica, existe uma diferença nos níveis de compreensão, ou seja, conhecimento e experiência relacionados à prática
- 148. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 12 139 social (SAVIANI, 2009) Contudo, vale destacar que “[...] o professor tem uma compreensão que poderíamos denominar “síntese precária”, já compreensão dos alunos é de caráter sincrético [...]” (SAVIANI, 2009, p.63)”. Assim: [...] A compreensão do professor é sintética porque implica certa articulação dos conhecimentos e das experiências que detém relativamente à prática social. Tal síntese, porém, é precária, uma vez que, por mais articulados que sejam os conhecimentos e as experiências, a inserção de sua própria prática pedagógica como uma dimensão da prática social envolve uma antecipação do que lhe será possível fazer com os alunos cujos níveis de compreensão ele não pode conhecer, no ponto de partida, senão de forma precária. Por seu lado, a compreensão dos alunos é sincrética uma vez que, por mais conhecimentos e experiências que detenham, sua própria condição de alunos implica uma impossibilidade, no ponto de partida, de articulação da experiência pedagógica na prática social de que participam. (SAVIANI, 2009, p.63) De acordo com Saviani (2012, p.122) “[...] a relação do aluno se dá predominantemente, de forma sincrética, enquanto a relação do professor se dá de forma sintética”. Desta forma, o “[...] processo pedagógico permitiria que no ponto de chegada o aluno se aproximasse do professor, podendo também ele, estabelecer uma relação sintética com o conhecimento da sociedade”. Para Saviani (2009, p.64), o segundo passo é a “ Problematização.”. O autor enfatiza que é necessário “[...] detectar que questões precisam ser resolvidas no âmbito da prática social [...] que conhecimentos e necessário dominar.”. O terceiro passo é a “instrumentalização”, a qual deve “[...] apropriar-se dos instrumentos teóricos e práticos necessários ao equacionamento dos problemas detectados na prática social [...]”. Neste passo, Saviani (2009, p.64) enfatiza sobre a “[...] apropriação pelas camadas populares de ferramentas culturais necessárias a luta social que travam diurnamente para libertar das condições de exploração em que vivem”. Já o quarto passo é a “catarse”, que na acepção de Gramsci refere-se a “[...] elaboração superior da estrutura em superestrutura na consciência dos homens” (GRAMSCI, 1978, apud SAVIANI, 2009, p.64). Neste sentido o quarto passo é a “[...] efetiva incorporação dos instrumentos culturais, transformados agora em elementos ativos de transformação social (SAVIANI, 2009, p.64)”. Por fim o quinto passo é a “prática social”, a qual enfatiza que: [...] ao mesmo tempo em que os alunos ascendem ao nível sintético em que, por suposto, já se encontrava o professor no ponto de partida, reduz-se a precariedade da síntese do professor, cuja compreensão se torna mais e mais orgânica [...] Daí porque o momento catártico pode ser considerado o ponto culminante do processo educativo, já que é aí que se realiza, pela mediação da análise levada a cabo no processo de ensino, a passagem da síncrese à síntese, manifesta-se nos alunos a capacidade de expressarem uma compreensão da prática em termos tão elaborados, quanto era possível ao professor [...] (SAVIANI, 2009, p.65).
- 149. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 12 140 Saviani (2012, p 122) afirma que é neste momento que se situa o problema do conhecimento sistematizado e que o mesmo pode “[...] não ser do interesse do aluno empírico, ou seja, o aluno, em termos imediatos, pode não ter interesse no domínio desse conhecimento [...]”. Afirma ainda que: [...] os educandos, enquanto concretos, também sintetizam relações sociais que eles não escolheram [...] o atendimento aos interesses dos alunos deve corresponder sempre aos interesses do aluno concreto. O aluno empírico pode querer determinadas coisas, pode ter interesses que não necessariamente correspondem aos seus interesses, enquanto aluno concreto (SAVIANI, 1944, p.121-122). Vale ressaltar que quando Saviani (2012, p.122) aborda sobre conteúdos, sua essência está voltada para: “[...] trabalhar a educação em concreto e não de forma abstrata [...] A lógica dialética é uma lógica concreta. É a lógica dos conteúdos. Não dos conteúdos informes, mas dos conteúdos em articulação com as formas”. O autor deixa claro que: [...] O próprio conceito de sínteses implica a unidade das diferenças [...] Não chego a sínteses se não pela mediação da análise. Na síntese está tudo mais ou menos caótico, mais ou menos confuso. Não se tem clareza dos elementos que constituem a totalidade. Na síntese eu tenho a visão do todo com a consciência e a clareza das partes que o constituem [...] (SAVIANI, 2012, p.124) Portanto, a pedagogia proposta por Saviani (2009, p.62) enfatiza que: Uma pedagogia articulada com os interesses populares valorizará, pois, a escola; não será indiferentemente do que ocorre em seu interior, estará empenhada em que a escola funcione bem; portanto, estará interessada em métodos de ensino eficazes. Tais métodos situar-se-ão para além dos métodos tradicionais e novos, superando por incorporação as contribuições de uns e de outros. Serão métodos que estimularão a atividade e iniciativa dos alunos sem abrir mão, porém da iniciativa do professor, mas sem deixar de valorizar o dialogo dos alunos entre si e com o professor, mas sem deixar de valorizar o diálogo com a cultura acumulada historicamente; levarão em conta os interesses dos alunos, os ritmos de aprendizagem e o desenvolvimento psicológico, mas sem perder de vista a sistematização lógica dos conhecimentos, sua ordenação e gradação para efeitos do processo de transmissão- assimilação dos conteúdos cognitivos. Acredita-se que a Pedagogia Histórico-Crítica é essencial para Educação Especial e Educação Escolar Indígena, uma vez que seus fundamentos condiz com as características, necessidades e realidade das pessoas com deficiência e com os pressupostos da Educação Escolar Indígena, pois valoriza a cultura, a história, ferramentas relevantes no processo de ensino-aprendizagem dos alunos. 5 | INTERFACE DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NA EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA Ainterface da Educação Especial na Educação Escolar Indígena é um tema atual,
- 150. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 12 141 contudo, pouco enfatizado por pesquisadores, educadores. Neste sentido, percebe-se quão necessário é abordar sobre essa realidade social, que envolve os direitos dos educandos indígenas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação ao processo de escolarização na educação básica. Assim a CF de 1988 e a LDBEN já representam um avanço nesta interface. Porém, não contemplam ações voltadas para Educação Especial com foco na Educação Escolar Indígena. Por outro lado, vale destacar que a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva enfatiza: A interface da Educação Especial na Educação Escolar Indígena, do campo e quilombola deve assegurar que os recursos, serviços e atendimento educacional especializado estejam presentes nos projetos pedagógicos construídos com base nas diferenças socioculturais desses grupos (BRASIL, 2008). Entende-se que este documento assegura a Educação Especial aos educandos indígenas. Desta forma, eles têm direito a um ensino que atenda suas necessidades, que respeite a sua cultura, as suas diferenças, limitações e habilidades. ValedestacarqueaResoluçãonº.5/2012estabelecenovasDiretrizesCurriculares Nacionais para a Educação Escolar Indígena na Educação Básica, a qual estabelece no art. 11 que: A Educação Especial é uma modalidade de ensino transversal que visa assegurar aos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e com altas habilidades e superdotação, o desenvolvimento das suas potencialidades socioeducacionais em todas as etapas e modalidades da Educação Básica nas escolas indígenas, por meio da oferta de Atendimento Educacional Especializado (AEE) (BRASIL, 2012) Com isso, o Ministério da Educação juntamente com os sistemas de ensino é responsável pelo diagnostico da Educação Especial nas comunidades indígenas, para assim oferecer atendimento aos educandos que necessitem do atendimento educacional especializado (BRASIL, 2012) Sá e Cia (2012) objetivou apresentar algumas reflexões sobre a interface da Educação Especial na Educação Escolar Indígena por meio de análise dos dados do Censo Escolar referentes às matrículas nas escolas indígenas de alunos com deficiência. Os dados foram coletados por meio dos Microdados do Censo Escolar da Educação Básica, disponibilizados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) referente aos anos de 2007, 2008, 2009 e 2010. Sá (2012) também realizou outra pesquisa, objetivando discutir os desafios para formação inicial e continuada de professores indígenas e de área remanescente de quilombo para atender a diversidade cultural de crianças e jovens com deficiência de suas comunidades. A autora utilizou-se da pesquisa bibliográfica. Já o estudo de Silva (2013) analisa os aspectos exitosos, os obstáculos e os desafios para a oferta do AEE nas escolas indígenas de Dourados/MS. O autor utilizou-
- 151. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 12 142 se da pesquisa colaborativa a qual propôs um programa de formação continuada aos professores do AEE das escolas envolvidas na pesquisa. Sá e Cia (2012) utiliza em seu estudo a pesquisa documental com foco no Censo Escolar da Educação Básica. Os dados coletados nos Microdados do Censo Escolar da Educação Básica são referentes aos anos de 2007, 2008, 2009 e 2010. De acordo com Sá e Cia (2012, p.05): [...] houve no ensino regular um aumento expressivo do número de matrículas de alunos indígenas com deficiência nessa modalidade de ensino, o cotejamento dos dados de 2010 com o ano base de 2007 mostra um aumento de 262,9% desse alunado no ensino regular. Acredita-se que esse aumento esta relacionado à Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008), pois esta ressalta que os alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades devem ter acesso, participação e que aprendam nas escolas regulares. Vale destacar no estudo de Sá e Cia (2012, p.06) à incidência de educandos indígenas com deficiência no ano de 2007 e 2010: A maior incidência neste ano foi a de alunos com deficiência intelectual, com 31,1% dos casos, seguida por alunos com baixa visão, 23,6%, alunos com deficiência física, 17,5%. Nos anos subsequentes teve-se um aumento gradativo do número de matrículas de alunos indígenas com deficiência no ensino regular. No ano de 2010, verificou-se que das 736 matrículas a maior incidência foi novamente da deficiência intelectual com 35,3 % dos casos, seguida por deficiência física, 19,3%, e baixa visão, 13,6%. Ressalta-se que em todos os anos do período analisado, a maior incidência de matrículas é de alunos com deficiência intelectual. Diante do exposto, nota-se que há um maior número de educandos com deficiência intelectual matriculados nas escolas indígenas. Neste sentido, percebe-se a necessidade da efetivação da Educação Especial na Educação Escolar Indígena, pois esta modalidade de ensino é destinada a oferecer a aos estudantes indigenas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades um atendimento educacional especializado mediante suas necessidades, limitações, habilidades. Contudo, os resultados da pesquisa de Sá e Cia (2012) mostra um crescimento no número de matrículas de alunos com deficiência nas escolas indígenas brasileiras. Em relação ao atendimento educacional especializado constatou-se que no ano de 2010 existiam educandos com deficiência nas escolas indígenas que não recebiam atendimento educacional especializado. No entanto, à Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva deixa claro que o atendimento educacional especializado tem a função de "[...] identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando suas necessidades específicas" (BRASIL, 2008).
- 152. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 12 143 Já na pesquisa de Silva (2013) percebeu-se que o atendimento educacional especializado oferecido nas escolas indígenas era apenas a mera reprodução do modelo não indígena de atendimento às crianças com deficiência. Contudo o autor enfatiza que é “[...] essencial refletir sobre como seria o AEE no contexto das escolas indígenas, de forma que prezasse por uma educação diferenciada, específica, bilíngue/ multilíngue e intercultural” (SILVA, 2013, p.1289). O autor destaca que: [...] que uma das exigências para a garantia da oferta do AEE nas escolas indígenas é a definição do tipo de trabalho a ser desenvolvido nas salas de recursos, principalmente porque as crianças indígenas com deficiência possuem diversas identidades. (SILVA ,2013, p.1292) Além dessa afirmação o autor ainda informa que “o AEE precisa ser repensado nas comunidades indígenas, por meio do diálogo entre os próprios professores indígenas para saberem operar nos interstícios sociais e culturais (SILVA, 2013, p.1293)”. Pois o atendimento educacional especializado é um direito dos educandos e deve ser realizado com compromisso e não apenas de forma mecânica e sem sentido. De acordo Resolução nº. 5/2012 em seu art. 11, § 2º): Os sistemas de ensino devem assegurar a acessibilidade aos estudantes indígenas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e com altas habilidades e superdotação, por meio de prédios escolares, equipamentos, mobiliários, transporte escolar, recursos humanos e outros materiais adaptados às necessidades desses estudantes(BRASIL,2012). Apesar da interface da Educação Especial na Educação Escolar Indígena está garantida na LDBEN (BRASIL, 1996), na Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008) e na Resolução nº. 5/2012, a qual estabelece novas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Indígena na Educação Básica, a pesquisa de Sá (2012, p.01) constatou-se que “[...] a formação inicial e continuada de professores indígenas e de áreas remanescentes de quilombos não contempla a interface da Educação Especial com a Educação Escolar Indígena e quilombola”. 6 | CONSIDERAÇÕES FINAIS As pesquisas sobre a interface da Educação Especial na Educação Escolar Indígena apontam, mediante a legislação, que essa interface existe e está presente nas escolas indígenas, ou seja, os educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, inclusive os educandos com deficiência intelectual constam matriculados e inseridos nas escolas pesquisadas. Os estudos de Sá e Cia (2012) revelou que houve um aumento significativo no número de matriculas de educandos com deficiência no período de 2007 a 2010, porém verificou-se que no de 2010 haviam educandos com deficiência nas escolas indígenas
- 153. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 12 144 sem usufruir do serviço de atendimento educacional especializado. Para Silva (2013) o atendimento educacional especializado oferecido nas escolas indígenas era apenas a mera reprodução do modelo não indígena, não valorizando assim a realidade social dos estudantes. Além disso, Sá (2012) constatou que formação inicial e continuada tanto dos professores indígenas, como de áreas remanescentes de quilombos não contemplava a interface da Educação Especial com a Educação Escolar Indígena e quilombola. Neste sentido, é notório que a interface da Educação Especial na Educação Escolar Indígena não está sendo efetivada na prática, por mais que a mesma seja garantida mediante a legislação, ainda não ´é uma realidade nas escolas indígenas. Diante do exposto, fica nítida a necessidade da realização de estudos sobre a interface da Educação Especial na Educação Escolar Indígena. Por isso, objetivou- se com esse trabalho verificar como vinha se constituindo a interface da Educação Especial na Educação Escolar Indígena. REFERÊNCIAS BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado, 1988. ______. Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 24 dez. 1996. _______, Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas. Brasília, DF: MEC, 1998. _______, Educação Escolar Indígena: diversidade sociocultural indígena ressignificando a escola. Cadernos Secad 3. Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade. Brasília, 2007. ______. Ministério da Educação. Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Brasília, DF: MEC, 2008. Disponível em: <http://www.mec.gov.br>. Acesso em: 2 ago. 2016. ________, Resolução CNE/CEB nº. 5, de 22 de junho 2012. Define Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Indígena na Educação Básica. MEC/CNE/CEB, 2012. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=11074-rceb005-12- pdf&category_slug=junho-2012-pdf&Itemid=30192. Acesso 03 nov.2016 COHN, C. Educação Escolar Indígena: para uma discussão de cultura, criança e cidadania ativa. Perspectiva. v. 23, n. 02, p.485-515, jul./dez. 2005. Disponível em: http://www. ced.ufsc.br/núcleos/ nup/perspectiva.html. Acesso em: 22 abr. 2011. MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Fundamentos da metodologia científica. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010. MONTE, Nietta Lindenberg. E agora, cara pálida? Educação e povos indígenas, 500 anos depois. Revista Brasileira de Educação da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, São Paulo, n. 15, p. 118-133, nov.-dez. 2000. SÁ, Michele Aparecida de, CIA, Fabiana. Interface da Educação Especial na Educação Escolar Indígena: algumas reflexões a partir do censo escolar. XVI ENDIPE - Encontro Nacional de Didática e Práticas de Ensino - UNICAMP - Campinas – 2012
- 154. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 12 145 _______, Michele Aparecida de. Educação Especial nas escolas indígenas e quilombolas: uma discussão sobre a formação de professores. XVI ENDIPE - Encontro Nacional de Didática e Práticas de Ensino - UNICAMP - Campinas - 2012 SAVIANI, D. Escola e democracia. 41. ed. Campinas: Autores Associados, 2009. ______. Pedagogia histórico-crítica: primeiras aproximações. 11. ed. Campinas: Autores Associados, 2012. SILVA, João Henrique, BRUNO, Maria Moraes Garcia. Escolarização de indígenas com deficiência nas aldeias indígenas do município de Dourados, MS. VIII ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PESQUISADORES EM EDUCAÇÃO ESPECIAL, Londrina, nov.2013, ISSN 2175- 960X.
- 155. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 13 146 A RELAÇÃO DA FAMÍLIA NA ESCOLA E NOS ESPAÇOS EDUCATIVOS E SUA CONTRIBUIÇÃO PARA A SOCIEDADE NOS DIAS ATUAIS CAPÍTULO 13 doi Carla Agda Lima de Souza Graduanda em Licenciatura Plena em Pedagogia, Universidade do Estado do Pará. Belém - Pará Cláudio Ludgero Monteiro Pereira Dr. Em Ciência da Educação, Universidade Autônoma de Assunção. Belém - Pará RESUMO: O presente artigo abordará a necessidade da inclusão da família nas instituições de ensino, visto que, a mesma está cada vez mais distante desta relação imprescindível que é a família com a escola e a própria sociedade que a mesma está inserida, por conta das diversas influências existentes no meio e as transformações que este sofre no decorrer dos anos. E mesmo que a realidade não esteja a rigor do seu meio de convivência, as mudanças que vêm ocorrendo constantemente e os diversos meios tecnológicos disponíveis no mercado para o consumidor, têm distanciado esse alicerce do aluno e da própria escola, quando na verdade deveria ser de proveito contribuinte para a formação e desenvolvimento deste aluno, já que o ser humano é capaz de adaptar-se ao meio e às suas necessidades. Mencionará que as inserções em algumas atividades e programações impostas no Projeto Político Pedagógico, planejamento escolar ou nos planos de aulas, ainda não são suficientes ou instigantes para incluir a família na escola, além de entender a realidade da mesma para adaptar os horários e datas previstas para tais aplicações é necessário criar vínculos de comunicação e acompanhamento destes alunos, assim como dos próprios docentes e também dos pais, os últimos como principais atuantes para somar no desenvolvimento destes alunos. Portanto, é indispensável suscitar questionamentos e debates sobre este assunto extremamente importante e pertinente, além de levantar possíveis soluções e ideias de Como fazer? Quando? Porque fazer?, respeitando sempre os limites e diversidades a encontrar. Foi utilizada como metodologia, a pesquisa bibliográfica com a contribuição de autores que defendem o tema abordado somando para estes enfoques significativos. PALAVRAS-CHAVE: Família. Escola. Sociedade. Educação. ABSTRACT: This article will address the need to include the family in educational institutions, since it is increasingly distant from this essential relationship that is the family with the school and the society itself is inserted, because of the various influences in the environment and the transformations it undergoes over the years. And even if the reality is not strictly speaking, the changes that have been occurring constantly
- 156. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 13 147 and the various technological means available in the market for the consumer, have distanced this foundation from the student and the school itself, when in fact it should be contributing to the formation and development of this student, since the human being is able to adapt to the environment and to their needs. It will mention that the insertions in some activities and schedules imposed in the Political Pedagogical Project, school planning or in the lesson plans, are still not enough or instigating to include the family in the school, besides understanding the reality of the same one to adapt the schedules and foreseen dates for such applications it is necessary to create communication and follow-up links for these students, as well as for the teachers themselves and also for the parents, the latter being the main agents to add to the development of these students. Therefore, it is indispensable to raise questions and debates on this extremely important and relevant subject, as well as to raise possible solutions and ideas on How to do? When? Why to do it ?, always respecting the limits and diversities to find. It was used as methodology, the bibliographical research with the contribution of authors that defend the topic approached adding to these significant approaches. KEYWORDS: Family. School. Society. Education. INTRODUÇÃO O presente artigo busca compreender as justificativas diante do afastamento cada vez maior das famílias em participação na escola, por decorrência de obrigações diárias para suprir as necessidades emergidas para a sobrevivência, além de entender a relação das mesmas, com as instituições e os espaços educativos, de forma a contribuir para o desenvolvimento dos alunos, tornando-os seres críticos e atuantes na sociedade. Trata-se de compreender a inclusão da família como agente norteador da educação e desenvolvimento do aluno, em qualquer grau de ensino, em conjunto com a escola, ambientes educativos e o meio em que vive, a partir de momentos vivenciados ou meios de comunicação utilizados para a contribuição da mesma. Énecessáriosuscitarestesassuntosparaquehajaautoanáliseequestionamentos daspartescontribuintes,natentativadeverificarseocomportamentoeatitudestomadas por tais estão de acordo com a necessidade, realidade, dificuldade e problemas que estes alunos enfrentam ou possam vir a enfrentar, intencionando a reflexão sobre a qualidade no processo educacional e formativo neste ambiente de aprendizagem. Sabe-se que ao longo da história, a família era concebida como um lugar seguro e preparado para aplicar afazeres domésticos (para mulheres e meninas) e proteção e trabalho (para homens e meninos), pois a educação era voltada na aplicabilidade dos deveres domésticos e o ensino era de total responsabilidade dos pais e a educação para outras formações era para poucos, ou seja, as crianças passavam mais tempo com seus pais e outros adultos da família que influenciavam na formação desse ser e o adaptavam para a sociedade real a que viviam além de já haver a dissociação das classes dominantes para a classe não dominante.
- 157. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 13 148 No decorrer dos anos, a educação sofreu adaptações conforme o período histórico que estavam vivendo, foi tomando diversos fins em aplicabilidades como o ensino da ciência, filosofia, matemática, entre outros., pelos trabalhos que iam sendo impostos pela sociedade. Até o processo da educação e os meios de convivências sociais, surgirem para suprir a necessidade de relacionar-se com o próximo, já que a família desintegrava- se desta prática, por conta do crescimento estrutural e diversidades de função de trabalho na sociedade, rescindindo os laços coexistentes nessa relação primordial. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) e o Estatuto da Criança e do adolescente (ECA) deixam claro que é obrigatório as escolas fomentarem relação com as famílias e os pais tem por direito de saber o andamento do processo educacional do seu filho assim como participar dos eventos propostos pelas instituições de ensino. Este artifício tornou-se cada vez mais difícil para as escolas, pois mesmo que de forma indireta acabavam por carregar a responsabilidade de educar as crianças e não somente aplicar o processo de ensinamento, por conta da ausência da família diante das obrigações obtidas pelo trabalho. Com isto a exigência para dos pais ou responsáveis em cima dos professores dobra, e o docente que deveria reforçar a metodologia de ensino de forma instigante e criativa, acaba assumindo o papel de família também, para suprir a necessidade de fixar alguns hábitos e comportamentos que são aprendidos com os adultos, nos anos iniciais de cada ser humano, de sua vivência inicial, seus primeiros contatos. Por isso, é necessário afirmar que, No entanto, o que não pode ser negado é a importância da família tanto ao nível das relações sociais, nas quais ela se inscreve, quanto ao nível da vida emocional de seus membros. É na família, mediadora entre o indivíduo e a sociedade, que aprendemos a perceber o mundo e a nos situarmos nele. É a formadora da nossa primeira identidade social. (Reis in Lane e Codo (org.) – Psicologia Social: o homem em movimento, São Paulo, Editora Brasiliense, 1989.) Por isso, a criança deve estar preparada para o ingresso na escola, para aprender e conseguir apreender de forma qualitativa. É claro que não se deve generalizar que isso ocorrerá em todas as famílias, haverá exceções por diversos motivos, sejam eles sociais, econômicos, enfim, porém as que têm consciência de que é necessário que as crianças precisem de atenção, além de doses de amor e carinho, respeito e limitações, entre outros quesitos verificados pelos pais ou responsáveis, até que ponto pode exigir ou não das mesmas, contribuindo para seu conhecimento e adaptação à sociedade, quando estes serão os mediadores primordiais para que essa relação se estabeleça antes da inserção nas escolas. Como diz Lutgardes Costa Freire (Streck et. al., 2008, p. 177) “Resumindo, para os meus pais, família é o que está escrito em um antigo prato português da minha mãe: “A alegria de uma casa em bem pouco se resume: beijos, abraços, canções,
- 158. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 13 149 água, pão, flores e lume”.”, ou seja, as relações e boa convivência começam dentro de casa com pouco, mas necessário, se este elo é rompido por diversos motivos, se tem consequências na maioria das vezes muito difíceis de lidar ou até mesmo sem conseguir reestabelecer uma relação concreta e de confiança que se tinha. DESENVOLVIMENTO A sociedade passou impasses por transformações que ocorrem constantemente e influenciam a vida do ser humano tanto no âmbito do conhecimento quanto da informação. Com o passar do tempo, as exigências do mercado de trabalho nas mãos de obra qualificada, tem aumentado a cada ano, gerando obrigações cada vez maiores e a ocupação do tempo dos adultos que estão inseridos nesse meio, já que está sociedade exige indiretamente um ser formado apenas para atender o mercado de trabalho e se ocupar com isto, sem tempo para pensar em críticas construtivas e democráticas e entender realmente o que acontece por trás dos favorecidos nessa sociedade como o envolvido em política assim como a elite (normalmente empresários e outros grandes empreendedores). Consequentemente, a maioria destes são pais e mães de família, que precisam desses ofícios para ‘viver melhor’ (ou seja, para atender o mínimo necessário para a sobrevivência) e dá isso aos seus filhos. Porém, deve-se ressaltar que, A educação não começa na escola. Ela começa muito antes e é influenciada por muitos fatores. Ao longo do desenvolvimento físico e intelectual a criança passa por várias fases nas quais a escola da vida, isto é, o ambiente familiar, as condições socioeconômicas da família, o lugar onde se mora, o acesso a meios de informação, têm uma importância muito grande. Os primeiros anos são decisivos: estudos demonstram que a criança tem sua estrutura básica de personalidade definida até os dois anos de idade, muito antes, portanto, do período da escola obrigatória. (Ceccon et al., 2008, p. 86) Contudo, essas consequências geram o afugentamento destes nas convivências escolares e no acompanhamento da educação de seus filhos, que deveria ser prioridade e direito do trabalhador que tenha dependente registrado, porém, talvez por receio de perder este meio empregatício, estes responsáveis justificam sua ausência por conta da obrigação de trabalho. Além disso, não percebem que essa falha pode gerar violência, evasão escolar, fracasso, sentimentos negativos, alterações psicológicas, etc., e no final ainda culparão as crianças por tais comportamentos que será gerado em qualquer espaço de convivência social, dependendo das situações e motivos. É valido citar um trecho da Pesquisa Nacional de Saúde Escolar realizada em 2015 que diz que, O fortalecimento de vínculos familiares é considerado muito importante na
- 159. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 13 150 prevenção de comportamentos de riscos entre jovens e adolescentes. Os pais e responsáveis estarem atentos às atividades dos adolescentes, estabelecendo laços de confiança e diálogo e conhecendo suas demandas, colaboram para que os adolescentes cresçam com segurança. (IBGE, 2016, p. 43). Pode-se analisar através de uma Pesquisa do IBGE realizada em 2015 (2016) que mostra, “[...] escolares do 9º ano entrevistados, 66,6% responderam que os pais se preocupavam com os seus problemas e preocupações, nos últimos 30 dias anteriores à pesquisa. O percentual para os escolares das escolas privadas foi de 66,9%, e para as públicas, 66,5% (Tabela 3)”. Fonte: Ministério da Saúde, com apoio do Ministério da Educação. Pesquisa Nacional de Saúde Escolar, 2015. IBGE, Coordenação de População e Indicadores Sociais: Rio de Janeiro, IBGE, 2016, p. 45. Disponível em https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv97870.pdf Esta pesquisa infere que uma parte dos pais preocupa-se com os problemas dos filhos, porém a porcentagem ainda é muito pequena diante da importância de se envolver mais com as crianças para entender os seus meios de sociais de convivências e até mesmo mediar o comportamento adequado a tomar na sociedade, tanto para sua formação cidadã quanto para sua formação de identidade. Esta última será determinante para a sua atuação na sociedade, onde os indivíduos serão identificados pela sua conduta, da maneira que as consequências dependerão de seus atos. Além disso, as grandes influências tecnológicas e midiáticas também alteram a essência do diálogo, da interação frente a frente entre os indivíduos, pois a utilização inadequada dos meios e o controle que a mídia tem para influenciar os nascidos na era de auge dessas tecnologias, além de conseguirem dominar essas tecnologias, usufruem muitas vezes erroneamente e sem limites impostos pelos que deveriam acompanhar essa utilização, no caso a família, também há um grande bloqueio
- 160. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 13 151 tecnológico em grande parte dos docentes que deveriam seguir as transformações ocorridas no meio com o desígnio de melhorar o ensino em sala de aula, possibilitando o uso destes em prática educacional como mediação para o conhecimento. Os professores, o corpo educacional e a família, precisam incluir em seus seguimentos o hábito de fazer e refazer uma autoanálise de seus próprios comportamentos do mesmo modo como aceitar as críticas provavelmente discursadas pelos seus alunos/filhos, para entender a necessidade da comunicação e relação contínua que deve haver entres todos, para propiciar uma educação melhor aos alunos/filhos. No Dicionário de Paulo Freire, pode-se encontrar um trecho que remete a uma educação questionadora para formar atuantes críticos para uma sociedade onde os interesses sejam questionados e Freire infere essa ocorrência decorrente na sociedade quando diz, Portanto, jamais podemos nos curvar, segundo Freire, aos discursos fáceis e pragmáticos que apenas reforçam a lógica do mercado. Igualmente, o desafio de uma educação progressista é construir alternativas aos processos domesticadores da indústria cultural, que busca homogeneizar as formas de pensamento e alienar nossas consciências diante da realidade que constitui nosso ser no mundo. Nesse contexto, é de fundamental importância uma educação que problematize as diferentes formas de controle pelos sistemas de informação, da mídia, que pretendem formar a opinião pública segundo os interesses dos poderosos e da política hegemônica, hoje liderada pelo imperialismo norte-americano. (apud Streck et. al., 2008, p. 20) Sabe-se que a educação nas escolas tem um papel de suma importância não apenas para a formação cidadã, mas também para atingir a família desses alunos, incluindo-os e fazendo-os como parte do processo educacional, psicossocial e do desenvolvimento dos mesmos. As partes envolvidas nessa relação devem atentar- se principalmente e em primeiro lugar, em importar-se em conhecer e compreender a realidade social vivenciada pelos seus alunos e adaptar metodologias para as aplicações em sala de aula assim como situações instigantes com o intuito de aproximar essas famílias em vulnerabilidade social. A inclusão das famílias não deve estar apenas inclusos nos Projetos Políticos Pedagógicos (PPP´s), planejamentos ou planos de aula, por estar apenas para constar, mas sim como parte de ações sociais, complementares e contínuas à formação de seres que contribuem para a sociedade e capacitados em julgar seus atos assim como assumir as possíveis conseqüências, porém tentando não gerar problemas para o próximo, as diferenças serão encontradas no dia a dia e devem ser respeitadas. Com isto, O pensamento pedagógico freiriano é provocativo e instigante por que está sempre em movimento, aberto às diferenças culturais e aos novos desafios diante das realidades sociais. Freire é um pensador que não apenas propõe o diálogo como caminho para a educação, mas constrói um pensamento profundamente dialógico. Para todos os que atuam em educação, ele continua a ser um autor central na discussão teórica e na inspiração de práticas inovadoras em relação às formas alternativas e criativas de cada projeto pedagógico que lute pela emancipação. A
- 161. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 13 152 Pedagogia da esperança aponta para esse desafio concreto de jamais perdermos o sonho e o direito de alimentarmos a utopia em uma nova sociedade na qual seja menos difícil para cada pessoa ser feliz. (Streck et. al., 2008, p.20) Valeressaltarque,diantedetodasasaceitaçõesqueasociedadevemenfrentando, como as escolhas de segmentos sexuais das pessoas, a religião, enfrentamento contra o preconceito, etc., a mesma ainda assim é um meio como TIBA (1998) aponta adiante que, A sociedade é formada por pessoas que se relacionam entre si. Relacionamentos mais íntimos desenvolvem vínculos afetivos, de atração ou de repulsão. Podemos ter ideias diferentes, cargos e ganhos diferenciados, status e cultura desiguais, torcer para times rivais, defender posições políticas antagônicas, mas somos todos seres humanos. (TIBA, 1998. p. 166) Sendo assim, “As escolas poderiam estimular essa convivência oferecendo seus espaços. Quadras esportivas, por exemplo. Os pais tendem a se conhecer melhor ao praticar esportes, acabando com a ideia de más companhias ou até confirmando-a.” (TIBA, 1998, p. 169). Deve-se concretizar essa relação tornando costume prazeroso entre os familiares afirmando também o bem necessário desta relação. CONCLUSÃO Deste modo, conclui-se que vários fatores determinam que seja de extrema importância a frequência ativa da família nas escolas e nos espaços educativos somáticos e contributivos à formação e desenvolvimento dos alunos. Cabendo também ao corpo docente, agregar valores participativos e instigantes para conseguir incluir esses familiares de maneira plausível as suas obrigações, sem que prejudique nenhuma das partes integrantes dessa relação, fazendo a sociedade obter de fato, mais saberes sobre a humanização, as maneiras de como tornar o outro mais sociável ao próximo, sem esquecer-se da alteridade, pois biologicamente todos são iguais como seres humanos, porém tem suas respectivas diferenças, aspectos distintos de fisionomia, entre outras características que os tornam diferentes, conseguindo interpor uma relação saudável e respeitosa, partindo tanto da família quanto da escola para a vida social destes em desenvolvimento, como mencionado pelos autores citados durante a pesquisa reforçando o tema pertinente. Portanto, é imprescindível que haja reforço da necessidade de relacionar a escola, o aluno e a família, através dos informativos escolares e programações extracurriculares adaptadas aos melhores horários disponíveis para as partes e em comum acordo, comprometendo-os a cumprir essas atividades propostas, visto que essa relação já faz parte dos documentos políticos da escola assim como outras régias de organização, para que estas crianças tenham um ensino de qualidade e um desenvolvimento favorável para as relações sociais assim como a própria atuação destas no meio de vivência, aonde as transformações venham para mediar à educação
- 162. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 13 153 e somar pela velocidade de informação e comunicação que podem gerar se tecnológica e com utilização de internet, tornando-os seres humanizados e respeitadores das diferenças, mesmo que tenham suas opiniões e críticas divergentes do outro. REFERÊNCIAS BRASIL. Lei Federal n. 8069, de 13 de julho de 1990. ECA _ Estatuto da Criança e do Adolescente. BRASIL, Lei de Diretrizes e B. Lei n° 9.394/96, de 20 de dezembro de 1996. CECCON, Claudius.; OLIVEIRA, Miguel Darcy de.; OLIVEIRA, Rosiska Darcy de. A vida na escola e a escola da vida. Editora Vozes: 40ª Edição, Petrópolis, Rio de Janeiro, IDAC – Instituto de Ação Cultural, 2008. Ministério da Saúde, com apoio do Ministério da Educação. Pesquisa Nacional de Saúde Escolar, 2015. IBGE, Coordenação de População e Indicadores Sociais: Rio de Janeiro, IBGE, 2016. P. 43-45. Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv97870.pdf (acesso: 19/09/2017 - 19h58min) REIS, José Roberto Tozoni. Família, Emoção e Ideologia, In; LANE, Silvia.; CODO, Wanderley (Org.). Psicologia Social: o homem em movimento. Editora Brasiliense: 8ª Edição, São Paulo, 1989. P. 99- 123. TIBA, Içami. Ensinar aprendendo: como superar os desafios do relacionamento professor-aluno em tempos da globalização. Editora Gente: 23ª Edição, São Paulo, 1998. STRECK, Danilo R.; REDIN, Euclides.; ZITKOSKI, Jaime José (Org.). Dicionário de Paulo Freire. Autêntica Editora: 3ª Edição, Belo Horizonte, 2016.
- 163. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 14 154 EDUCAÇÃO ESPECIAL, INCLUSÃO E AS DIRETRIZES MUNICIPAIS DE BRUSQUE (SC) CAPÍTULO 14 doi Camila da Cunha Nunes Centro Universitário de Brusque Brusque – Santa Catarina Amanda Alexssandra Vailate Fidelis Centro Universitário de Brusque Brusque – Santa Catarina Nadine Manrich Centro Universitário de Brusque Brusque – Santa Catarina RESUMO: O descompasso e paradigmas que permeiam a sociedade moderna nos colocam frente a uma profunda e necessária reflexão constante sobre o papel do professor, sua função na escola e importância para a construção da cidadania e inclusão social almejada. Diante disso, objetiva-se identificar e caracterizar a compreensão de inclusão presente nas Diretrizes Curriculares Municipais de Brusque (SC). Para tanto, foi realizada uma pesquisa bibliográfica e documental. As Diretrizes Curriculares Municipais de Brusque abrange uma vasta informação acerca da inclusão, amparados em outros documentos em âmbito nacional que norteiam a ação pedagógica inclusiva. No documento, o processo de inclusão extrapola os indivíduos com deficiência, tendo uma leitura ampliada do processo de inclusão. Ainda, o documento explicita o papel do profissional. PALAVRAS-CHAVE: Educação Especial. Inclusão. Diretrizes Curriculares Municipais de Brusque. ABSTRACT: The mismatch and paradigms that permeate modern society place us before a deep and necessary constant reflection on the role of the teacher, his function in the school and importance for the construction of the citizenship and social inclusion aimed. Therefore, it aims to identify and characterize the understanding of inclusion present in the Municipal Curricular Guidelines of Brusque (SC). For this, a bibliographical and documentary research was carried out. The Brusque Municipal Curricular Guidelines cover a wide range of information on inclusion, supported by other national documents that guide inclusive pedagogical action. In the document, the inclusion process extrapolates individuals with disabilities, having an extended reading of the inclusion process. Moreover, the document explains the role of the professional. KEYWORDS: Special education. Inclusion. Municipal Curricular Guidelines of Brusque. 1 | INTRODUÇÃO Historicamente, pode-se situar o pensamento sobre as pessoas com deficiência
- 164. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 14 155 em diferentes perspectivas. Isso porque o olhar para com o diferente sofreu influência de um conjunto de fatores, que mudam em cada sociedade. Esses fatores estão associados aos fundamentos filosóficos, religiosos e econômicos, que permeiam a história da humanidade e que refletem hoje no paradigma da inclusão social. Contudo, até chegar a esse pensamento moderno, percorreu-se um caminho difícil. Os pensamentos pragmáticos de uma sociedade, de recursos escassos, não viam sentido em manter no convívio social alguém que não contribuía efetivamente na produção. Ou até mesmo, algumas crenças levaram à estigmatização dos deficientes. Apesar das mudanças históricas de paradigmas do fortalecimento dos aspectos mais humanistas na relação com a pessoa com deficiência, também se revela um culto ao corpo que nunca se viu de forma tão efetiva e massificada (BRITO; LUNA; DUARTE, 2010). As discussões em torno das políticas educacionais sobre a educação inclusiva apresentam avanços. Isso se deve as discussões e documentos que a subsidiam. Dentre eles, no contexto escolar, a Declaração de Salamanca homologada em 1994, desenvolvida pelas Nações Unidas, que trata sobre os princípios, políticas e práticas na área das necessidades educacionais específicas ofereceu préstimos para a educação inclusiva no Brasil. Isso porque a Declaração demanda que os Estados assegurem que a educação de pessoas com deficiência seja parte integrante do sistema educacional, independente de suas diferenças ou desigualdades (OREALC/UNESCO, 1994). Apartir da Declaração de Salamanca, em 1996 desenvolveu-se a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) que traz consigo pontos determinantes para o processo de inclusão da pessoa com deficiência na escola de ensino regular. Isto é, no art. 59, inciso I, está expresso que os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação “currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específica, para atender às suas necessidades” (BRASIL, 1996). Entende-se que a educação especial garante legalmente o atendimento educacional especializado a todos que necessitam de acordo com as especificidades determinadas. Além desses documentos, as políticas de inclusão foram inúmeras se considerarmos o transcorrer histórico, que fortalecem esse prisma de discussão e reinteram o direito a igualdade e a educação de qualidade, podemos citar algumas outras referências como: Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948); Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1961); Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1971); Declaração dos direitos das pessoas deficientes (1975); Constituição Federal (1988); Estatuto da Criança e doAdolescente (1990); Conferência Mundial sobre Educação para Todos: Declaração de Jomtien (1990); Política Nacional de Educação Especial MEC (1994); Convenção de Guatemala (1999); Declaração Internacional de Montreal sobre inclusão (2001); Diretrizes Nacionais para a Educação Especial (2001); Plano Nacional de Educação (2001); Declaração de Caracas (2002); Estatuto da Pessoa com Deficiência (2006); Convenção sobre os Direitos das
- 165. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 14 156 Pessoas com Deficiência (2008); dentre outros documentos. Estes, demonstram que “o movimento mundial pela educação inclusiva é uma ação política, cultural, social e pedagógica, desencadeada em defesa do direito de todos os estudantes de estarem juntos, aprendendo e participando, sem nenhum tipo de discriminação” (BRASIL, 2015, p. 25). Diante desses momentos históricos, são caracterizadas as principais tendências que orientam a prática educacional da educação especial: (i) a normalização, divulgada a partir de 1950; (ii) a integração, de 1970; e (iii) a inclusão, de 1975. Todas essas tendências com o intuito de orientar a forma de atendimento ao aluno com necessidades educacionais específicas (BORGES; PEREIRA; AQUINO, 2012). Entretanto, o fato de garantir a presença no sistema escolar não significa um processo de ensino e aprendizagem significativo para o aluno. Para que de fato o processo de inclusão se efetive faz-se necessário a mudança de atitudes. Ou seja, a garantia de acesso, recursos físicos de acessibilidade; recursos humanos com formação própria para atender essa população; materiais didático- pedagógicos apropriados; dentre outros elementos que influenciam e possibilitem a autonomia dos sujeitos bem como o seu aprendizado. Fatores esses que nem sempre são contemplados. Quer dizer, a inclusão assume a prerrogativa de uma mudança mais ampla que propicie o compromisso com a diversidade humana. A diversidade humana é condição imprescindível para entender como aprendemos, como entendemos o mundo e a nós mesmos (MANTOAN, 2006). Os documentos oficiais, que buscam a inclusão dentro do contexto educacional têm contribuído sobremaneira para uma cultura mais inclusiva. Todavia, urge ainda a necessidade de que as políticas públicas se desprendam de valores comerciais e capitalistas. Faz-se necessário que sejam pautadas, principalmente, em valores que compreendam a diversidade como uma riqueza no convívio humano. Que a cooperação e os laços de responsabilidade para com o outro sejam não somente uma falácia ilusória, mas que possam constituir a base de todo trabalho que se diga realmente educativo e, por consequência, inclusivo (ZOBOLI et al., 2010).Apartir disso, temos como objetivo identificar e caracterizar a compreensão de inclusão presente nas Diretrizes Curriculares Municipais de Brusque (SC). Para tanto, foi realizada uma pesquisa bibliográfica e documental. O descompasso e paradigmas que permeiam a sociedade moderna nos colocam frente a uma profunda e necessária reflexão constante sobre o papel do professor, sua função na escola e importância para a construção da cidadania e inclusão social almejada. Considerando isso, a pesquisa realizada possibilita atender melhor as necessidades da população de Brusque a partir das reflexões locais propostas. Também possibilita a Secretaria da Educação de Brusque a identificação de possíveis entraves e incompletudes para o desenvolvimento do processo de inclusão em seus documentos legais e dos professores.
- 166. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 14 157 2 | BREVES REFLEXÕES SOBRE A INCLUSÃO NO AMBIENTE ESCOLAR A formação do professor no atual contexto social que vivemos implica um novo olhar para os indivíduos, grupos, etnias e classes sociais onde as transformações não são imediatas. Mas de outro modo, geradas em contextos contraditórios numa sociedade cada vez mais plural e diversificada. Implica inicialmente situar o contexto social onde essa qualificação está sendo construída e essencialmente refletir sobre a especificidade da educação. Apesar de toda evolução no mundo contemporâneo em suas virtualidades tecnológicas e midiáticas, ainda não se operacionalizaram transformações consistentes que indiquem a humanização das relações sociais globalizadas.Ossabereseaspráticasdosprofissionaisenvoltosnaeducaçãoresultante das apropriações que realiza no contexto dos diversos espaços e movimentos onde se projeta (VIANA; AZEVEDO; ARAÚJO, 2013). Cada deficiência tem uma necessidade em especial e cada indivíduo possui também uma necessidade que precisa ser desenvolvida. O professor necessita, ao menos, desenvolver três atitudes para que o processo de ensino e aprendizagem ocorra de maneira significativa (KUBO; BOTOMÉ, 2001 apud BAÚ, 2009): (a) conhecer a realidade do educando; (b) a capacidade do educando, verificando o que está apto a fazer; e, (c) as características dele e as suas necessidades através do diagnóstico contínuo. Ainda outro ponto determinante durante o processo são as emoções e os sentimentos positivos envolvendo cooperação que desenvolvem condições favoráveis para aprendizagem (PASSOS, 2009). Portanto, o mediador precisa ter uma atitude ativa durante a aprendizagem do educando, sempre o apoiando e acreditando nas suas capacidades. Há a necessidade de um trabalho conjunto entre a família e os professores no sentido de implantarem estratégias para facilitar a aprendizagem dos indivíduos. A deficiência e as diferenças são fenômenos tensivos. Existe neles uma condição específica e única, mas que sofre também a influência de uma estrutura macro. As condições sociais, a cultura, valores de cunho religioso, a política capitalista na atual configuração do neoliberalismo, enfim, uma infinidade de mecanismos sociais interfere na produção social da diferença. A tensiva inclusão/exclusão está intrinsecamente ligada a todo um jogo cultural e, por consequência, a valores sociais que não podem ser desconsiderados quando o tema é o acolhimento do diferente e da diferença. Tendo em vista a busca de uma efetivação da cultura inclusiva, a escola o contexto educativo em geral precisam estar atentas às políticas públicas, no sentido de que elas sejam a garantia primeira de uma práxis mais acolhedora no convívio dos diferentes e das diferenças (ZOBOLI et al., 2010). O que emerge é a condição de excluído. Exclusão e inclusão são duas palavras recorrentes no campo do conhecimento a respeito dos indivíduos com deficiência a ponto de remetê-las a uma ligação direta com o tema. A temática sobre inclusão e exclusão nos remete à origem da noção de pertencimento, o que nos faz analisar a
- 167. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 14 158 relação dessas palavras com os conceitos de identidade e diferença. A identidade e a diferença se traduzem em declarações por um lado, sobre quem pertence e sobre quem não pertence; e, por outro lado, sobre quem está incluído e quem está excluído. Afirmar a identidade significa demarcar fronteira, significa fazer distinções entre o que fica dentro e o que fica fora. A identidade está sempre ligada a uma forte separação entre “nós” e “eles”. Essa demarcação de fronteiras, essa separação e distinção, supõem e, ao mesmo tempo, afirma e reafirma relações de poder (SILVA, 2003). O que dificulta as relações entre identidade e diferença são as relações de poder que acabam por permear essa distinção. Isso porque na medida em que há uma distinção acaba por criar-se uma hierarquização, ponto esse determinante no sentimento de pertencimento a um grupo. No momento em que se estabelece o diferente como oposto ou inferior cria-se também possibilidades de convivência, isto é, uma forma de olhar o outro. O que ocasiona pelo fato de desconhecimento sobre suas capacidades, angústias e necessidades, os sentimentos de pena ou indiferença. Refletindo assim, na escola e em outros espaços de convivência. Esses são alguns dos paradigmas das atitudes que geram a convivência com o diferente e particularmente com os deficientes. Por isso, a necessidade de se refletir sobre possíveis pontos a serem pensados tanto do ponto de vista da formação como das atitudes daqueles que desenvolvem a formação durante o processo de ensino aprendizagem escolar baseado em documentos que permeiam a sua prática pedagógica. 3 | O PROCESSO DE INCLUSÃO PRESENTE NAS DIRETRIZES CURRICULARES MUNICIPAIS DE BRUSQUE As Diretrizes Curriculares do Município é um documento municipal que tem como proposta conduzir o processo de ensino tendo como finalidade a qualidade educacional e social. São entendidas como linhas gerais de ação, como proposição de caminhos abertos, que constituem a educação no município. A primeira referência no documento sobre a temática inclusão é realizada junto à missão que compete a Secretaria da Educação. Segundo esse órgão público compete ao mesmo: “proporcionar à sociedade brusquense uma educação de qualidade por meio de políticas públicas que assegurem o acesso e a permanência à Educação Básica, à inclusão social, cultural, ambiental e digital, possibilitando a construção da cidadania voltada à valorização do ser humano” (BRUSQUE, 2012, p. 14). Percebe-se que a inclusão extrapola o âmbito de participação e acesso no contexto escolar sendo compreendida como a totalidade do processo educacional. Subsequente, encontra-se como uma das possibilidades de desenvolvimento do processo de inclusão. Isto é, por meio do estabelecimento do Currículo Mínimo, ou seja, as diretrizes permitem o desenvolvimento de currículos mínimos. O Currículo Mínimo norteia o desenvolvimento de um conjunto de práticas educacionais no
- 168. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 14 159 município, a saber: “ensino interdisciplinar e contextualizado, inclusão de alunos com deficiência, respeito à diversidade, novas mídias no ensino” (BRASIL, 2012, p. 16). Nesse momento, é tratado, especificamente, da inclusão de alunos com deficiência mesmo que a missão do órgão que competente seja ampla. Além do Currículo Mínimo, apoiados em Gimeno Sacristán (2000, p. 43), ressalta-se que: as experiências na educação escolarizada e seus efeitos são, algumas vezes, desejadas e outras, incontroladas; obedecem a objetivos explícitos ou são expressões de proposição ou objetivos implícitos; são planejados em alguma medida ou são fruto de simples fluir da ação. Algumas são positivas em relação a uma determinada filosofia e projeto educativo e outras nem tanto ou completamente contrárias. Sinalizando-se que a proposta de Currículo Mínimo não significa propiciar o mínimo, pois “[...] não pode engessar o processo e nem tolher a liberdade de criação dos docentes, mas sim, servir como um rumo a ser seguido por todos, tendo em vista o sucesso da aprendizagem escolar (BRUSQUE, 2012, p. 16). Até mesmo porque se sabe que em meio à realidade escolar, há um currículo oculto que “[...] é constituído por aqueles aspectos do ambiente escolar que, sem fazerem parte do currículo oficial, explícito, contribuem, de forma implícita, para aprendizagens sociais relevantes” (SILVA, 2007, p. 78). Paralelo, a compreensão de inclusão se visualiza um meio de auxílio e ao mesmo tempo possibilidade para o seu desenvolvimento. Mais precisamente, para as Diretrizes Curriculares Municipal de Brusque (BRUSQUE, 2012) a Educação Especial é uma modalidade de ensino onde se realiza o atendimento educacional especializado, cujo se disponibiliza os serviços e recursos desse atendimento aos alunos e orienta os professores na utilização dos mesmos. Com o intuito de contribuir “para a construção de uma educação que garanta o acesso, a permanência e a aprendizagem para todos os alunos” (BRASIL, 2012, p. 31). O atendimento educacional especializado, segundo Brasil (2008), deve integrar a proposta pedagógica da escola, envolver a participação da família e articulado com as demais políticas públicas nacionais. Para tanto, Brusque (2012) salienta o marco legal da educação inclusiva, no qual apresenta os documentos e leis que garantem os direitos de acesso e igualdade na educação. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, conforme Constituição da República Federativa do Brasil de 5 de outubro de 1988 (BRUSQUE, 2012, p. 31-32). Para realizar o que preconiza a lei, o município adotou o Projeto de Atendimento Educacional Especializado (PAEE), que tem como objetivo principal realizar o PAEE, preferencialmente nas escolas onde o aluno com deficiência estuda, com auxílio de
- 169. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 14 160 recursos pedagógicos para o desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem. Os objetivos desse atendimento são assegurados no documento baseado no Decreto nº 6.571, de 17 de setembro de 2008 (BRASIL, 2008), tendo como objetivos: I - prover condições de acesso, participação e aprendizagem no ensino regular; II - garantir a transversalidade das ações da educação especial no ensino regular; III - fomentar o desenvolvimento de recursos didáticos e pedagógicos que eliminem as barreiras no processo de ensino e aprendizagem; e IV - assegurar condições para a continuidade de estudos nos demais níveis de ensino nos níveis fundamental, médio e superior, de forma a viabilizar o acesso aos conteúdos curriculares. Sinaliza-se que no contexto atual, esse Decreto (BRASIL, 2008) foi revogado pelo Decreto nº 7.611, de 17 de novembro de 2011 (BRASIL, 2011) que dispõe sobre a educação especial, o atendimento educacional especializado e dá outras providências, no entanto, no que se refere as modificações nos incisos, verificou-se apenas no inciso I que foi complementado recebendo a seguinte redação “I - prover condições de acesso, participação e aprendizagem no ensino regular e garantir serviços de apoio especializados de acordo com as necessidades individuais dos estudantes;” e o inciso IV foi suprimido para “assegurar condições para a continuidade de estudos nos demais níveis, etapas e modalidades de ensino” (BRASIL, 2011). O PAEE elabora, identifica e prepara os recursos pedagógicos e de acessibilidade, a fim de eliminar barreiras e possibilitar a autonomia do aluno na escola, na família e na sociedade. Esse projeto trabalha a necessidade do aluno conforme as especificidades do mesmo, para desenvolver as funções psicológicas superiores (atenção, concentração, memória, raciocínio, linguagem e percepção auditiva, tátil e visual, motricidade e pensamento) de uma forma dinâmica e lúdica. Para que esse trabalho ocorra, considera-se primordial o diálogo entre o professor de Educação Especial e os demais professores que atuam com o aluno com deficiência. Embora, por vezes, o documento (BRUSQUE, 2012) aborde somente o aluno com deficiência, o PAEE atende a três grupos diferentes. Isto é, os alunos da Rede Pública de Ensino que apresentam algum tipo de (1) deficiência; (2) transtornos globais de desenvolvimento e/ou (3) com altas habilidades (superdotação). Como expresso no documento, (1) alunos com deficiência são “aqueles que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, intelectual, mental ou sensorial, os quais, deparando-se com diversas barreiras, podem ter dificultada sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas” (p. 33). Compreende-se com (2) transtornos globais do desenvolvimento “aqueles que apresentam sintomatologia do espectro autista, quadro de alterações no desenvolvimento neuropsicomotor, comprometimento nas relações sociais, na comunicação ou estereotipias motoras. Incluem-se nessa definição alunos com autismo clássico, síndrome de Asperger, síndrome de Rett, transtorno desintegrativo da infância (psicoses)” (p. 33). E, (3) com
- 170. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 14 161 altas habilidades/superdotação, “aqueles que apresentam um potencial elevado e grande envolvimento com as áreas do conhecimento humano, isoladas ou combinadas: intelectual, acadêmica, liderança, psicomotora, artes e criatividade” (p. 33). Além desse público, também contempla alunos que apresentam dificuldades significativas em relação à aprendizagem ou transtornos funcionais, que nãos e caracterizam como deficiências, tais como: Dislexia, Disgrafia, Discalculia, Déficit de Atenção e Hiperatividade. Para esse acompanhamento orienta os professores, pais e demais profissionais da unidade escolar. O atendimento e acompanhamento ocorrem nas chamadas salas multifuncionais que são instaladas conforme o número de alunos que necessitem desse atendimento, visto que a quantidade de alunos mínimos deve ser dez, caso não se alcance esse número o professor poderá fazer o trabalho itinerante em outras escolas. Para um aluno receber um atendimento especial, diferenciado, deve passar por avaliação que diagnostique o que precisa, os diagnósticos são problemas visuais, intelectuais e comportamentais, motores, sensoriais e físicos. O professor, precisa elaborar um planejamento para esse aluno, identificando meios que facilitem o entendimento e percebendo o que dificulta, impedindo que a aprendizagem ocorra. Sendo que, o processo avaliativo no Ensino Fundamental de alunos com deficiência ou necessidades educacionais especiais, é realizado de uma maneira diversificada. Vejamos como apresenta no próprio documento: a avaliação dos alunos com deficiência se dá continuamente, na forma de registro avaliativo dissertativo. É feita bimestralmente pelo professor regente em conjunto com o professor auxiliar, junto com a nota a qual o relatório a justifica [...] (BRUSQUE, 2012, p. 34). Cada aluno tem uma forma de aprender, são todos diferentes uns dos outros, variam características físicas, sociais, culturais e funcionamento mental. Alguns aprendem melhor através de leitura, filmes, música, observação, mas existem também os que precisam de algo mais concreto ou até mesmo abstrato. Lembrando que não há aprendizagem se não existir um ensino eficiente, para acontecer esse ensino da melhor maneira deve se perceber as características de cada aluno. Após a avaliação sobre o aluno, o professor fará um Planejamento de Ensino Individualizado (PDI), esse planejamento deve ser elaborado considerando as limitações, dificuldades, procurando valorizar suas capacidades, explorando seu potencial. O planejamento deve conter o desenvolvimento de competências, utilizar recursos, materiais especiais, ensinar linguagens e códigos diferenciados, incentivar a comunicação, autonomia, produção de relatórios e apoio e orientação para a comunidade escolar. Os profissionais devem apoiar a melhoria de acessibilidade que atenda às necessidades específicas de cada aluno, dando atenção a cuidados pessoais, alimentação, higiene e locomoção. O serviço que a sala Multifuncional oferece (BRUSQUE, 2012) é composto por um professor de Educação Especial, auxiliar do
- 171. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 14 162 educando com deficiência, intérprete de libras, professor de libras, guia intérprete e transcritor em Braille. 4 | CONSIDERAÇÕES FINAIS A partir da análise elaborada percebemos que as Diretrizes Curriculares Municipais de Brusque abrange uma vasta informação acerca da inclusão, amparados em outros documentos em âmbito nacional que norteiam a ação pedagógica inclusiva. Como apresentado no decorrer do texto, nos parece que, por vezes, o documento apresenta contradição, pois quando disserta sobre inclusão trata somente de inclusão de alunos com deficiência. Entretanto, no PAEE, contempla tanto alunos com deficiência, como com transtornos globais de desenvolvimento, com altas habilidades, e/ou que apresentam dificuldades significativas em relação à aprendizagem ou transtornos funcionais. Diante disso, o processo de inclusão extrapola os indivíduos com deficiência, tendo uma leitura ampliada do processo de inclusão. Percebe-se que o PAEE apresenta como deve ocorrer a educação inclusiva no município, que acontece de maneira diversificada e acompanhada por profissionais qualificados. Ainda, o documento explicita o papel do profissional. Ressaltamos a importância, sobretudo dos profissionais que atuam diretamente com a criança com necessidades educacionais específicas tenha conhecimento sobre essa área, no documento não é citado sobre formação ou conhecimento específico por parte do professor quanto às necessidades específicas. Mais precisamente, quando sinalizamos a necessidade de uma formação continua, estamos ressaltando que devemos compreender as necessidades específicas além do estabelecimento de uma forma de comunicação com os indivíduos. REFERÊNCIAS BAÚ, Jorgiana; KUBO, Olga Mitsue. Educação Especial e a capacitação do professor para o ensino. Curitiba: Juruá, 2009. BORGES, Maria Célia Dalberio; PEREIRA, Helena de Ornellas Sivieri; AQUINO, Orlando Fernández. Inclusão versus integração: problemática das políticas e da formação docente. Revista Ibero- americana de Educação, v. 59, n. 3, p. 1-11, 15 jul. 2012. BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm>. Acesso em: 15 jan. 2019. BRASIL. Decreto nº 6.571, de 17 de setembro de 2008. Dispõe sobre o atendimento educacional especializado, regulamenta o parágrafo único do art. 60 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e acrescenta dispositivo ao Decreto no 6.253, de 13 de novembro de 2007. Disponível em: ˂http:// www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Decreto/D6571.htm˃. Acesso em: 15 jan. 2019. BRASIL. Decreto nº 7.611, de 17 de novembro de 2011. Dispõe sobre a educação especial, o
- 172. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 14 163 atendimento educacional especializado e dá outras providências. Disponível em: ˂http://www.planalto. gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Decreto/D7611.htm#art11˃. Acesso em: 15 jan. 2019. BRASIL. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). 2015. Disponível em: ˂http://www.planalto.gov.br/ ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm˃. Acesso em: 15 jan. 2019. BRITO, Lívia Érica Barbosa de; LUNA, Christiane Freitas; DUARTE, Leonardo de Carvalho. História de corpo e de vida: imagem e autoimagem das pessoas com deficiência física. In: Anais.. I Congresso Nacional de pesquisa em educação especial e inclusiva: múltiplos olhares frente à pessoa com deficiência, 2010, Aracaju – SE. Editora da UFS, 2010. p. 880-893. BRUSQUE (SC). Secretaria Municipal de Educação. Diretrizes Curriculares Municipais. Brusque: Prefeitura de Brusque, 2012. GIMENO SACRISTÁN, Jose. O currículo: uma reflexão sobre a prática. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2000. MANTOAN, Teresa E. Igualdade e diferenças na escola: como andar no fio da navalha. In: MANTOAN, Teresa E.; PRIETO, Rosângela G.; ARANTES, Valéria A. (Org.). Inclusão Escolar: pontos contrapontos. São Paulo: Summus, 2006. OREALC/UNESCO. Declaração de Salamanca e Linha de Ação sobre Necessidades Educativas Especiais. Brasília: CORDE, 1994. PASSOS, Arlei Ferreira. Educação Especial: Práticas de aprendizagem, convivência e inclusão. São Paulo: Centauro, 2009. SILVA, Tomaz Tadeu da (Org). Identidade e diferença. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 2003. SILVA, Tomaz Tadeu da. Documentos de Identidade: uma introdução às teorias do currículo. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2007. VIANA, Sônia Maria de Azevedo; AZEVEDO, Ana Maria Lourenço; ARAÚJO, Maria José de Azevedo. Direito à educação, cidadania e inclusão: atualizando o debate sobre a competência pedagógica e a formação docente. In: SOUZA, Rita de Cácia Santos; SILVEIRA, Jussara Maria Viana; COSTA, Kátia Regina Lopes. Educação infantil, alfabetização e educação inclusiva. Aracaju: Criação, 2013. ZOBOLI, Fabio; BORDAS, Miguel Angel Garcia; NUNES, Camila da Cunha; LAMAR, Adolfo Ramos. A inclusão no contexto histórico da Educação Física brasileira. In: Anais.. I Congresso Nacional de pesquisa em educação especial e inclusiva: múltiplos olhares frente à pessoa com deficiência, 2010, Aracaju – SE. Editora da UFS, 2010. p. 819-832.
- 173. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 15 164 EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO: NARRATIVAS DE UMA EXPERIÊNCIA DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA NO CURSO DE PEDAGOGIA DA UEPA CAPÍTULO 15 doi Diana Lemes Ferreira Professora da UEPA. Líder do Grupo de Estudos e Pesquisas Pedagogia em Movimento (GEPPEM). Coordenadora do Projeto de Extensão “Pedagogia em Movimento: educação para o trânsito em Belém do Pará”. Belém/PA. Rejane Pinheiro Chaves Acadêmica do curso de Pedagogia/UEPA. Bolsista do Núcleo de Assistência Estudantil (NAE). Membro do Grupo de Estudos e Pesquisas Pedagogia em Movimento (GEPPEM). Aluna voluntária do Projeto de Extensão “Pedagogia em Movimento: educação para o trânsito em Belém do Pará”. Belém/PA. RESUMO:Trata-sedepráticaseducativassobre educação para o trânsito. Objetiva socializar a vivência de um projeto de extensão, realizada em uma escola pública que fica localizada em num bairro de grande movimentação em Belém do Pará. O percurso metodológico se deu por meio de pesquisa bibliográfica sobre o tema, participação de debates e reflexões, pesquisa-ação no Departamento de Trânsito do Pará, na Universidade do Estado do Pará e na escola. O projeto propiciou aprofundamento teórico sobre o tema, pois requer do pedagogo um conhecimento na elaboração e aplicação de oficinas pedagógicas sobre o tema em escolas de educação básica, bem como maior aproximação da universidade com a sociedade. Conclui-se que o projeto contribui para a formação de Pedagogos críticos e qualificados fortalecendo a aproximação da universidade com as escolas de educação básica e a missão universitária buscando colocar em prática a tríade ensino, pesquisa e extensão. PALAVRAS-CHAVE: Educação para o trânsito. Extensão universitária. Pedagogia. ABSTRACT: These are educational practices on traffic education. It aims to socialize the experience of an extension project, carried out in a public school that is located in a neighborhood of great movement in Belém do Pará. The methodological course was given through bibliographical research on the theme, participation of debates and reflections, research - at the Traffic Department of Pará, at the State University of Pará and at the school. The project provided a theoretical background on the subject, since it requires the pedagogue to have knowledge in the elaboration and application of pedagogical workshops on the subject in primary education schools, as well as a closer relationship between the university and society. It is concluded that the project contributes to the formation of critical and qualified pedagogues, strengthening the university's approach to basic education schools and the university mission in order to put into practice the teaching, research and extension triad.
- 174. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 15 165 KEYWORDS: Traffic education. University Extension. Pedagogy. 1 | INTRODUÇÃO O projeto de extensão “Pedagogia em movimento: educação para o trânsito em Belém do Pará”, vinculado ao Grupo de Estudo e Pesquisa Pedagogia em Movimento (GEPPEM)daUniversidadedoEstadodoPará(UEPA)emparceriacomoDepartamento de Trânsito do Pará (DETRAN/PA) recorre a conteúdos de currículo formal como também as questões que apontam o aumento alarmante dos dados estatísticos de mortes e pessoas com sequelas permanentes nos espaços de circulação nas vias públicas para desenvolver suas atividades. Saberoqueétrânsito,comoseforma,quemsãoseussujeitos,quaisseusinteresses e necessidades, o que é educação para o trânsito, são temáticas abordadas em sala de aula e atividades extraclasse, orientadas intencionalmente e pedagogicamente por meio de ações lúdicas. Fazendo uso das perspectivas metodológicas que podem ser utilizadas como forma de diminuir a dicotomia entre discurso e ação. Apesar da educação para o trânsito não fazer parte dos temas na lista dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), colabora de maneira significativa para a transversalidade, interdisciplinaridade, a pedagogia de projetos e temas geradores. Por se tratar de um tema de relevância social que abrange todas as regiões brasileiras necessita ser analisado seu campo de atuação e a contribuição deste na construção de conhecimentos entre a população. Para este artigo foi feito um recorte analítico de parte do projeto de extensão que está em andamento. As ações aqui socializadas referem-se ao período em que o projeto foi aplicado em uma escola pública de Belém localizada no bairro do Marco. Dessa forma, a ação educativa vivenciada na escola é relatada sobre reflexão de que trânsito é vida. 2 | DESENVOLVIMENTO O trânsito é o conjunto de todos os deslocamentos diários e que aparece nas ruas e rodovias como forma de movimentação geral de pedestre, veículos e animais. Que atende as características de cada grupo social de acordo com suas necessidades ligadas às questões sócias e políticas. O trânsito é assim, o conjunto de todos os deslocamentos diários, feitos pelas calçadas e vias da cidade, e que aparece na rua na forma de movimentação geral de pedestres e veículos. (VASCONCELLOS, 1998 p. 11). O artigo primeiro do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) define que a educação para o trânsito é um direito de todos e dever de todas as instituições ligadas ao Sistema
- 175. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 15 166 Nacional de Trânsito. Conceitua o trânsito da seguinte maneira: Considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga. (DETRAN, 2008) O trânsito faz parte do cotidiano dos cidadãos e cidadãs nas mais diferentes mobilidades e diversas atividades. Para se ter um comportamento seguro no trânsito, em que todos possam usufruir de acordo com suas necessidades, se faz necessário a educação para o trânsito de forma contínua. O trânsito está presente na nossa vida todos os dias. E acreditamos que podemos construir um trânsito mais seguro e ético se tivermos mais políticas públicas e projetos voltados para a questão de educação para o trânsito. Entendemos que educar para o trânsito é cultivar e salvar vidas, evitar colisões e acidentes de trânsitos, é exercer a cidadania com seriedade, respeito, solidariedade e gentileza. No entanto, o Brasil tem se apresentado como recordista mundial no que tange acidente de trânsito. E a criança pelo seu aspecto físico, estatura, a imaturidade é ser um dos personagens mais vulnerável no trânsito, tem apresentado um número significativo para a violência existente no trânsito, com número preocupante de acidentes de trânsito. Acreditamos que o ser humano, como sujeitos de relações capazes diante da história de fazer e refazer o inacabado pode deixar marcas que interfere no mundo, com perspectivas de grandes possibilidades de deixar sua marca positiva. (OLIVEIRA, 2000).Assim acreditamos que este poderá deixar marcas positivas no trânsito cotidiano nas mais diferentes mobilidades. Para tanto, se faz necessário o trabalho de educação para o trânsito no sentido de construir um comportamento seguro no trânsito, em que todos possam usufruir do mesmo de acordo com suas necessidades. Aescola como uma das principais construtora e disseminadora de conhecimentos, tem o papel de informar e educar o ser humano desde a infância no que tange a educação para o trânsito. Como também, nas outras fases da escolaridade, pois em todas as fases de ensino-aprendizagem, o trânsito é uma temática que pode ser abordada em todos os níveis de ensino. O que pode ser reafirmado em alguns artigos do Código de Trânsito Brasileiro (CTB): Art. 76. A educação para o trânsito será promovida na pré-escola e nas escolas de 1º, 2º e 3º graus, por meio de planejamento e ações coordenadas entre órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito e de Educação, da união, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nas respectivas áreas de atuação. (BRASIL, 2008) Outra contribuição importante do projeto é a possibilidade de colocar em prática o que preconiza o CTB como determina o artigo 76, bem como, o que apregoa o artigo 74 quando o mesmo ratifica que a Educação para o Trânsito é um direito, como
- 176. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 15 167 podemos ver a seguir: Art. 74. A educação para o trânsito é direito de todos e constitui dever prioritário para os componentes do Sistema Nacional de Trânsito. § 1º É obrigatória a existência de coordenação educacional em cada órgão ou entidade componente do Sistema Nacional de Trânsito. § 2º Os órgãos ou entidades executivos de trânsito deverão promover, dentro de sua estrutura organizacional ou mediante convênio, o funcionamento de Escolas Públicas de Trânsito, nos moldes e padrões estabelecidos pelo CONTRAN. (BRASIL, 2008) (GRIFOS NOSSOS) Outra questão importante a ser destacada é o papel das universidades no processo de construção de um trânsito seguro tendo a educação para o trânsito como principal pilar de sustentação nesta empreitada como podemos verificar no parágrafo único do artigo 76 do CTB: Parágrafo único. Para a finalidade prevista neste artigo, o Ministério da Educação e do Desporto, mediante proposta do Contran e do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras, diretamente ou mediante convênio, promoverá: I – a adoção, em todos os níveis de ensino, de um currículo interdisciplinar com conteúdo programático sobre segurança de trânsito; II – a adoção de conteúdos relativos à educação para o trânsito nas escolas de formação para o magistério e o treinamento de professores e multiplicadores; III – a criação de corpos técnicos interprofissionais para levantamento e análise de dados estatísticos relativos ao trânsito; IV – a elaboração de planos de redução de acidentes de trânsito junto aos núcleos interdisciplinares universitários de trânsito, com vistas à integração universidades-sociedade na área de trânsito (BRASIL, 2008). (GRIFOS NOSSOS) Nesta perspectiva o projeto de extensão ora relatado tem buscado contribuir para colocar em prática o preconiza o CTB, bem como, tem somado na implementação do Plano Nacional da Década de Redução de Acidentes de Trânsito (BRASIL, 2015), bem como, com a Política Nacional de Trânsito (BRASIL, 2004), colaborando assim na construção de um trânsito mais humano, seguro e ético no Estado do Pará, em especial, na cidade de Belém. A vivência educativa do projeto relatada aqui foi desenvolvida em uma escola pública de Belém, localizada em um bairro de bastante movimento e fluxo de carros, motocicletas, caminhões, ciclistas e pedestres. Além de estar próxima do Bus Rapid Transit (BRT) o que torna o trânsito mais perigoso. A ação pedagógica foi especialmente elaborada para atender uma turma de educação infantil. A ação denominada “Eu também sou o trânsito” teve como objetivo proporcionar atividades educativas para contribuir para que a criança possa se identificar como uma pessoa integrante do trânsito com direitos e deveres. Acreditamos ser de relevância social e acadêmica investigar esta temática, pois, a educação para o trânsito se faz importante nos dias atuais, devido à realidade preocupante em que o trânsito nas grandes cidades brasileiras se encontra e dos altos índices de acidentes de trânsito.
- 177. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 15 168 Segundo o DETRAN (2017) nos últimos cinco anos foram registrados 1282 mortes no trânsito de Belém. Em relação a acidentes de trânsito com crianças e adolescentes de 05 a 14 anos de idade, nosso público do projeto, a ONG Criança Segura aponta que este tipo de acidente é a principal causa de morte acidental no Brasil. “Em 2016, 897 crianças dessa faixa etária morreram vítimas de acidentes de trânsito e, em 2017, 9.581 foram hospitalizadas, segundo Ministério da Saúde”. (CRIANÇA SEGURA, 2018). Nesta perspectiva ações e projetos de educação para o trânsito podem contribuir de maneira positiva com a melhoria das estatísticas apontadas. E neste sentido o projeto ora aqui relatado tem buscado dar a usa contribuição na construção de um trânsito mais seguro e humanizado. Assim sendo, a temática foi abordada por meio de uma breve explicação do que é o trânsito e apresentação de algumas placas de sinalização mais comuns do cotidiano e alguns meios de transporte terrestres, marítimos e aéreos. Com algumas figuras para simbolizar esses meios, ampliando seus conhecimentos. No momento em que estava sendo socializado para as crianças os diferentes meios de transporte, e que elas não poderiam ainda ser transportadas de motocicleta devido a tenra idade, muitas anunciaram utilizada a motocicleta para atingir seus destinos e acreditavam ser correto esse procedimento. Como a criança nesta fase se encontra nos primeiros estágios de desenvolvimento da inteligência, a noção de risco não pode ser compreendida pela criança; porque ela não consegue diferenciar o possível do necessário. Elas precisam da mediação de outra pessoa adulta que já tenha vivência com o trânsito, pois a aprendizagem se faz também por meio de interação social. (PIAGET, 1967). Neste sentido nossa ação na escola foi de grande valia para a sensibilização das crianças sobre a temática, as quais são multiplicadoras em casa com suas respectivas famílias. Foi realizado com as crianças o brinquedo cantado, como forma de estimular a imaginação, sendo paródias de músicas infantis conhecidas pelas crianças. As músicas escolhidas para esse momento foram alecrim e marcha soldado. Foi apresentado primeiro na versão original de domínio público em seguida com a letra trocada, trabalhando a temática do trânsito. Valendo ressaltar que as paródias foram tiradas do livro de Rios (2006) o qual é rico em possibilidades de atividades sobre educação para o trânsito. Acriançagostadeusaraimaginação comoformardefacilitaraaprendizagem, pois ela age de forma espontânea, natural ao expressar sua realidade. Momento propício para desenvolver uma atividade educativa, com recurso que ensina, desenvolve e educa de forma prazerosa. (KISHIMOTO, 1997). Por fim, como culminância das atividades desenvolvidas pelos alunos, que se deu com o desenho livre, construiu-se um mural para fazer exposição do que foi assimilado por eles, com o objetivo de mostrar a criatividade, além de fazermos uma análise da aplicação do projeto e fazer possíveis adaptações.
- 178. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 15 169 3 | CONCLUSÃO A educação para o trânsito tem um longo caminho a ser desvelado. Por uma série de questões, as pessoas não se preocuparam muito em como utilizar seus bens automobilísticos, com respeito e responsabilidade sem trazer danos aos cidadãos que de meio mais frágil ou como pedestre, utilizam as vias de circulação. Além de cidadãos que transmite conhecimento de forma errada, esquecendo- se que antes de tudo, formamos cidadãos nos exemplos que damos diante das mais diversas situações e a criança está atenta a todos os movimentos que um adulto produz. Se a criança aprende de forma errada, ela vai reproduzir a outros cidadãos, tornando um ciclo vicioso de erros. O Projeto de Pesquisa e Extensão “Pedagogia em Movimento: educação para o trânsito em Belém do Pará” é um diferencial na formação acadêmica de todos os participantes do projeto, pois o mesmo tem proporcionado enriquecer conhecimentos educativos no que tange a educação para o trânsito em ambientes educativos escolares e não escolares. Além de que a temática se propõe adentrar nas escolas e desenvolver atividades que contribuam para construir conhecimentos a fim de tornar as pessoas mais conscientes e sensibilizadas na hora de utilizar as vias de circulação, contribuindo para um trânsito mais seguro. Ressalta-se, também, que o projeto tem fomentado a nível local a construção de políticas públicas educacionais que venham a somar na melhoria da qualidade social da educação. O projeto como um todo tem contribuído com a missão universitária da UEPA de “produzir, difundir conhecimento e formar profissionais éticos, com responsabilidade social, para o desenvolvimento sustentável da Amazônia” almejando no futuro “ser referência científico-cultural de ensino, pesquisa e extensão em nível nacional”. (UEPA, 2007, p. 17-19). Reforçando o fomento da relação teoria e pratica dos alunos do curso de Licenciatura em Pedagogia participantes do projeto, fortalecendo a aproximação da Universidade com escolas de educação básica com ações pedagógicas nas escolas e instituições parceiras como DETRAN/PA que solidificam a tríade universitária: ensino pesquisa e extensão. As ações do Projeto tem reforçado a sensibilização dos alunos, professores, coordenadores pedagógicos, direção, corpo técnico e de apoio das escolas que recebe o projeto, sobre a temática Educação para o Trânsito. Outro ponto positivo é a sistematização da vivência por meio de relatos de experiências, elaboração de artigos, pesquisas e Trabalhos de Conclusão de Curso, participação em eventos educacionais dentro e fora de Belém o que tem dado visibilidade ao projeto, buscando referendar a importância de qualificar a educação para o trânsito da cidade de Belém contribuindo para a sensibilização e construção de um trânsito mais seguro, ético e humanizado.
- 179. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 15 170 REFERÊNCIAS BRASIL. Denatran. Código de Trânsito Brasileiro: Instituído pela Lei n. 9503, de 23-9-97, 1 ed. Brasília: DENATRAN, 2008. BRASIL. Ministério das Cidades. Diretrizes nacionais da educação para o trânsito na pré-escola/ Texto de Juciara Rodrigues; Ministério das cidades, Departamento Nacional de Trânsito, Conselho Nacional de Trânsito. Brasília: Ministério das Cidades, 2009. BRASIL, Ministério das Cidades. Departamento Nacional de Trânsito. Política Nacional de Trânsito. Brasília DF. 2004. Disponível em: http://www.denatran.gov.br/download/PNT.pdf. Acesso em 17 de mar de 2015 BRASIL, Ministério das Cidades. Comitê Nacional de Mobilização pela saúde, segurança e paz no trânsito. Plano Nacional de Redução de Acidentes e Segurança Viária Para a Década de 2011- 2020. Brasília DF, 2010. Disponível em: <http://www.denatran.gov.br/download/Plano%20Nacional%20de%20Redu%C3%A7%C3%A3o%20 de%20Acidentes%20-%20Comite%20-%20Proposta%20Preliminar.pdf > . Acesso em 17 mar de 2015. CRIANÇA SEGURA. Aprenda a viver. Como evitar acidentes de trânsito. Dados. Disponível em: https://criancasegura.org.br/dicas/dicas-de-prevencao-transito/. Acesso em dez 2018. DETRAN. Gerência de Estatística. Acidentes, feridos e mortos registrados no Município de Belém. Detran: Belém, Pará. KISHIMOTO, Tizuto Morchida (org.). Jogo, brinquedo, brincadeira e a educação. 2 ed. São Paulo; Cortez, 1997. OLIVEIRA, Ivanilde Apoluceno de. Leituras freirianas sobre educação. São Paulo: UNESP, 2003. PIAGET, Jean. O raciocínio na criança. Ed. Record. Rio de Janeiro, 1967. SILVA, Irene Rios da. Transitando com segurança: educação para o trânsito. São José. Ilha Mágica Editora, 2006. UEPA. Plano de Desenvolvimento Institucional 2005-2014. Belém: UEPA, 2007 VASCONCELLOS, Eduardo Alcântara. O que é trânsito. São Paulo: Brasiliense, 1998.
- 180. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 16 171 IGUALDADE DE OPORTUNIDADE PARA AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO CAPÍTULO 16 doi Sandra Lia de Oliveira Neves Juiz de Fora – MG RESUMO: O presente trabalho tem como foco de estudo o direito de igualdade de oportunidade das pessoas com deficiência no sistema educacional brasileiro. As políticas públicas, voltadas para a inclusão dos alunos com deficiência, são questões que fazem parte do contexto escolar da atual sociedade e requerem atenção especial, para que se possa criar um espaço escolar que atenda às necessidades dos alunos e possibilite a inclusão de todos dentro das instituições de ensino. Para a realização deste trabalho, empregou- se como metodologia a análise bibliográfica e documental acerca das ações governamentais de inclusão escolar. PALAVRAS–CHAVE: Políticas Públicas, Inclusão, Igualdade de oportunidade; Pessoas com deficiência. 1 | INTRODUÇÃO O trabalho enfoca as ações governamentais em favor da inclusão dos alunos com deficiência no ensino regular. A metodologia empregada neste trabalho baseia-se na análise documental das políticas públicas educacionais brasileiras, com ênfase nos livros de Domínio Público do Ministério da Educação, sobre Saberes e Práticas da Inclusão e sobre a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (LBI). O trabalho é de cunho descritivo, utilizando-se de pesquisa bibliográfica e documental. Na visão de Stainback (1999, p.21) “a educação é uma questão de direitos humanos, e os indivíduos com deficiências devem fazer parte das escolas, as quais devem modificar seu funcionamento para incluir todos os alunos”. Dessa forma, levantamos a seguinte questão para entender o processo de inclusão da pessoa com deficiência no Brasil. Formulam-se políticas públicas em favor da igualdade de oportunidades, de inclusão, de valorização da dignidade humana e de respeito, mas como entender todo esse processo, num cenário educacional onde ainda se encontra um panorama de ações excludentes? Tal indagação faz parte do contexto educacional contemporâneo e consiste muitas das vezes em um grande desafio que ainda precisa ser superada no âmbito educacional.
- 181. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 16 172 2 | INCLUSÃO - IGUALDADE DE OPORTUNIDADE O avanço tecnológico abriu as portas para o acesso às diversas culturas. As nações conectaram-se e formou-se uma rede onde tudo e todos estão misturados, onde valores, crenças, ideias se expandiram. Nesse contexto surgem as políticas públicas inclusivas que visam amenizar as discriminações e os preconceitos existentes no mundo globalizado. O reconhecimento do sujeito como partícipe da organização social é a causa dos muitos movimentos sociais que, lutam cada qual com seus argumentos, para conquistar seu espaço nos grupos sociais que compõem a vida em sociedade. Gohn (2011) discorre que: A relação movimento social e educação existe a partir das ações práticas de movimentos e grupos sociais. Ocorre de duas formas: na interação dos movimentos em contato com instituições educacionais, e no interior do próprio movimento social, dado o caráter educativo de suas ações. No meio acadêmico, especialmente nos fóruns de pesquisa e na produção teórico-metodológica existente, o estudo dessa relação é relativamente recente. A junção dos dois termos tem se constituído em “novidade” em algumas áreas, como na própria Educação – causando reações de júbilo pelo reconhecimento em alguns, ou espanto e estranhamento – nas visões ainda conservadoras de outros (GOHN, 2011, p.334) As pessoas com deficiência conquistaram o direito à igualdade de oportunidades dentro do sistema educacional regular, entretanto, não basta apenas estarem incluídas no meio, é preciso que também recebam toda a assistência de que necessitam para a aprendizagem do currículo escolar e para estabelecer suas relações sociais. A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência visa garantir a igualdade de oportunidade. Art. 1o É instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), destinada a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania. (Lei nº 13.146, 2015) Mantoan (2013, p.35), em relação aos desafios da educação inclusiva relata que o maior deles: “é convencer os pais, especialmente os que têm filhos excluídos das escolas comuns, de que precisam fazer cumprir o que o nosso ordenamento jurídico prescreve quando se trata do direito à educação”. Stainback (1999, p. 23) ressalta que: “as pessoas com deficiência ficam preparadas para a vida em comunidade quando são incluídas nas escolas e nas salas de aula”. A escola, a sala de aula são espaços de aprendizagem e vivência e numa sociedade multicultural, esses espaços são repletos de diferenças, e tal diversidade sugere inúmeras formas de se aprender e agir e, quando a diversidade é trabalhada de forma consciente e respeitosa, ela contribui para a formação do cidadão e para a formação de um sujeito crítico e reflexivo. A oportunidade de conviver com seus pares, respeitando as diferenças entre
- 182. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 16 173 eles, cria, no ambiente educacional, uma equipe cooperativa que desenvolve atitudes que beneficiam o crescimento de todos independente de terem ou não deficiência. Aprender a conviver com todas as pessoas não é só importante para aqueles com deficiência, é importante para todos. A sociedade é composta por múltiplas identidades que, por sua vez, participam da construção do meio social. Paín (1985), sobre a dimensão social do processo de aprendizagem, fala: No nível social, podemos considerar a aprendizagem como um dos pólos do par ensino-aprendizagem, cuja síntese constitui o processo educativo. Tal Processo compreende todos os comportamentos dedicados à transmissão da cultura, inclusive os objetivados como instituições que, específica (escola) ou secundária (família), promovem a educação. (PAÍN, 1985, p. 17) Reformular e reestruturar as instituições de ensino para construir um sistema educacional inclusivo constituem ações que demandam tempo, vontade e interesse por parte dos envolvidos no processo. Reconhecer e respeitar a diversidade local contribui para entender, aceitar e cooperar a diversidade global. Promover uma relação entre os alunos com deficiência com a comunidade, família, setor educacional e de saúde, a fim de oportunizar a integração social dos mesmos, é uma das questões acordadas na Declaração de Salamanca, que declara publicamente o direito de toda criança à educação. Reabilitação comunitária deveria ser vista como uma abordagem específica dentro do desenvolvimento da comunidade objetivando a reabilitação, equalização de oportunidades e de integração social de todas as pessoas portadoras de deficiências; deveria ser implementada através de esforços combinados entre as pessoas portadoras de deficiências, suas famílias, e comunidades e os serviços apropriados de educação, saúde, bem-estar e vocacional. (SALAMANCA, Item 20) O distanciamento entre os sujeitos implica na dificuldade de relacionamento e de aprendizado.ParaMantoan(2013,p.37)“ainclusãoimplicaumamudançadeparadigma educacional, que gera a reorganização das práticas escolares: planejamentos, formação de turmas, currículo, avaliação, gestão do processo educativo”. Conferências Mundiais visam criar, ampliar e garantir o direito de todos. O Brasil é membro participante de acordos mundiais em prol da inclusão como no acordo da referida Declaração de Salamanca, ocorrido na Espanha. Diante desse novo contexto social e educacional, formula, implanta e monitora políticas públicas inclusivas, a fim de combater a exclusão, a segregação, a discriminação e o preconceito que permeiam a vida social das pessoas com deficiências, garantindo a esse grupo a igualdade de oportunidade de acesso, permanência e aprendizagem dentro do sistema educacional de ensino regular.
- 183. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 16 174 3 | MEC, PNE E LBI: AÇÕES EM PROL DA INCLUSÃO DE CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIAS NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO REGULAR NO BRASIL O Ministério da Educação (MEC) expediu em 2005 o Documento subsidiário à política de inclusão, (doravante DSPI), a fim de auxiliar os sistemas educacionais brasileiros na construção de uma escola inclusiva que valoriza e respeita a diversidade. No Brasil o direito à educação é garantido por lei a todos, independente, de suas necessidades específicas. A Constituição Brasileira garante aos cidadãos, sem exceção, a oportunidade de se preparar para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho (art. 205, CF). Um dos princípios bases do ensino é a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola (art. 206, I, CF). O acesso à educação garantido pela legislação brasileira não discrimina as pessoas com deficiência, pelo contrário, lhes permite o acesso ao ensino regular, reconhecendo que todos gozam do direito à educação. O atual Plano Nacional de Educação/PNE (2014-2024), em sua meta 4, discorre sobre a política da educação especial / inclusiva, enfatizando o direito dos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades e superdotação a frequentar a sala de aula comum e, quando se fizer necessário, receber o atendimento educacional especializado. Meta 4: universalizar, para a população de quatro a dezessete anos com deficiência, transtornosglobaisdodesenvolvimentoealtashabilidadesesuperdotação,oacesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou convencionais. (PNE, 2014/2014, p. 55) Avalorização das potencialidades das pessoas com deficiência permeia as metas e estratégias propostas pelo poder público para a construção dos planos pedagógicos educacionais que garantam o acesso de todos os alunos à educação, construindo um espaço escolar favorável à igualdade de oportunidades e a participação ativa de todos. A Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (LBI) que tem como base a Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e a necessidade de serviços públicos para atender à demanda da população. Seu objetivo é de progredir nas conquistas dos direitos, proporcionando uma redução da exclusão das pessoas com deficiência. A LBI destina-se a garantir as condições de igualdade, promovendo a inclusão social. Em relação à formação continuada do professor e as reflexões necessárias para a construção de um sistema educacional inclusivo, o DSPI ressalta: A formação do professor deve ser um processo continuo, que perpassa sua prática com os alunos, a partir do trabalho transdisciplinar com uma equipe permanente de apoio. É fundamental considerar e valorizar o saber de todos os profissionais da educação no processo de inclusão. Não se trata apenas de incluir um aluno, mas de repensar os contornos da escola e a que tipo de Educação estes profissionais
- 184. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 16 175 têm se dedicado. Trata-se de desencadear um processo coletivo que busque compreender os motivos pelos quais muitas crianças e adolescentes também não conseguem encontrar um “lugar” na escola. Para isso, não bastam informações e imperativos, mas verdadeiros processos de reflexão que levem os grupos a considerar qual é o discurso que se produz na sua prática. Os discursos institucionais tendem a produzir repetições, buscando garantir a permanência do igual, do já conhecido, como forma de se proteger da angústia provocada pelo novo. Ao reconhecer que faz parte de um sistema regulado por algumas práticas já cristalizadas, o grupo terá condições de buscar mecanismos que possibilitem a discussão e análise das questões que envolvem o seu fazer, ressignificando as relações entre sujeitos, saberes e aprendizagens e criando novas práticas inclusivas. Dessa forma, cada contexto escolar deveria se situar como autor de seu projeto pedagógico, levando em conta as suas experiências. (MEC, DSPI, p. 21, 22) O reconhecimento e o respeito às múltiplas identidades oportuniza a convivência, a aprendizagem e valoriza as diferenças. A instituição de ensino que se adequa às necessidades de seus alunos e proporciona condições favoráveis de trabalho para seus professores produz oportunidades iguais para todos. De acordo com Sem & Kliksberg (2010, p. 43) “a diversidade plural pode ser muito unificadora, de uma forma que um sistema único de divisões predominantes não é”. Quando se fala em alunos com deficiências múltiplas, logo se pensa em uma série de deficiências associadas, porém, independente dessas deficiências, o importante não é a soma das anomalias e sim a valorização do potencial desses alunos. O desenvolvimento da aprendizagem é bem variado e depende, muitas vezes, da adaptação do aluno ao meio educacional: O conceito de necessidade educacional especial vem romper com essa visão reducionista de educação especial centrada no déficit, na limitação, na impossibilidade do sujeito de interagir, agir e aprender com os demais alunos em ambientes o menos restritivos possíveis. (BRASÍLIA: MEC, Sec. de Ed. Especial p.103) Cabe ao poder público formular, aplicar e avaliar o ciclo das políticas aplicadas para garantir o direito à educação. Legalmente, está garantido o direito de igualdade de oportunidades. O acesso, a permanência e o desenvolvimento cognitivo e social dos alunos com necessidades educacionais específicas deverão ser fatores primordiais na elaboração dos projetos pedagógicos, conforme consta no Art.28 da Lei Brasileira de Inclusão (LBI, Cap. IV, 2015, p.7), de forma a valorizar e respeitar o ser humano, combatendo assim os preconceitos e discriminações que afetam sua dignidade. 4 | CONCLUSÃO Atualmente, reconhece-se o direito das pessoas com deficiência de exercer sua cidadania, seu papel social. Crianças, jovens e adultos com deficiências necessitam de atendimento específico para desenvolver suas habilidades e competências.
- 185. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 16 176 OAtendimentoEducacionalEspecializadoqueinicialmentefoicriado,unicamente, para atender as pessoas com deficiência, ofertando atendimento especializado, passa também a atuar junto a uma equipe multidisciplinar, composta por diversos profissionais da área da saúde, assistência social e educação que, realizando um trabalho cooperativo, dão suporte para proporcionar ao aluno com deficiência o direito de igualdade de oportunidade dentro das instituições de ensino regular. Apesar dos avanços no campo das políticas públicas inclusivas, algumas mudanças são necessárias para garantir o acesso, a permanência e a aprendizagem dos alunos com deficiência, no ensino regular: I- A reestruturação da construção arquitetônica das instituições de ensino, para permitir o livre acesso às dependências da escola; II- a construção de um currículo que atenda às reais necessidades dos alunos; III- a parceria das instituições de ensino regular com os profissionais da saúde, assistência social e com a rede de atendimento educacional especializado; IV- os investimentos na formação continuada dos professores para capacitá- los para essa nova realidade educacional; V- a criação de salas de recursos para atender aos alunos; VI- a elaboração de material didático específico e proposta política pedagógica que valoriza e respeita as diferenças. As políticas públicas inclusivas são uma realidade no sistema educacional brasileiro. Em consonância com os acordos internacionais, em favor da educação para todos, o Brasil desenvolve ações governamentais, a fim de proporcionar a inclusão dos alunos com deficiência na rede regular de ensino. REFERÊNCIAS BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil (CF/88) / coordenação Mauricio Antônio Ribeiro Lopes. 3ª ed. rev. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1988. BRASIL, Lei nº 9394 de 20 de dezembro de 1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB). (Livro Digital). BRASIL. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ ccivil_03/_Ato20152018/2015/Lei/L13146.htm. Acesso em: 16/05/2016. BRASIL. Plano Nacional de Educação - PNE (2014-2024) Disponível em:http://www. observatoriodopne.org.br/uploads/reference/file/439/documento-referencia.pdf. Acesso em: 02/07/2015. BRASIL. Sec. de Educação Especial. Saberes e práticas da inclusão: dificuldades acentuadas de aprendizagem – deficiência múltipla. 4. ed. / elaboração profª Ana Maria de Godói – Associação de Assistência à Criança Deficiente – AACD... [et.al.]. – Brasília: MEC, Secretaria de Educação Especial, 2006. (Livro Digital)
- 186. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 16 177 BRASIL. Sec. de Educação Especial. Saberes e práticas da inclusão – recomendações para a construção de escolas inclusivas. [2. ed.] / coordenação geral SEESP/MEC. – Brasíla : MEC, Secretaria de Educação Especial, 2006. 96 p. (Série : Saberes e práticas da inclusão). http://portal. mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/const_escolasinclusivas.pdf. Acesso em 19/07/2016. BRASIL. Ministério da Educação. Documento subsidiário à política de inclusão / Simone Mainieri Paulon, Lia Beatriz de Lucca Freitas, Gerson Smiech Pinho. –Brasília : Ministério da Educação, Secretaria de Educação Especial, 2005. http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/ docsubsidiariopoliticadeinclusao.pdf Acesso em 14/07/2016. BRASIL. Ministério da Educação. Programa Escola Acessível. http://portal.mec.gov.br/secretaria-de- educacao-continuada-alfabetizacao-diversidade-e-inclusao/programas-e-acoes?id=17428. Acesso em 14/07/2016. DECLARAÇÃO de Salamanca. Sobre Princípios, Políticas e Práticas na Área das Necessidades Educativas Especiais. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/salamanca.pdf>. Acesso em: 16/dez./2014. GOHN, Maria da Glória. Movimentos sociais na contemporaneidade. Revista Brasileira de Educação v. 16 n. 47 maio-ago. 2011. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/rbedu/v16n47/ v16n47a05.pdf. Acesso em: 13/07/2016. MANTOAN, Maria Teresa. O Desafio das Diferenças nas Escolas. 5 ed. – Petrópolis, RJ: Vozes, 2013. PAÍN, Sara. Diagnóstico e Tratamento dos Problemas de Aprendizagem. Tradução Ana Maria Netto Machado. – Porto Alegre: Artmed, 1985. SEN, Amartya; KLIKSBERG, Bernardo. As pessoas em primeiro lugar – A ética do desenvolvimento e os problemas do mundo globalizado. Tradução Bernardo Ajzemberg, Carlos Eduardo Lins da Silva. – São Paulo: Companhia das Letras, 2010. STAINBACK, Susan; STAINBACK, William. Inclusão: um guia para educadores. Tradução Magda França Lopes. Porto Alegre: Artmed, 1999.
- 187. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 17 178 INTERFACES DA PESQUISA NA CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DOCENTE EM ARTES VISUAIS CAPÍTULO 17 doi Leda Maria de Barros Guimarães (UFG); Moema Martins Rebouças (UFES). INTRODUÇÃO A inserção da pesquisa nos cursos de graduação em Artes Visuais no Brasil é preconizada nas Diretrizes Curiculares Nacionais do Curso de Graduação em Artes Visuais e aprovada na Resolução nº1 de 2009 do Ministério da Educação e no Conselho Nacional de Educação. Além da pesquisa, a produção, a crítica e o ensino compõem as competências exigidas para o formando desses cursos. Entre as disciplinas que estruturam o currículo comum nacional, o Trabalho de Graduação- TG é o componente curricular obrigatório a ser cumprido pelo graduando, visa o exercício em metodologia científica como atividade/síntese dos conhecimentos e práticas vivenciadas e integra as artes com as atividades pedagógicas inerentes ao curso. Embora a pesquisa constitua uma das competências exigidas na graduação dos licenciados em Artes Visuais, temos como primeira hipótese que as discussões sobre a pesquisa e o seu papel na formação do professor de artes não possui o destaque necessário na academia, o que contribui para que cada professor orientador do curso fique como numa redoma impermeável e, como não há conexão entre seus pares, faz com que o lugar da pesquisa possa estar sendo pouco explorado nesses cursos. A segunda hipótese, decorrente da primeira, se refere à concepção de pesquisa que é trazida para a formação de docentes em artes. Suspeitamos que esta concepção ainda se atém a estruturas rígidas do pensamento científico, desvalorizando o pensamento divergente dos processos da própria arte. A terceira hipotese é que a concepção de pesquisa ao se afastar do campo da educação artística, dificulta que se estabeleça a conexão pesquisador/professor a partir e com bases mais próximas do cotidiano do fazer pedagógico. Como professoras de ensino superior comprometidas com a formação de professores em artes, somos protagonistas dessas contradições em nosso cotidiano acadêmico. Vivenciamos tanto os enclausuramentos docentes como também as tentativas de romper estas clausuras em projetos colaborativos que abrem espaço para formas (ou metodologias) mais integradas de se pensar pesquisa/ formação docente em artes visuais. A concepção de pesquisa que
- 188. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 17 179 consideramos na formação de professores de arte tem como objetivo principal envolver os futuros docentes numa prática que o aproxime de sua realidade. Barbosa (2005,p.12) ao se referir a Freire e a Eisner ressalta que os dois educadores consideram a educação “[...]mediatizada pelo mundo em que se vive, formatada pela cultura, influenciada pelas linguagens, impactada por crenças, clarificada pela necessidade, afetada por valores e moderada pela individualidade”. Portanto, pesquisar em educação artística constitui um movimento que ao mesmo tempo é composto por uma experiência (no sentido que lhe atribui Dewey), pois é ela que apontará as “faltas”, as incompletudes”, “as inquietações” que a investigação intentará responder. É ainda Eisner (1884,p.40) que nos orienta que uma pesquisa, para ser realizada, não necessita ser nem empírica e nem quantitativa, pois constitui-se como uma atividade intelectual cujo objetivo é desenvolver conceitos, modelos e paradigmas que almejam compreender e assim explicar como funciona o mundo. Entrementes, neste movimento é preciso ressaltar que o professor/pesquisador é aquele que inserido em um determinado contexto(social, histórico, organizacional, institucional, espacial e temporal) poderá intervir e propor práticas docentes em artes a partir de sua própria inserção e olhar comprometido que o processo investigativo lhe permitiu construir. DISCUSSÃO Partindo das questões levantadas em torno da inserção da pesquisa na formação de professores em artes visuais insistimos sobre a necessidade de uma discussão que pondere concepções contemporâneas para o ensino de artes visuais, mas que considere também o contexto das nossas experiências. Não estamos propondo uma atitude xenófoba. Muito pelo contrário, entendemos a importância das trocas teóricas e práticas entre diferentes contextos institucionais. Consideramos importante reforçar a discussão sobre professor reflexivo e pesquisador; isto é, do professor que reflete sobre a sua prática, que pensa, que elabora em cima dessa prática já em processo no Brasil desde a década de 1990 (Nóvoa, 1987) e presente nos Parâmetros Curriculares Nacionais. Mais recentemente, nos chega as concepções de ABR – Arts Based Researcher –, ou IBA – Investigación Basada en las Artes –, e de artography, ou seja, a reunião do (a) rtista, do (r)esearcher – pesquisador – e do teacher – professor. Este termo proposto pela Dra. Rita Irwin almeja a "integração das artes, nesse caso especificamente as artes visuais, com métodos de pesquisa educacional". Segundo a autora esse neologismo foi criado para "identificar uma prática docente e uma escrita investigativa (“grafia”) – o relatório de uma pesquisa, um texto monográfico, uma dissertação, uma tese – fundamentadas na articulação entre “artist-researcher-teacher, integrando theoria, práxis e poiesis, ou teoria/pesquisa, ensino/aprendizagem e arte/produção” (IRWIN, 2008, p. 88).
- 189. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 17 180 METODOLOGIA Tendo como fundamento a reflexividade metodológica tal como proposta por Santos (1989), que considera a suspensão da relação sujeito e objeto para implicar o investigador na pesquisa, propomos realizar uma investigação que terá como corpus analítico três instituições de ensino superior públicas brasileiras que ofertam (ou já ofertaram) o curso de Licenciatura em Artes Visuais nas modalidades presenciais e a distância. O recorte temporal considerado será o de inicio de oferta desses cursos a distância nas três instituições que compõem essa investigação até a atualidade. A escolha pelas Universidades Federais de Goiás (UFG) e do Espírito Santo (UFES) se justifica pela participação das investigadoras em seus quadros docentes, e a da Universidade de Brasília (UnB) por ser uma das instituições pioneiras na oferta de cursos de Artes na modalidade a distância no Brasil. Considerando a pesquisa na formação dos professores de artes visuais como foco da investigação, o nosso objetivo é o de compreender como ela se insere nesses cursos, com quais bases teóricas e metodológicas dialogam e são fundamentadas e como se articulam aos demais processos de formação extra e intra-curriculares vivenciados por esses futuros professores. Como os coordenadores de curso são professores efetivos e responsáveis diretos pelo gerenciamento dos respectivos, e como para o desempenho dessa função é necessário que conheçam o Projeto Político Pedagógico do curso (PPP); nós então os escolhemos para iniciar a nossa investigação. Partimos então de professores que aceitaram assumir uma função administrativa compartilhada com a docente, pois eles continuam como professores do curso conciliando a regência de disciplinas e orientação à função administrativa. Os PPPs dos cursos são constituídos por uma dupla composição que é invariável e variável. Os componentes invariáveis são aqueles que contemplam e atendem aos regimentos, legislação e regulamentos nacionais que norteiam os cursos de licenciatura em nosso país. Eles, portanto, tem de estar presentes nos PPPs para que os funcionamentos dos cursos sejam aprovados pelo Ministério da Educação (MEC). Os componentes variáveis são aqueles que atendem a normas internas das instituições, tais como as decisões de departamentos e de conselhos departamentais que tratam de ementas, programas e articulações entre ensino, pesquisa e extensão na própria instituição de ensino superior (IES) na qual esses cursos se encontram alocados. Portanto, os PPPs de cada instituição são resultado dos projetos políticos pedagógicos nacionais para a formação de professores de artes visuais, mas possuem particularidades e diferenças entre si, pois também atendem aos anseios dos profissionais que compõem o quadro permanente e efetivo de cada curso. Não podem ser considerados como modelos rígidos em que todos os profissionais têm de se encaixar, como se o único modo de interação possível fosse o de dever-fazer. Acreditamos que cada instituição; e nela, cada curso, e nele, cada professor; reagirá de forma diferente às experiências de formação institucional,
- 190. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 17 181 tal como preconiza Nóvoa (1992). Imbuído como coordenador de curso está um professor com suas próprias experiências e crivo de leitura de mundo que torna difícil, ou quase impossível, separar a sua vida geral de sua vida profissional como formador de professores. Para nos aproximarmos desses coordenadores, utilizamos um instrumento que denominamos de Protocolo de cessão e de enunciados provocativos, composto de três partes e duas funções distintas. A primeira função é a de compromisso ético com a pesquisa. Nela, tanto as pesquisadoras como os objetivos da pesquisa são apresentados, para que o coordenador de curso de licenciatura em artes visuais, destinatário desse instrumento, possa avaliar a sua participação e contribuição a essa investigação. O envio por meio digital torna essa primeira aproximação mais impessoal do que um contato face a face entre investigadores e investigados, e por outro lado nos permite a utilização do mesmo procedimento nas três IES. A segunda função, que é a propriamente investigativa, está organizada a partir de uma dupla composiçã o: dados objetivos e enunciados provocativos. Nos dados objetivos será possível conhecermos um pouco do perfil do coordenador e sua atuação na pesquisa tanto como pesquisador e participante de grupo de pesquisa, como de orientador e de participante como membro de bancas de Trabalho de Conclusão de Curso. Esses dados serão importantes para o andamento da investigação no que tange às etapas seguintes, que poderão envolver os temas, referências e metodologias dos TCCs orientados por esse professor, que também é coordenador. Na segunda parte estão quatro Enunciados propostos para o debate sobre a pesquisa na construção da identidade docente em Artes Visuais que articulados aos objetivos dessa investigação irão nos permitir aproximações com o que pensam esses coordenadores, como articulam os seus saberes com os preconizados nos PPPs dos cursos, com quais referenciais e metodologias fundamentam os seus enunciados de resposta e o que os fazem saber de suas práticas e reflexões sobre a pesquisa nos cursos em que atuam. Os enunciados tal como são compreendidos nos estudos bakhtinianos são atos responsivos entre sujeitos, de interação entre eles. A linguagem nessa perspectiva é concebida de um ponto de vista histórico, cultural e social que abrange a comunicação efetiva entre os sujeitos e os discursos nela envolvidos (Brait e Melo,2005). Desse modo, os enunciados propostos cumprem um papel que na interação verbal face a face seria ocupado por um locutor que espera a alternância do sujeito no texto verbal escrito; e neste, o fazer assumir a sua compreensão ativa como um ato-resposta. E como a voz presente nos enunciados é sempre dialógica, poderá assumir como sua outras vozes, constituindo-se assim de um discurso polifônico. Partimos então de enunciados concretos obtidos a partir de uma interação verbal escrita com os coordenadores de curso para a partir deles compreendermos e conhecermos como outras vozes polifônicas se instauram e como a pesquisa se insere nelas. Portanto, os documentos oficiais só serão analisados quando e se ganharem
- 191. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 17 182 existência concreta nos enunciados produzidos. Nestes últimos, procuraremos apontar os enfrentamentos em relação à inserção da pesquisa na formação de professores em artes visuais. Analisaremos as formas e estruturas pedagógicas propostas para implementar a pesquisa na formação de professores, apontando os dilemas conceituais e práticos dessas propostas. E, por fim, numa segunda etapa que essa investigação querabranger, a partir dos dados objetivos de nosso instrumento, teremos um recorte das pesquisas desenvolvidas nas três instituições a partir das pesquisas orientadas pelos coordenadores como professores-orientadores. Com elas, será possível um primeiro recorte da produção dos alunos que envolve desde os temas, referências e metodologias dos TCCs e como neles se articulam e tecem a identidade do professor de artes visuais nessas três IES. INTERFACES INICIAIS Como retorno ao nosso convite de participação e contribuição com essa investigação, recebemos resposta de duas coordenadoras de curso de Licenciatura em Artes Visuais de duas diferentes IES pesquisadas, sendo que uma é coordenadora do curso presencial e a outra de curso na modalidade a distância 1 . Iniciaremos com a apresentação da Coordenadora do Curso presencial. Formada no ano de 2004 no mesmo curso que agora é coordenadora, a nossa colaboradora concluiu o seu mestrado em História em 2007 e doutorado em Educação em 2012, tendo realizado ambos na mesma IES na qual ingressou em 2010. Integra dois grupos de pesquisa credenciados pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ) e na data de acesso ao seu currículo lattes, tanto o projeto de pesquisa como o de extensão que estão em andamento eram integrantes de um dos grupos de pesquisa em que está vinculada. Como docente, atua na disciplina de Fotografia e de Fotografia e Tecnologia, Intermídia e Educação. Na análise de suatese constata-se que a fotografia adolescente foi o seu objeto de investigação, o que nos permite afirmar que a sua atuação como professora de artes visuais e o seu interesse por elas já vinha sendo construído desde o seu doutorado. Se ampliarmos mais o foco de nosso olhar, podemos afirmar que desde o mestrado a nossa colaboradora já se interessava por estudos da imagem, especificamente como no estudo que realizou que toma a imagem como fonte histórica e os desenhos e pinturas de um artista como narrativas de determinado período histórico brasileiro de primeira metade do século XIX. Estão nesses estudos desenvolvidos no mestrado e no doutorado pesquisas já construídas a partir de duas abordagens diferenciadas que tomam como corpus analítico a imagem. O referencial teórico e metodológico de ambas é o mesmo. Tomam os pressupostos da semiótica francesa e a preocupação com a significação e produção de sentido dos textos plásticos visuais para o embasamento das análises 1 No decorrer da construção desse texto nossa colaboradora entregou o cargo de coordenadora do curso a distância.
- 192. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 17 183 realizadas. Quanto a atuação de nossa colaboradora como orientadora de Trabalhos de Conclusão de Curso, temos no lattes um total de dezesseis (16), num período que abrange desde o ano de 2007 a 2013. Como o nosso interesse está nos TCCs do curso de Artes Visuais, vamos considerar os treze (13) trabalhos orientados nesse curso. Entre eles, nove são do curso a distância. Nesse curso a colaboradora atuou como professora nos Seminários Interdisciplinares e como Orientadora de TCC em um dos Pólos de Formação entre os vinte e dois em que o curso a distância foi ofertado. Numa apresentação geral temática; em que se considera o tema o objeto, ou assunto a partir do qual a pesquisa é desenvolvida; podemos propor uma categorização com o seguinte desenho. Entre os quatro TCCs orientados do presencial, três (3) têm como tema uma poética – em dois deles a fotografia, e no outro o grafite e sua relação com o ensino fundamental. O quarto elege a artesania do brinquedo pedagógico a partir de objetos reciclados. Entre os nove trabalhos orientados do curso a distância, temos a seguinte categorização temática: três inserem-se numa perspectiva da arte como contribuição para a inclusão de crianças e adolescentes à escola, que poderíamos categorizar como práticas da arte inclusivas; três (3) inserem-se no interesse em processos históricos da educação e da história da arte; dois (2) no estudo de determinada poética, como a fotografia e o vídeo de animação, e um (1) no conteúdo específico das linguagens artísticas na educação. A categoria mais reiterada nas pesquisas orientadas por nossa colaboradora é a que envolve os estudos de poéticas, tal como apresentamos na descrição acima. No que diz respeito à segunda parte de nosso instrumento denominado de Enunciados propostos para o debate sobre a pesquisa na construção da identidade docente emArtes Visuais, nas respostas fica presentificada a voz polifônica institucional, ou seja: nossa colaboradora nos faz saber que a pesquisa nesse curso e nessa IES é prevista e programada tanto pelo PPP do curso, como por outras iniciativas que o MEC adota em programas específicos de envolvimento das IES com a educação básica e com as atividades de extensão. Como destacaremos a seguir: “A pesquisa está inserida nas disciplinas de Projeto em Artes e Trabalho de Graduação. Além desses espaços especificamente dedicados à pesquisa, alguns professores do curso orientam projetos de iniciação científica. A universidade conta também com o Programa de Educação Tutorial (PET) do qual participam cerca de 10 alunos do curso, cujas atividades englobam pesquisa e extensão.”(enunciado da colaboradora). Sobre as bases e teóricas e metodológicas que embasam as pesquisas, a afirmação é que cada professor as conduz de modo distinto. Entretanto, a pesquisa está contemplada no PPP tanto do curso presencial como no curso a distância e ocupa posição e função específicas no curso, ou seja, está envolta de destinações dessa formação de professores de artes visuais. Como exemplo, no curso a distância ela
- 193. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 17 184 está em um dos eixos em que este se estrutura, ou seja, o das Práticas do Ensino das Arte Visuais, que congrega as disciplinas de formação pedagógica e compreende os Seminários, a Pesquisa, os Estágios e o Trabalho de Graduação. Os outros dois eixos são o de Formação Geral e Fundamentos Pedagógicos, que trata dos subsídios teóricos e metodológicos associados às questões pertinentes dos diversos campos conceituais e históricos das artes visuais e correntes pedagógicas, e o da Formação nasArtes Visuais, que congrega os fundamentos e as linguagens visuais apresentadas em suas especificidades e características. Ainda no PPP, entre os objetivos e a justificativa do curso está a defesa de uma formação para uma educação estética que tenha como base para o homem o seu ambiente (READ, 2002). Essa educação estética defendida no documento é uma educação dos sentidos e é pela educação através da arte que se constituirá um ser sensível, social, preparado para enfrentar a sociedade tecnológica e multicultural contemporânea. Há uma base teórica e metodológica no curso que poderia conduzir as pesquisas dos TCCs e congregar os trabalhos de graduação desenvolvidos nele. Mas; tanto pelos enunciados responsivos de nossa colaboradora, como pela categorização temática dos TCCs orientados; ela não fundamenta a pesquisa desenvolvida com a sua orientação. Nossa segunda colaboradora é Bacharel em Design Gráfico (1997- 2000) e licenciada em Artes Visuais (2003/2005) pela Universidade Federal de Goiás. Combinando um curioso perfil de graduação, seu currículo comprova atividades como designer antes da inserção como professora na rede pública do Estado de Goiás, onde atuou por muitos anos no Ensino Fundamental e Médio, incluindo Educação de Jovens e Adultos – EJA. É mestre em Cultura Visual (2008/2010) pelo programa de pós-graduação da Faculdade de Artes Visuais, a mesma instituição na qual cursou as suas duas graduações. Seu trabalho de mestrado propõe enfrentar o desafio de "como transformar olhares por meio da construção de imagens técnicas", compreendendo o provável Universo do Jogo como espaço de subversão da condição funcional dos usuários de tais aparelhos. No curso de Licenciatura em Artes Visuais na modalidade EAD foi professora substitutaentre2009e2010,tendorelevantepapelnacoordenaçãododesenvolvimento de material didático ou instrucional – atuação que se revelou importante, pois a competência técnica do design esteve aliada às preocupações tanto epistemológicas quanto políticas do ensino de artes visuais, o que foi fundamental na parte da revisão pedagógica desse material. Em 2010 faz concurso para professor efetivo para o curso de Licenciatura em Artes Visuais na modalidade a distância no qual já fazia parte da equipe, passando a atuar também no curso presencial. Em 2011 assume a coordenação das Licenciaturas ofertadas na modalidade a distância (UAB/PARFOR). Como já colocamos acima nesse texto, as funções de administração não dispensam as pedagógicas, e a nossa colaboradora divide-se entre as responsabilidades técnico-administrativas, as funções
- 194. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 17 185 docentes nas licenciaturas a distância e na presencial, bem como a condução de projetos de pesquisa que envolvem alunos de ambas as graduações. Tem pesquisado contextos de formação de professores mediados pelas Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) e articulações poético-pedagógicas envolvendo ensino de arte e a produção de imagens técnicas. Atualmente é doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Média-Arte Digital, parceria entre a Universidade Aberta de Portugal e a Universidade do Algarve, e o foco da investigação agora está na Transformação de Blogues em Artefactos daMédia-Arte Digital. Dentre as muitas disciplinas que lecionou destacamos "Compreensão e Interpretação de Imagens" para a qual produziu um material didático em pareceria com alunos de disciplina similar na Licenciatura presencial. Outra disciplina que merece ser mencionada nesse texto é a de Estágio supervisionado, onde buscou fomentar a construção de uma identidade docente a partir da percepção da produção poética dos alunos, futuros professores de artes visuais. No entanto, transita mais a gosto nas disciplinas de Ateliê, que exploram a construção de Poéticas Visuais Contemporâneas nas suas interrelações com Arte e Tecnologia. Dosonzetrabalhosorientadosregistradosnolattes,identificamoscincoproduzidos nos cursos de Licenciatura na Modalidade a distância (Prolicenciatura, trabalhos concluídos em 2011, primeira turma do curso da Universidade Aberta do Brasil –UAB 1 – concluídos em 2010, e segunda turma da Universidade Aberta do Brasil – UAB 2 – traballhos concluídos em 2013). Os títulos revelam conexões entre esses TCCs e a postura de uma pedagogia crítica, tais como questões da estética feminina, relações preconceituosas entre homens e mulheres em sala de aula e muitos trabalhos de caráter autobiográfico com relatos de experiências de percursos de formação docente. Já o segundo grupo de TCC é composto por orientações de estudantes da Licenciatura presencial, e alguns antecederam às orientações dos alunos da Licenciatura EAD. Quase todas trazem experiências de "sala de aula" das quais são escolhidos pontos de reflexão de construções e descontruções docentes. Dois trabalhos enfatizam de forma mais clara a produção poética transversalizando a construção docente. Temas que passam por questões de estéticas do cotidiano, cultura afro-brasileira, heranças da cultura/educação indíegna, quadrinhos, mídia e tecnologias estão presentes nesses TCCs e podem indicar o processo de escolha de cada estudante ao definir seus caminhos investigativos, escolhas mediatizadas por busca por identificação com professores e conteúdos dentro do curso, como aponta a nossa professora/colaboradora: As bases teóricas e metodológicas utilizadas neste processo de disseminação investigativa são apresentadas e articuladas junto às experiências construídas tendo por foco o diálogo entre seus repertórios pessoais e os repertórios dos estudantes, a partir dos conteúdos trabalhados no contexto das disciplinas. (depoimento)
- 195. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 17 186 Vemos que a trajetória docente no ensino superior da nossa colaboradora coordenadora da Licenciatura na modalidade a distância é comprometida desde a sua entrada na IES com o exercício de pesquisa na graduação, e faz sentido a sua proposta de compreensão da pesquisa enquanto um exercício ampliado de ação- reflexão- ação, entendo-se aqui um movimento contínuo de produção e retro- alimentação dos processos. Pensamos que esse movimento é perceptível na transição dos trabalhos de TCC dos primeiros anos (2000/2011) dos estudantes da Licenciatura presencial que apontam questões mais próximas dos interesses dos alunos, enquanto que os temas dos segundo bloco (quando da orientação de TCC nas Licenciaturas na modalidade a distância) as temáticas parecem dialogar mais próximas às questões das poéticas de construção imagética, foco dos interesses investigativos da nossa professora, nesse movimento proposto pela nossa colaborada em pauta. No entanto, ela esclarece que esta "compreensão ampliada de processos de ação-reflexão-ação", especificamente nos cursos na modalidade a distância, está "relacionada ao percurso formativo dos docentes que atuam no curso". Levantando as relações das listas organizadas de defesa de TCCs onde constam nomes de estudantes (na sua maioria em grupo), temática estudada, orientadores e banca, encontramos uma variedade na constituição do conjunto de professores que desempenham o papel de orientadores nos cursos EAD. Para orientar os TCCs, momento crucial da pesquisa no processo de formação do curso que está formando professores de artes visuais, encontramos uma variedade de formação e de pertencimento desses professores. Ou seja, temos professores do ramo da Licenciatura da própria casa (FAV), professores da FAV de outros cursos, bacharelado em Artes Plásticas, Bacharelado em Design, estudantes de pós-graduação de Artes e Cultura Visual, assim como de outros programas de pós, mestrandos e doutorandos também com variadas formações de origem (história, ciências sociais, jornalismo, comunicação, pedagogia etc...), sendo muito difícil apontar bases teóricas metodológicas de todos esses professores que atuaram como orientadores. No Documento de Normatização do trabalho de conclusão de curso de Artes Visuais – Licenciatura (a assim chamada modalidade presencial), encontramos a seguinte observação: A preocupação da FAV tem sido cada vez mais freqüente e crescente no sentido de articular simultaneamente atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão. Formar o professor pesquisador tem sido uma das metas da unidade e da universidade. A formação integrada está prevista no Estatuto e Regimento da UFG, Portaria no 1150, DOU: 08/11/1996, página 23239, no TÍTULO III do Regime Didático-Científico, Capítulo DO ENSINO, Art.54 ao Art. 63, que dispõe sobre ensino, pesquisa e extensão, na Graduação e na Pós-Graduação. (http://www.fav.ufg.br/interna. php?pagina=graduacao_licenciatura) Será que todos comungam com este documento? Ou como essa proposição é compreendida por um grupo tão diverso? Nossa colaboradora, ao responder sobre Bases teóricas e metodológicas para a pesquisa na formação do professor de Artes
- 196. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 17 187 Visuais, diz que "Para informar que referenciais teóricos relacionam-se ao movimento ação-reflexão-ação seria necessário investigar junto ao corpo docente suas bases teóricas e metodológicas". Considerando a diversidade desse corpo docente na EAD, no caso da FAV, podemos perguntar se essa diversidade importa ou não importa no processo de formação dos nossos almejados professores/pesquisadores. Essa concepção preconizada nas propostas curriculares (PPC) e em outros documentos que regulamentam a produção de TCC e Estágio acontece por força do conjúro dos nossos desejos aos ecrevermos esses documetos? Ou acontece de qualquer maneira não importando a "concepção" de quem oriente os TCCS? Assim, considerar o percurso formativo desse leque amplo de professores orientadores que atuam no curso é talvez um outro desafio que se apresenta para pensarmos a questão da formação de professores em artes visuais ... No mesmo documento de normatização do TCC, encontramos o seguinte detalhamento sobre a formação professor/pesquisador: Essa formação está prevista no Projeto Político Pedagógico do Curso de Artes Visuais – Licenciatura, como um dos três eixos epistemológicos da formação do professor, que deverá centrar-se em três núcleos: a) formação teórica e prática específica em artes visuais; b) formação pedagógica centrada nas disciplinas de ensino e nos estágio e c) pesquisa, que deverá ser contemplada através dos Projetos de extensão (PROEC) e pesquisa (PIBIC, PIVIC, PROLICEM e FUNAP) e pelo TCC (file:///C:/Users/Leda/Downloads/Normas_de_TCC%20(1).pdf Nos parece que os centramentos propostos a), b) e c) colocam cada coisa "no seu quadrado" e geram questionamentos bastante conhecidos entre nós, por exemplo: a formação pedagógica (b) acontece em instâncias diferenciadas da formação específica em artes visuais (a) e da formação para a pesquisa? Este documento de normatização é da Licenciatura presencial, mas, como argumenta Sampaio (2012), ainda fazemos EAD aos moldes da Licenciatura presencial. O documento de normatização de TCC das Licenciaturas em Artes Visuais na modalidade a distância não está na página oficial da FAV, mas pode ser acessado por professores e estudantes que tenham senha na plataforma moodle, o Ambiente Virtual de Aprendizagem onde o curso acontece. No AVA encontramos, no documento que normatiza o TCC da EAD, a proposição da formação do professor/pesquisador [...] como um dos quatro eixos epistemológicos da formação de professores (indicados no PPC), que deverá centrar-se em quatro núcleos: a) formação em ensino de arte; b) cultura, tecnologias e diálogos; c) arte, estética e contextualização história d) cultura, tecnologias e diálogos; e a pesquisa, que deverá ser contemplada através dos Projetos de Extensão (PROEC) e pesquisa (PIBIC, PIVIC, PROLICEM e FUNAPE) e pelo Trabalho de Conclusão de Curso – TCC. http://ead.fav.ufg.br/file.php/1/ArquivosDisciplinas/UAB_2/2013_1/TCC_I_- 2013_1_e_2/normas_TCC_UAB_PARFOR_eadfav_CD.pdf Entendendo a nossa professora/coordenadora colaboradora como integrante,
- 197. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 17 188 conhecedora e construtora dessa proposição (que a nosso ver avança na proposta da Licenciatura presencial), sua resposta em relação a bases teóricas metodológicas da pesquisa na formação de professores em seu contexto pode ser considerada tímida, pois sua performance indica um grau de consciência do que faz e de um olhar atento para o entorno dessa formação. O trecho do documento acima indica escolhas, pistas de bases "teóricas metodológicas" nos quatro núcleos propostos em consonância com os núcleos a) formação em ensino de arte; b) cultura, tecnologias e diálogos; c) arte, estética e contextualização histórica d) cultura, tecnologias e diálogos; e a pesquisa, que, infelizmente, em nenhum momento, indica que ela pode acontecer em sala de aula ou em situações pedagógicas. PONTOS, PONTAS E ALINHAVOS PROVISÓRIOS Os depoimentos das duas colaboradoras diferem-se a princípio por um apresentar uma percepção mais subjetiva das questões nos Enunciados propostos para o debate sobre a pesquisa na construção da identidade docente em Artes Visuais enquanto o segundo atém-se aos aspectos já regulamentados e institucionalizados. No entanto, nos dois depoimentos, fica evidente a foco na ação docente, tanto em termos de repertório, quanto de AÇÃO. Em relação a Modos de disseminação das pesquisas realizadas, ou a quem interessa as pesquisas, as duas colaboradoras sugerem existir um compartilhamento daspesquisasnoambienteacadêmico(inter-extra).Curiosoqueumadascolaboradoras estabelece uma espécie de divisão: enquanto os docentes compartilham as pesquisas no ambiente acadêmico (congressos, publicações e novas pesquisas), os estudantes compartilham esses resultados em sua prática docente, ou como aponta a outra coordenadora ao se referir às pesquisas de iniciação científica ou PET, que elas são divulgadas em eventos internos da própria universidade. Aqui temos mais umadivisão de "produção, circulação e consumo" do saber "científico", o que de novo exclui a sala de aula como instância investigativa. Mais do que uma mera divisão, esses dois campos podem indicar uma concepção de formação de professor/pesquisador que ainda merece ser discutida, confrontada, debatida, para saber por onde passam nossa compreensão e desejos de que ela aconteça. Nenhum enunciado indica ou dá exemplo de possíveis bases teóricas metodológicas condicionando uma resposta a uma consulta às bases dos professores. Ora, se estamos nos dois casos em instâncias de formação de professores de artes visuais, não temos aí nenhuma conexão com esta formação de professores? A “falta” que nos enunciados se presentifica aponta para: a) ausência de conexão mais clara na relação orientador/orientando/temáticas com o campo de formação inicial de artes visuais; b) ausência de orientações que forneçam pistas sobre "identidades teóricas/ metodológicas" das duas instituições, por exemplo, cultura visual, processos
- 198. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 17 189 poéticos, multiculturalismo, etc. Essas ausências deixam em aberto (o que pode parecer democrático) a oportunidade de construções coletivas e compartilhadas não previstas nos PPPs dos cursos, mas podem também configurarem-se como um abismo, pois tal como ele, rompem a superfície necessária por onde circulam os diversos discursos que as discussões sobre pesquisa podem tecer. RESPONSABILIDADE DA AUSÊNCIA Nossas indagações sobre a pesquisa e o seu papel na formação inicial do professor de artes continuam. As reflexões costuradas neste texto partem de pontas e pontos encontrados nos depoimentos e práticas de nossas primeiras colaboradoras, mas são alinhavos provisórios. No decorrer desse texto, procuramos apontar a crescente preocupação com a inserção da pesquisa na formação inicial de professores de uma maneira geral. Preocupação esta que tem provocado mudanças e conflitos e áreas nebulosas na formação de professores de artes visuais. Vimos que tanto os documentos, quanto os depoimentos de nossas professoras colaboradoras, quanto as suas práticas docentes, demonstram o engajamento com a pesquisa nos cursos de graduação no Brasil. Esperamos que este trabalho possa ajudar a identificar essas práticas pedagógicas que buscam interfaces entre formação docente e pesquisa no campo das artes visuais, tanto no contexto brasileiro como também no contexto europeu, onde em muitos países esta correlação formação/pesquisa só será assumida nas pós-graduações. Acreditamos que tentar identificar esses trânsitos e refletir sobre seus processos é construir condições para que a formação professor/pesquisador possa se desenvolver e fundamentar práticas artísticas desses docentes que visem tanto a conscientização social (no sentido Freireano) como a liberdade e a invenção próprias da arte. REFERÊNCIAS BARBOSA, Ana Mae. Uma introdução à Arte/Educação Contemporânea. In: BARBOSA, Ana Mae (org.) Arte/Educação contemporânea: consonâncias internacionais. São Paulo, Cortez, 2005, p.11-24. BRAIT, Beth e MELO, Rosineide. Enunciado/enunciado concreto/enunciação. In: BRAIT, Beth (org). Bakhthin: conceitos chave. São Paulo: Contexto, 2005. EISNER, Elliot. Cross-Cultural Research in Arts Education, Problems, Issues, and Prospects”. In: Eisner, Elliot. Art in Education, an international perspective. University Park: The Pennsylvania State University, 1984. IRWIN, R. A/R/Tografia: uma mestiçagem metonímica. In: BARBOSA, A. ; AMARAL, L. (Org.). Interterritorialidade: mídias, contextos e educação. São Paulo: SENAC/SESC, 2008, pp. 87-104. NÓVOA, A.(org.) Os professores e sua formação. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1997.
- 199. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 17 190 .(org.). Profissão professor. Porto: Porto Editora, 1992. SANTOS, Boaventura S. Introdução a uma ciência pós-moderna. Porto:Afrontamento,1989. SAMPAIO, L. de F. Jurema. O que se ensina e o que se aprende nas licenciaturas em artes Visuais a distância? Divers@ Revista Eletrônica Interdisciplinar/Matinhos/Vol.5, n.2, p.1-136/jul./dez./2012
- 200. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 18 191 O DESAFIO DO PROFESSOR DIANTE DO PROCESSO DE INCLUSÃO NO IFAC: REFLEXÕES SOBRE O ENSINO- APRENDIZAGEM DE LÍNGUA ESPANHOLA MEDIADO PELO SISTEMA BRAILLE CAPÍTULO 18 doi José Eliziário de Moura (jose.moura@ifac.edu.br) Paulo Eduardo Ferlini Teixeira ( paulo.teixeira@ifac.edu.br) Erlande D’Ávila do Nascimento (erlande.nascimento@ifac.edu.br) RESUMO: No Brasil, o processo de inclusão é um dos desafios postos a todas as instituições de educação nos últimos anos. A dificuldade em oferecer formação continuada aos profissionais na área é um problema, principalmente na região norte. Notadamente, o Instituto Federal do Acre tem acolhido alunos com necessidades especiais, e muitos de seus professores procuram superar as adversidades na elaboração de metodologias estratégicas para realizar o ensino-aprendizagem. O objetivo principal é produzir reflexões sobre a utilização de variadas metodologias de ensino e aprendizagem para incluir o aluno especial à educação básica. A metodologia desta pesquisa se configura como quali-quantitativa exploratória, do tipo estudo de caso. A coleta de dados foi realizada através de levantamento bibliográfico e aplicação de entrevistas semiestruturadas. A investigação foi realizada no Instituto Federal do Acre – Campus Xapuri no ano de 2016 com uma turma de segundo ano do Curso Técnico em Biotecnologia integrado com o ensino médio, na disciplina de Língua Espanhola. Na turma havia 32 alunos, sendo que dentre eles, uma aluna com deficiência visual, algo que nos chamou a atenção. O trabalho apresentou o acompanhamento das atividades da discente num período de seis meses do ano vigente e como resultado observou-se, portanto, o empenho da escrita em Braille da jovem deficiente visual que apresentou como resposta, variadas formas de vencer fronteiras geradas por preconceitos sociais, buscando provocar questionamentos sobre a criação da sua autonomia e formas de reconhecer a cidadania no contexto escolar. Como reflexões, questionou-se a urgência da formação continuada para professores na lida com alunos especiais e a importante inter-relação entre família e escola com intuito de promover melhores condições de aprendizagem, consequentemente, facilitando o processo de ensino técnico. Vale ressaltar que apenas nessa disciplina ela utilizou o sistema de escrita alfabética Braille como ferramenta metodológica de aprendizagem. O questionamento sobre gênero também está presente neste estudo, uma vez que a jovem revelou sofrer alguns tipos de discriminação na sua condição de mulher. No entanto, ao final do semestre, a estudante mostrou-se bem competente no processo de aprendizagem do idioma espanhol, conseguindo um bom
- 201. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 18 192 rendimento escolar e aprovação na citada disciplina. Portanto, ao final do estudo, pode-se observar que, quando o professor articula variados conceitos e metodologias ao ensino pode estimular o aprendizado do aluno cego, oferecendo-lhe igualdade de oportunidade dentro da diversidade cultural. Cabe salientar a importância da interação escola e família. Logo, torna-se necessário que o professor e o discente compreenda a relevância da linguagem como mediadora da aprendizagem não só do espanhol, mas também como base para o aprendizado em outras disciplinas, fortalecendo o desempenho escolar para alcançar objetivos e construir novas formas de entender o mundo. PALAVRAS-CHAVE: Escola. Família. Espanhol. Braille. Inclusão. INTRODUÇÃO Este trabalho visa relatar ações do cotidiano escolar de uma aluna deficiente visual do curso técnico de Biotecnologia do Instituto Federal de Ciência e Educação do Acre – IFAC, campus Xapuri. A pesquisa ressalta, ainda, reflexões sobre o sucessivo avanço no processo de ensino-aprendizagem em língua espanhola mediado pelo sistema de escrita e leitura Braile no período referente ao segundo semestre de 2016 e gerado pela inter-relação entre a escola e a família. Os estudos concernentes à inclusão de pessoas com deficiência visual, no contexto escolar do Acre, ainda carecem de fontes historiográficas. Dessa forma, este estudo se justifica por procurar contribuir ressaltando fontes confiáveis e experiências cotidianas de professores. No contexto desta pesquisa, mencionamos que, por meio de conversas informais com algumas pessoas da comunidade xapuriense foi possível detectar que, infelizmente, muitos deficientes, nesse município, sofrem diferentes tipos de preconceitos e discriminações, causando distanciamento entre o grupo de alunos especiais e a escola. Talvez por conta disso, considera-se um número bastante reduzido de discentes cegos nos cursos técnicos de instituições públicas de educação. Quando falamos de alunos cegos, infelizmente, muitas pessoas preconceituosas caracterizam como pessoas acomodadas, com baixa autoestima e outros adjetivos pejorativos que devem ser desconsiderados no contexto deste trabalho. Na visão de Reily (2004), o professor deve exercer a função primordial de mediador do ensino- aprendizagem de alunos especiais. PROCEDIMENTOS DA PESQUISA Esta pesquisa ressalta um fato acontecido no ambiente escolar do IFAC, campus Xapuri (Acre). Trazendo a temática concernente à inclusão para nossa realidade, ressaltamos que logo nas primeiras semanas de aula do segundo semestre de 2016, observou-se o comportamento reprimido de uma aluna cega de 17 anos durante a aula de língua espanhola. A discente, (A. F. do N.), durante a aula não falava, só escutava,
- 202. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 18 193 não acompanhava as leituras e atividades práticas e, praticamente, apresentando sintomas de passividade, psicologicamente, parecia que estava num mundo distante da realidade escolar, embora fisicamente permanecesse presente. Assim, foi possível detectar que havia um inconveniente a ser resolvido ao longo do semestre letivo. Mediante problema detectado, o professor de espanhol procurou conversar com representantes da coordenação e juntos chegaram a uma solução alternativa que seria chamar a responsável pela jovem para realizar um diálogo e, assim, tentar conhecer melhor o dia a dia da estudante com a finalidade de traçar metas para inseri-la ao processo educativo de forma mais eficiente. Durante a conversa com a senhora M. F., mãe da adolescente, a mesma revelou que a filha estava sofrendo de depressão por não aceitar a perda da visão e, isso, realmente, poderia está prejudicando a aprendizagem da aluna na escola. Além disso, a mãe relatou que a jovem sofria muitos preconceitos na comunidade onde morava pela condição de cega e procurou a escola para melhorar sua socialização e seu desenvolvimento intelectual. Teoricamente, a LDB 9394/96 prega a permanência de alunos especiais na escola, no entanto, não basta estar presente no ambiente escolar, o estudante precisa ser acolhido pelos professores e colegas como se estivesse em seu lar para desenvolver suas habilidades e competências intelectuais em diferentes disciplinas. Nessa dimensão, foi proposto, ainda, o acompanhamento da discente com profissionais da área de psicologia e de pedagogia do Instituto Federal. Além disso, tornou-se imprescindível a interação da família com a entidade escolar. Como foco desta investigação, priorizamos três aspectos considerados fundamentais para entender a construção do ensino-aprendizagem: o aprendiz, a escola e a família no processo de aquisição do saber no ambiente escolar. A análise desses três elementos influenciará a compreensão do desempenho favorável da discente com relação ao comportamento e aprendizado de língua espanhola, fato que será mostrado no corpo deste trabalho. A problematização desta pesquisa gira em torno da busca de demonstrar a importância de incentivar um aluno com deficiência visual no processo interativo no contexto da sala de aula, promovendo melhor rendimento no aprendizado de língua espanhola. O objetivo principal desta pesquisa é produzir reflexões sobre a utilização de variadas metodologias de ensino-aprendizagem pelo professor, facilitando a progressão de alunos cegos, ressaltando experiências e conceitos para agregar conhecimentos. O ponto de partida para a análise das dificuldades e as potencialidades da aluna participante desta pesquisa no processo de ensino e aprendizagem foi fazer um estudo diagnóstico sobre os conhecimentos prévios e investigar, sobretudo, o comportamento dela em seu lar. Uma das metas específicas foi dialogar com a discente para conhecer parte da sua história de vida e, assim, procurar entender o contexto social ao qual ela estava inserida.
- 203. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 18 194 Foram observados, ainda, fatos marcantes de sua trajetória estudantil. As informações foram colhidas por meio de conversa informal com sua mãe que serão relatadas mais adiante neste artigo. Para alcançar outros objetivos propostos neste estudo, foram realizadas atividades orais e escritas como a escuta de músicas e estudo do conteúdo contido nas letras para proporcionar diferentes formas de aprendizagem e maior afinidade com os demais alunos, uma vez que, a aprendiz demostrou um aguçado gosto pela música. Este estudo prima, também, por construir uma visão heterogênea centrada da diversidade cultural e emancipação das pessoas com deficiências e frutos da miscigenação de raças, promovendo novas discussões sobre a atuação e conquista dos espaços escolares, favorecendo à reconstrução de sua identidade cultural por meio da educação. A estudante do IFAC (Xapuri) é uma jovem afrodescendente que luta para superar vários tipos de preconceitos sociais, inclusive pelo trauma de ser uma pessoa que nasceu enxergando e depois, por ocasião do destino, perdeu a visão. ASPECTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS Para compreender melhor aspectos sociais e psicológicos do sujeito cego foram analisados estudos teóricos de Amiralian (2003). A autora relata experiências acerca de problemas de aprendizagem do aluno especial e ressalta a importância da interação escola/família para amenizar as adversidades. Além disso, cabe salientar a relevância do corpo em sua materialidade humana defendida por Butler (2003) e a temática sobre a racialidade proposta por Silva (2006), dentre outros. Ainda como forma de embasamento teórico, mencionamos os estudos de Baralo (1999) sobre a aquisição de linguagem e o ensino de língua estrangeira. Também merecem menção as propostas sobre a aprendizagem de espanhol, as quais são apresentadas nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) 1999. O Capítulo V da LDB 9394/1996 que trata da Educação Especial e a Lei 13.146/2015 que prioriza os direitos da pessoa com deficiência, assim como os estudos históricos sobre a origem do sistema Braille adaptado por Louis Braille. Para iniciar esta discussão torna-se imprescindível mencionar o método estudo de caso proposto por Gonsalves (2003) caracterizado por apresentar a investigação de um pequeno grupo, o que se evidenciou nesse trabalho. Para compreensão dos fatos vale ressaltar o papel do Estado e da União como instituições responsáveis por manter o ensino médio e tecnológico. Além do mais, é responsabilidade dessas instituições manter a educação inclusiva no ensino regular aos alunos com necessidades especiais, especificamente, acolher o aluno com deficiência visual e a LDB 9394/96 em seu Capítulo V e Art. 58 define a educação especial: (...) para os efeitos desta Lei, a modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos portadores de necessidades especiais. §1º Haverá, quando necessário, serviços de apoio
- 204. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 18 195 especializado, na escola regular, para atender as peculiaridades da clientela de educação especial. §2º O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não for possível a sua integração nas classes comuns do ensino regular. §3º A oferta da educação especial, dever constitucional do Estado, tem início na faixa etária de zero a seis anos, durante a educação infantil. (LDB9394/96 Art.58) No entanto, entendemos que não basta somente oferecer a educação especial, mas a escola deve procurar adaptar suas teorias e práticas para dar melhores condições a esse discente, promovendo o alcance de um patamar favorável ao desenvolvimento de suas habilidades e potencialidades, promovendo o processo de inclusão social desde muito cedo. A escola como unidade de inclusão produtora de saberes e práticas firma seu papel fundamental no desenvolvimento intelectual e social do ser humano. No entanto, há variadas fases e dificuldades que o discente ao chegar ao ensino básico precisa vencê-las para sua adaptação e socialização com o mundo interior e exterior. Reily (2004) aponta sugestões para a melhoria do ensino especial desde a tenra idade escolar dos alunos cegos. Entendemos que o professor das séries iniciais, com experiência pedagógica como alfabetizador, pode explicitar ao aluno com deficiência visual a presença das práticas de leitura e escrita no cotidiano escolar, trabalhando a função social da escrita com todos os alunos da classe. (REILY. 2004, p. 1). Aautora sugere que o educador desde as séries iniciais amplie suas possibilidades de comunicação e interação com o educando por meio da leitura e escrita para tornar os conteúdos mais acessíveis, sugerindo a construção de uma prática educacional reflexiva para edificar os avanços no campo da educação especial tanto no aprendizado de libras como no estudo mediado pelo sistema braile. No caso da estudante participante da pesquisa, sua mãe relatou que a jovem não teve a oportunidade de se desenvolver, satisfatoriamente, nas séries iniciais, pois, segunda à mãe, os professores não estavam preparados para ensinar crianças cegas e isso gerou muitos transtornos ao chegar ao ensino médio. Ela afirma que a jovem, nas séries iniciais, não escrevia, nem lia em Braile. Somente depois desenvolveu sua escrita nesse sistema. Vale frisar a importância de se conhecer a história da criação do sistema de escrita leitura Braille e suas dimensões no campo da aprendizagem do estudante com a visão comprometida. Para Reily (2004, p. 4) precursor da educação para cegos na Europa foi Valentin Hauy ainda no século XIX com a criação de letras de papelão em alto relevo. No entanto, esse sistema era muito limitado e os alunos não se adaptaram ao mesmo. Assim, Louis Braille, com base no código militar de 12 pontos criado pelo francês Charles Barbier, adaptou-o alterando para 6 pontos verticais o novo código comunicativo que é utilizado até hoje. Infelizmente, o uso do código Braille na comunicação entre os cegos foi proibido por questões políticas, mas os alunos utilizavam-no na clandestinidade.
- 205. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 18 196 Somente, mais tarde tal código foi aceito pelo Instituto Nacional Parisiense, em 1854, dois anos após a morte do seu criador. Reily (2004) afirma que a educação oficial de cegos no Brasil teve início também em 1854 fundado pelo decreto imperial do imperador D. Pedro I. Neste ano foi criado o Imperial Instituto dos Meninos Cegos. Pesquisas revelam que, nos últimos anos, tais estudos tivemos importantes avanços acontecidos em decorrência de contatos pessoais de figuras públicas com a problemática dos deficientes. A Lei 13.146/2015, em seu capítulo IV prevê o direito à educação de pessoas deficientes em variados níveis, independentemente de classe social, como forma de atender o pleno desenvolvimento intelectual da comunidade que por muito tempo ficou à margem da sociedade. A educação constitui direito da pessoa com deficiência assegurado sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem. Parágrafo único. É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar educação de qualidade à pessoa com deficiência, colocando-a a salvo de toda forma de violência, negligência e discriminação. (Lei 13.146/2015 Art. 27) Para tanto, fica muito claro que é um dever do Estado e da família oferecer educação de qualidade, equipar as escolas para receber alunos especiais, dando suporte para que eles permaneçam na escola, recebam atendimento de qualidade pelos professores. Entretanto, os docentes precisam de formação continuada para lidar com o discente especial. No contexto do IFAC, campus Xapuri, a estudante desde que ingressou ao curso de Biotecnologia em 2015 sempre teve acompanhamento com seus professores no contra turno de aula para esclarecer as dúvidas referentes a conteúdos estudados. Entretanto, os professores nunca tiveram formação continuada em ensino do sistema Braille, ficando limitados a utilizar apenas a linguagem oral entre professor e aluno cego. A partir de 2016 evidenciou-se a contratação de um técnico de assuntos em educação especial e um professor de espanhol com formação continuada em educação inclusiva. Assim, a discente foi auxiliada em horários alternativos com maior atenção. Isso causou, de certa forma, um impulso na aprendizagem da discente e, sobretudo, foi um incentivo a mais para que ela continuasse a se dedicar aos estudos do sistema de escrita adaptado por Louis Braille para facilitar a compreensão de conteúdos de variadas disciplinas. Dessa forma, a Lei de Inclusão n. 13.146/2015, no seu Art. 28 prevê: Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar: XI - formação e disponibilização de professores para o atendimento educacional especializado, de tradutores e intérpretes da Libras, de guias intérpretes e de profissionais de apoio; XII - oferta de ensino da Libras, do Sistema Braille e de uso de recursos de tecnologia assistiva, de forma a ampliar
- 206. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 18 197 habilidades funcionais dos estudantes, promovendo sua autonomia e participação. Atendendo a essas exigências o Instituto Federal do Acre procurou oferecer melhores condições de aprendizagem à discente com cegueira, contratando um técnico para atender alunos especiais. Ainda, assim, cabe-nos, como professores, a missão de buscar meios alternativos de atender esses alunos, procurando estabelecer uma forma promissora de comunicação para transmitir os saberes e as práticas necessárias ao desenvolvimento social e intelectual. Como metodologia de avaliação, foram estabelecidas estratégias de valorização dos saberes prévios sobre o espanhol e foram realizadas diversas atividades envolvendo diálogos e músicas, apreciadas e cantadas pelos estudantes. As provas que serão visualizadas nos apêndices desta pesquisa apresentam uma das formas de avaliação da aprendizagem da discente. As demais formas de avaliar a aluna eram mediadas por atividades em sala, extraclasses, ou seja, a distância, através de gravações de áudios enviadas pelo celular via internet. Consequentemente, acreditamos que isso incentivou a aluna com deficiência visual a participar das aulas, ativamente, pois ela tinha grande afinidade com certos gêneros musicais. Aqui citamos um fato que julgamos ter sido importante para o desenvolvimento da aprendizagem da aluna deficiente: _ a interação com a família. Além disso, cabe reiterar que o professor de língua espanhola ingressante à instituição em 2016, também possuía formação acadêmica em música e tinha experiência como instrutor musical de cegos, isso talvez, tenha possibilitado uma melhor aproximação com a discente deficiente visual. Segundo revelou a mãe de jovem, dona M. F. dos S., em conversa informal com o docente, ressaltou que a jovem cega gostava muito de música e que tocava violão e bateria desde os 12 anos de idade. A mãe reitera dizendo que o sonho da filha é fazer uma faculdade de música quando concluir o ensino técnico, porém na localidade onde mora não há o citado curso superior. Assim, as duas pensavam em morar na capital a partir de 2019. Para Reily (2004) torna-se fundamental a relação escola e família no desenvolvimento social e intelectual do aluno. A autora revelou em entrevista à Editora Papirus concedida em 26-12-2009 que o professor é um dos protagonistas dessa interação. O professor tem um papel essencial como mediador dos processos de ensino- aprendizagem. Na escola inclusiva, é ele que recebe o aluno com necessidades especiais na sala de aula. Sua atitude perante a deficiência é determinante para orientar como esse aluno, com as suas diferenças, vai ser visto pelos colegas. O professor também organiza o trabalho pedagógico e pensa estratégias para garantir que todos tenham possibilidade de participar e aprender. No entanto, ele não é o único responsável pela educação do aluno com necessidades especiais. A escola também responde pela inclusão, e cabe ao professor promover uma mediação entre família e escola, solicitando suporte e acompanhamento da escola durante o ano letivo. Assim, vemos que a mediação se dá em vários níveis: no trabalho pedagógico, nas relações na sala de aula, na escola e também nas relações com a família e a comunidade. (Blog Inclusão e Cidadania. Editora Papirus: 26-12-2009)
- 207. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 18 198 A interatividade entre a escola, a família e o professor, sugerida pela autora, foi fundamental para conhecer os pontos positivos e pontos negativos que, interferiram no processor de ensino-aprendizagem da aluna deficiente durante o período da investigação. Dessa forma, o professor de espanhol conheceu o gosto da aluna pela música e incorporou ao plano de aula diferentes atividades envolvendo o estudo de canções em espanhol. Isso proporcionou maior interesse tanto da turma como em particular, a discente cega. Além de músicas compartilhadas via redes sociais, o professor de espanhol também enviou variados textos e atividades didáticas para a discente. No entanto, o instrutor de Braile do IFAC havia alertado que a aprendiz havia desprezado, por um tempo, o sistema de escrita por conta do uso aparelho celular. O mesmo fato também foi revelado pela mãe da garota em reunião com a equipe pedagógica. Em acordo com a mãe, a estudante resolveu deixar o celular de lado e dedicar-se mais ao estudo do Braile lendo uma bíblia escrita neste sistema. Isso causou mais conforto a sua mãe e, sobretudo, aos professores de diferentes disciplinas escolares no Instituto porque o uso excessivo do aparelho celular pode, de certa forma, causar acomodação ao usuário. Para compreender o presente histórico da aluna A. F.N., faz-se necessário saber um pouco mais de sua história contada por sua mãe. Segundo ela, Alana nasceu com problemas na visão, porém, conseguia enxergar com dificuldade. Usou óculos por um bom tempo, mas não gostava porque era muito forte e sofria preconceito por partes de alguns coleguinhas. A jovem fez duas cirurgias nos olhos para melhorar a visão. Na primeira, ela tinha apenas 8 meses de idade e na segunda a criança tinha cinco anos. Depois da cirurgia ela conseguiu enxergar perfeitamente até os doze anos de idade. Gostava muito de cores fortes, frequentava constantemente a igreja evangélica e aí, aprendeu a tocar bateria. Mas, na passagem dos doze aos treze anos ela perdeu completamente a visão e isso lhe causar sérios problemas de depressão. A mãe revelou que sua filha conheceu uma professora de educação especial que se tornou sua tutora e lhe ensinou o Braille, ainda de forma elementar. A professora trabalhava na sala de educação inclusiva na escola Antero Soares Bezerra em Xapuri, mas em pouco tempo, a docente foi transferida para outra escola em Rio Branco. Isso causou muita tristeza à aluna que, afastada da escola passou a sofrer discriminações por populares tanto pela cegueira e quanto pela sua cor da pele. Pelúcio, (2012) citando Bahba, (1998) observa a simbologia estereotipada da cor da pele: A pele, nos ensinou Homi Bhabha, como significante chave da diferença cultural e racial no estereótipo é o mais visível dos fetiches, reconhecido como ‘conhecimento geral’ de uma série de discursos culturais, políticos e históricos, e representa um papel público no drama racial que é encenado todos os dias nas sociedades coloniais (BHABHA, 1998:121, apud PELÚCIO, 2012, p. 397 ) Dito de outra forma, entendemos que o preconceito e a discriminação racial
- 208. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 18 199 estão muito presentes na diferença cultural e na criação de estereótipos na sociedade xapuriense pós-moderna. A raça e a feminilidade também são discutidas por Butler (2011). A autora defende a liberdade da mulher no seu próprio domínio das questões corpóreas em que o corpo não é objeto do pensamento alheio. Ela critica a teorização da materialidade do corpo do ser feminino. Para a autora, [...] teorizar a partir das ruínas do Logos convida a se fazer a seguinte pergunta: “E o que ocorre com a materialidade dos corpos?” Em realidade, num passado recente, me formulei repetidamente esta pergunta do seguinte modo: “e o que ocorre com a materialidade dos corpos, Judy?” Supus que o agregado de “Judy” era um esforço para desalojar-me do mais formal “Judith” e recordar-me de que há uma vida corporal que não pode estar ausente da teorização. Há certa exasperação na pronúncia desse apelativo final em diminutivo, certa qualidade paternalista que me (re)constituía como uma menina (em fase escolar), que devia ser obrigada a retornar à tarefa, que haveria de reinstalar-se nesse ser corporal, o qual, depois de tudo, se considera mais real, mais pressionado, mais inegável. Talvez fosse um esforço por recordar-me de uma feminilidade aparentemente esvaziada (evacuated femininity), a que se constituiu, lá na década de 1950, quando a figura de Judy Garland produziu inadvertidamente uma série de “Judys” cujas apropriações e liberações não poderiam se predizer então. (BUTLER, 2011, p.13). A autora fala sobre a reconstrução de sua identidade na figura de uma menina em idade escolar que, apesar de preconceitos, construiu sua autonomia. Em relação à jovem estudante de Xapuri, de certa forma, ela lutou contra os preconceitos, não por apresentar alterações em sua sexualidade, mas por ser uma menina cega, de classe social menos privilegiada e de descendência híbrida ou de mistura racial. Entretanto, encontrou acolhimento na escola para superar as dificuldades e resistências que a vida lhe impunha, visando o seu desenvolvimento humano e social. Para Vygotsky (1997) a inserção do sujeito ao meio social, visando a sua humanização e o seu pleno desenvolvimento é permeado por meio da aquisição da linguagem prevista ainda no jardim da infância. No entanto, o autor afirma que há limitações do aluno cego por conta de conflitos por conta da falta da palavra escrita. Essa, por sua vez, será um artifício a mais para o desenvolvimento do discente com cegueira. Nessa perspectiva é que associamos a importância de utilizar o sistema Braille com estratégia de aprendizagem e registro escrito. A unificação desse sistema de escrita no Brasil foi marcada por várias instâncias internacionais. Cabe citar a União Mundial dos Cegos (UMC) e a Organização Nacional de Cegos da Espanha (ONCE), dentre outras. Houve assim, de unificar a simbologia nas disciplinas de matemática e ciências. Com a promulgação da Lei n. 11.161/2005 que prevê a oferta de língua espanhola como componente disciplinar obrigatório no currículo do ensino médio a partir de 2010, e a Lei 13.146/2015 que prioriza a inserção de pessoas com deficiência na escola, houve a necessidade de se adaptar a escrita em Braile para os cegos. Essa assistência é promovida pelas instituições escolares através da contratação de instrutores para alunos com cegueira. No entanto, cabe ao professor participar de formação continuada
- 209. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 18 200 para poder atender de forma mais direta o aluno com deficiência visual. Amiralian (2003) observou algumas precauções ao ensinar um aluno com cegueira: Devemos ter sempre em mente que, para os videntes, o mundo mental dos cegos é um conceito nebuloso, organizado por analogias ou inferido de situações que consideramos semelhantes às deles. Dessa mesma maneira, o mundo mental dos videntes é construído pelos cegos. Por exemplo, para nós é muito difícil pensar em uma representação mental sem a imagem visual, ou o que seja o conceito tátil- cinestésico de cadeira, assim, como para os cegos congênitos, a visualização dos objetos é um dado impossível. (AMIRALIAN, 2003, p. 207). O autor aborda as dificuldades de compreensão do mundo real e físico por deficientes visuais que já nasceram com essa característica, no entanto, a jovem estudante adquiriu a cegueira ainda na infância, na qual ela teve o contato com o mundo visual, o que lhe tornou mais fácil compreender a existência dos objetos, inclusive as características e as cores. Por isso, sua mãe revelou que a garota tem uma grande atração por cores fortes como o vermelho por exemplo. Além de desenvolver o gosto pelas cores, ela expressa grandes habilidades em relação à apreciação e a execução musical. A mesma aprendeu a tocar violão, bateria e cantar hinos evangélicos, chegando a participar de variados eventos em diferentes igrejas. CONSIDERAÇÕES FINAIS Considerando os resultados das duas avaliações bimestrais anexas ao apêndice deste trabalho e outras atividades propostas pelo professor de espanhol, as quais apresentaram valores crescentes na aprendizagem de A. F. do N., verificou-se a importância de se trabalhar o desenvolvimento do ensino-aprendizagem de um discente com cegueira, partindo da inter-relação escola/família no contato e no diálogo com a mãe da discente, ação proposta por Reily (2004). Depois de traçarmos um plano estratégico, foram detectados os problemas e dificuldades de aprendizagem da aluna cega e, em seguida, o grupo de profissionais que envolveram professores e coordenadores promoveram atividades favoráveis ao desempenho da discente, alcançando um patamar desejável. Com base em distintas teorias foi possível compreender como aplicar as atividades práticas envolvendo as suas habilidades e gostos como a prática musical, trazidas ao contexto cotidiano para tornar as aulas de língua espanhola mais prazerosa. Portanto, este trabalho não teve a intenção de afirmar qual foi, ou quais foram as melhores estratégias de aquisição da aprendizagem de língua estrangeira espanhola para um aluno com a visão comprometida, mas propõe, aqui, indicar possíveis direções para a melhoria do ensino de espanhol para cegos e uma das maneiras mais prazerosas de utilização da escrita do sistema Braille, a utilização de atividades
- 210. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 18 201 auxiliadas pela tecnologia e através de canções. A partir do exposto, podemos entender que a aprendizagem é um processo de desenvolvimento e amadurecimento do ser humano e que os meios para alcançá-la, dependem, principalmente, da vontade e determinação do sujeito. Afinal o aprendiz necessita de incentivos e esse é o ponto em que a presença do professor faz a diferença. Torna-se imprescindível que o profissional tenha domínio de variadas formas de linguagens para desenvolver o processo interativo com o estudante especial. Por isso, fomentamos a propagação de formação continuada para professores de diferentes áreas do conhecimento para que possam idealizar metodologias atrativas, inserindo os saberes e práticas ao alcance dos alunos especiais. REFERÊNCIAS AMIRALIAN, M.L.T.M. A deficiência Redescoberta: A orientação de pais de crianças com deficiência visual. Rev. Psicologia 2003, 20(62). P.107-15. Disponível em:< https://bit.ly/2AYiLgz>. Acesso em mar de 2017. BARALO, M. La Adquisición del español como lengua extranjera. Madrid. Arco Libros, 1999. BRASIL, Ministério da Educação. Secretaria da Educação Média e Tecnologia. Parâmetros Curriculares Nacionais: Ensino Médio. Brasília: MEC, 1999 BRASIL, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9394/96. Brasília, DF Disponível em <https://bit.ly/1OgopZ0>. Acesso em: 14 de jun. de 2017. BRASIL. Decreto 5.626 de 22 de dezembro de 2005. Brasília. D. F. 2005. Disponível em: <https://bit. ly/2TdbBMo>. Acesso em: 14 jun. 2017. BRASIL. Lei N 13.146, DE 6 DE JULHO DE 2015. Diaponível em <https://bit.ly/2numMRn >. Acesso em: 4 jun. 2017. BUTLER. J. Corpos que importam. Bodies that matter. On the Discursive Limits of “Sex”. New York: Routledge, [1993], 2011. Sapere Aude – Belo Horizonte, v.6 - n.11, p.12-16 – 1º sem. 2015. ISSN: 2177-6342. Disponível em: <https://bit.ly/2U4LQ0U> Acesso em: 10 jun. 2017. Tradução de Magda Guadalupe dos Santos; Sérgio Murilo Rodrigues. BUTLER, J. Problemas de gênero. Feminismo e subversão da identidade. Tradução de Renato Aguiar. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. GONSALVES, E. P. Iniciação à pesquisa científica. Campinas. S. P. Editora Alínea, 2003. LIRA, M. C. F., & SCHLINDWEIN, L. M. (2008) A pessoa cega e a inclusão: um olhar a partir da psicologia histórico-cultural. Caderno Cedes, 28(75), 171-190. PELÚCIO, L. Subalterno quem, cara pálida? Apontamentos às margens sobre póscolonialismos, feminismos e estudos queer. In: Contemporânea – Revista de Sociologia da UFSCar. São Carlos, Departamento e Programa de Pós-Graduação em Sociologia, 2012, in: Contemporânea ISSN: 2236-532X v. 2, n. 2 p. 395-418. REILY, L. Escola inclusiva: Linguagem e mediação. Campinas, SP : Papirus, 2004.
- 211. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 18 202 <https://bit.ly/2numMRn>. Acesso em: 29 de abri. 2017. _________ Disponível em:< https://bit.ly/2T64Tb7>. Acesso em: 08 jul. 2017. Blog Inclusão e Cidadania. Entrevista com a autora, do site da Editora Papirus: 26-12-2009. SILVA, D. F., À brasileira: racialidade e a escrita de um desejo destrutivo. Estudos Feministas, v. 14, n.1, 2006, p. 61-83. VYGOTSKY, L. S. Fundamentos de Defectología. Obras Completas, tomo cinco (2a reimp.). Cuba: Editorial Pueblo y Educación. (1997). APÊNDICES Imagem 1 – Avaliação de Língua Espanhola transcrita em Braille Fonte: Própria dos autores
- 212. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 18 203 Imagem 2: Prova de Língua Espanhola nota (8,8) Fonte: própria dos autores
- 213. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 18 204 Imagem 3: Transcrição da prova de espanhol 3º bimestre - nota (8,8) Fonte: própria dos autores
- 214. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 19 205 O ESTUDO DOS SIGNOS NO PROCESSO DE FORMAÇÃO DOCENTE E DISCENTE CAPÍTULO 19 doi Lucas Antunes Tenório Universidade Paulista, Faculdade de Psicologia Manaus – AM Marcela dos Santos Barbosa Universidade Federal do Amazonas, Departamento de Ciências Exatas Manaus – AM RESUMO: Os signos foram utilizados por Vygotskycomoatividadepedagógicamediadora, com o intuito de facilitar ou potencializar o contato e a apreensão do conhecimento proposto no desenvolvimento cognitivo do indivíduo. Eles estão presentes no dia a dia de todos, seja num contexto pedagógico, como no profissional, cultural ou no individual, e servem como mediadores capazes de potencializar as instâncias cognitivas, seja auxiliando a memória, a comunicação ou estruturando um raciocínio. Nas escolas é comum o uso de materiais didáticos como signos. Dito isso, com o objetivo de verificar como os signos são importantes no processo de ensino e aprendizagem de crianças entre 7 e 8 anos e com a práxis docente, foi provado sua eficácia através do uso do jogo das cores proibidas, proposto por Vygotsky e colaboradores. O jogo foi realizado com 4 crianças em 3 etapas, sendo 18 perguntas por etapas relacionadas às cores de diversos objetos. Na 1o etapa as crianças responderam às perguntas listadas sem nenhum auxiliar semiótico, e na 2o e 3o etapa elas tiveram acesso a cartões coloridos que funcionavam como signos. As vantagens de utiliza-los poderão ser eficazes no ambiente escolar, as cores e o fator lúdico contribuem para os métodos de ensino em sala de aula. Os signos quando usados adequadamente são capazes de propiciar um ambiente de ensino construtivo auxiliando na interação do conteúdo a ser transmitido. PALAVRAS-CHAVE: Signos, Mediadores, Ensino e Aprendizagem, Vygotsky. ABSTRACT: The signs were used by Vygotsky as a mediator pedagogical activity, in order to facilitate or enhance the contact and the acquisition of the proposed knowledge in the individual's cognitive development. They’re present in the daily lives, whether in a pedagogical context, or in the professional, cultural or individual, and serve as mediators capable of potentiating the cognitive instances, whether assisting memory, communication or structuring reasoning. In schools, it is common to use didactic materials as signs. That said, in order to verify how signs are important in the teaching and learning process of children between 7 and 8 years old and with teaching praxis, their efficacy was proven through the use of the game of forbidden colors, proposed
- 215. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 19 206 by Vygotsky and collaborators. The game was held with 4 children in 3 stages, 18 questions in stages related to the colors of various objects. In the 1st stage the children answered the listed questions without any semiotic help, and in the 2nd and 3rd stage they had access to colored cards that worked as signs. The advantages of using them can be effective in the school environment, the colors and playfulness contribute to the teaching methods in the classroom. Signs, when used properly, are able to provide a constructive learning environment by assisting the interaction of the content to be transmitted. KEYWORDS: Signs, Mediators, Teaching and Learning, Vygotsky 1 | INTRODUÇÃO Os signos são representações e podem servir de auxiliares em atividades cognitivas como lembrar, relatar, indicar e escolher. Os estudos dos signos se devem, principalmente, à Lev Vygotsky, psicólogo que os analisou em crianças e provou suas potencialidades como força propulsora que contribui em instâncias cognitivas, sobretudo a memória. Os signos podem também auxiliar as atividades docentes e contribuir com as ações pedagógicas dos professores. Os estudos com signos foram iniciados com Ferdinand de Saussure, que os estudou em linguística, mais tarde tais estudos repercutiram com Lev Vygotsky, que estudava a aprendizagem em crianças, o que permitiu, junto ao seu grupo de colaboradores, realizar diversos experimentos visando investigar os efeitos psíquicos da utilização de signos como, por exemplo, o experimento conduzido por Leontiev, que partiu de um jogo infantil tradicional na Europa chamado “Cores Proibidas”. Para dar início à ideia de signo deve-se primeiramente falado de mediação. O Vygotsky partiu da tese que o ser humano interage com o meio através abordar o que Vygotsky entendeu por “mediadores”, que são ferramentas auxiliares da atividade humana. Portanto, a interação do homem com o mundo não é direta, há sempre um objeto interposto entre o indivíduo e o contexto em que está inserido. Ele identificou dois tipos de mediadores: os instrumentos e os signos. O instrumento é um tipo de mediador que visa causar uma modificação no ambiente, podendo ser, também, um mediador da interação humana. Os instrumentos auxiliam nas ações concretas e os signos, por outro lado, auxiliam em problemas psicológicos, como relatar informações e fazer contas de matemática. Signos podem ser definidos como elementos representativos de outros objetos, eventos ou situações. Aseguir, na Tabela 1, serão apresentados exemplos de signos citados por Oliveira (1998). Exemplo O que representa? Palavra “cadeira” O objeto cadeira Número “5” A quantidade 5
- 216. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 19 207 Desenho de um vestido na porta de um sanitário “Aqui é o sanitário feminino” Fazer uma lista de compras Orientar nas compras do supermercado Utilizar um mapa Localizar um local Fazer um diagrama Orientar na construção de um objeto Dar um nó no lenço Não esquecer um compromisso Utilizar varetas ou pedras Registro e controle da contagem de cabeças de gado Separação de sacos em pilhas diferentes Identificar os seus proprietários Tabela 1. Exemplos de signo e suas representações. O signo, como uma construção do homem, é uma representação de um aspecto da realidade. Um exemplo de signos foram os nós que os povos primitivos faziam para lembrar de coisas. Esses nós, denominados de “cordões com nós” eram usados por povos do antigo Peru e registravam informações, enviavam comunicados a respeito das condições dos exércitos, calculavam e marcavam o número de mortos em batalhas (GEHLEN; DELIZOICOV, 2016). Os signos como instrumentos psicológicos orientam o sujeito e auxiliam nos processos mentais. Vygotsky e seus colaboradores realizaram diversos experimentos para verificar o papel dos signos na psicologia. Um destes experimentos tinha como objetivo verificar a relação entre a percepção e a ação motora em crianças de quatro e cinco anos, com e sem a intervenção de signos mediadores. Numa primeira fase do experimento havia um conjunto de figuras e cada figura correspondia a uma tecla do teclado. Quando a figura era mostrada à criança, a tecla correspondente deveria ser pressionada. Numa segunda fase do experimento os pesquisadores introduziram marcas identificadoras nas teclas, que auxiliavam sua correspondência com as figuras. A introdução dessas marcas modificou radicalmente o desempenho das crianças. Vygotsky (1978) cita diferentes formas de utilização de signos com crianças que podem ser estudadas através de manifestações concretas, como a fala, a escrita, a leitura e a utilização do sistema numérico. É importante estudar os efeitos causados pelo uso de signos em funções psicológicas, uma vez que busca compreender a origem social destes e seu papel no desenvolvimento do indivíduo. Muitas pesquisas realizadas sobre processos de memória sustentam a hipótese sócio-histórica de que eles estariam apoiados na vida social real das pessoas, sendo assim, dependem diretamente do conteúdo das ações específicas que as pessoas exercitam e nas quais se concretizam as suas vinculações com a realidade (RATNER, 1995). Além disso, a aplicação de signos por professores poderá auxiliá-los em diversos tipos de atividades lúdicas que ajude os alunos no processo de ensino e aprendizagem. Sua aplicação dinamiza o discente a buscar conhecimento, uma vez que ele fará relações diversas dos signos com o conteúdo ensinado. Essa prática poderá ser
- 217. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 19 208 realizada em diversos tipos de ambientes de ensino, e não só para crianças como também para jovens e adultos. Atualmente, no ensino básico, é mais comum o uso de atividades com signos, por meio de fatores lúdicos utilizando-se de símbolos e modelos. Dessa forma, o objetivo desse trabalho é aplicar o jogo das cores proibidas, proposta por Lev Vygotsky e colaboradores, em crianças de 7 e 8 anos, e verificar sua eficácia, além de mostrar como são importantes na práxis docente por meio de sugestões de aplicações a serem realizadas pelos professores, como forma de dinamizar as aulas. 2 | REVISÃO BIBLIOGRÁFICA Os signos são comuns nos espaços de ensino e ajudam na práxis docente de diferentes maneiras. Na Tabela 2, a seguir, será mostrado algumas abordagens para a aplicação dos signos e também as citações de autores que trabalharam com variados tipos de aplicações utilizando-se de signos em diferentes disciplinas e públicos. Autores Público alvo Tipo de signo Ano da obra LABURÚ, C. E.; NARDI, R.; ZÔMPERO, A. De F. Ensino médio Obra artística 2014 DE ALMEIDA, A. C.; ROSA, S. H. D. Ensino médio Escrita 2015 SCHELLER, M.; DE LARA BONOTTO, D.; RAMOS, M. G. Professores Escrita 2016 SANTOS, M. F.; DE OLIVEIRA. Ensino fundamental Linguagem verbal e não verbal 2016 DE OLIVEIRA, M. A. A; LEITE, M. S e PRINCE, A Professores Obras de arte 2017 DAS NEVE, R. F.; DOS ANJOS, C. L. & FERREIRA, H. S Ensino médio Imagens de células 2016 MARTINS, A. L. V.; PEDON, N. R.; MELLO, M. C. De O. Ensino médio Imagens de satélite 2015 CAMARA, T. R. S., DA COSTA, F. S. F., FAUSTINO, J. G., & MORAIS, S. H. D. S. L. Ensino infantil Fotografias 2017 MORAES, A. F.; SERAFIM, M. L. Ensino infantil Interação digital com placas 2010 AVELAR, V. G Ensino médio e para professores Análise morfológica de terreno 2014
- 218. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 19 209 JÚNIOR, E. X. DA SILVA.; NASCIMENTO, I. Y. M.;DIAS, T. G.; SCHWINGEL, P. A. Alunos do curso ciência da saúde Modelos anatômicos alternativos 2014 CASTRO, P. T. A.; RUCHKYS, Ú.; PAULA, S. F. Alunos de ensino fundamental e médio Modelo geográfico 2017 SCARINCI, A. L. COSTA, R.; SHIMIZU, S.; PACCA, J. L. A Alunos de ensino médio Modelos representacionais do estudo da matéria e da eletricidade 2009 Tabela 2. Citação de autores que abordam o uso de signos Zômpero, Nardi e Laburú (2014) mostraram por meio de uma investigação onde se utilizou uma obra artística como recurso mediador para provocar e sustentar a participação discursiva de estudantes do ensino médio em sala de aula, o signo nesse caso foi a obra artística, na qual era simbolizada o efeito da conservação da energia mecânica. De Almeida e Rosa (2015), Scheller, De Lara e Ramos (2016) analisaram a escrita em um projeto de práticas de escrita. Para Vygotsky e os demais teóricos que se debruçaram sobre o estudo de signos, a escrita representa um sistema semiótico visto que, as palavras não constituem a intenção ou o objeto real, mas apenas uma representação simbólica destes como forma de organizar o real, dando- se culturalmente. A linguagem é, portanto, o sistema simbólico básico e sua relação com o pensamento constitui um dos temas axiais das investigações de Vygotsky. Viecheneski e Carletto (2016) e Santos e De oliveira (2016) exploraram o signo por meio da linguagem verbal e não verbal, nesse último foram aplicadas linguagens de sinal. Entretanto, Morais e Serafim (2010) realizaram uma pesquisa no qual ensinam crianças a ler por meio de placas digitais que simbolizavam as letras. Vygotsky também se interessou pela linguagem e de acordo com ele, é a partir da interação, que se dá por meio da linguagem, que a criança começa a reorganizar internamente todas as significações culturais que com ela são compartilhadas. Essa reconstrução interna das operações psicológicas externas, Vygotsky denominou “internalização” (DE OLIVEIRA 1998). Há também os trabalhos com imagens representativas de Martins e Melo (2015) que ensinaram conceitos de geografia utilizando imagens de satélite, as imagens representavam os lugares estudados e os conceitos geográficos, já Castro, Ruchkys e Paula (2017) realizaram um estudo em que ensinavam alunos de ensino fundamental e médio por meio de modelos geográficos. Estudos com modelos foram também realizados por Júnior, Da Silva, Nascimento, Dias e Schwingel (2014) em que ensinavam alunos do curso de ciência da saúde por meio de modelos anatômicos.
- 219. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 19 210 Scarinci, Costa, Shimizu e Pacca (2009) também se focaram em modelos, mas para o ensino da matéria e de eletricidade em alunos de ensino médio. De Oliveira, Leite e Prince (2017) por meio de imagens artísticas buscaram formar professores, tendo o mesmo objetivo de formação, Avelar (2014) desenvolveu uma proposta que serviu para auxiliar professores e alunos a fazerem análise técnica de terrenos. já Camara, Da Costa, Faustino e Morais (2017) utilizaram fotografias para ensinar crianças a ler. Das Neves, Dos Anjos e Ferreira (2016) também utilizaramimagens, eles, por sua vez, analisaram conceitos celulares por meio da aplicação de uma imagem de célula em alunos de ensino médio, mostrando a diversidade para ensinar por meio de signos. 3 | METODOLOGIA O trabalho foi realizado em um ambiente escolar, localizado na Zona Leste de Manaus-AM, numa turma de aproximadamente 15 crianças do fundamental I. Quatro crianças com idades variando entre sete e oito anos se voluntariaram para participar da atividade. Foi-lhes aplicado o chamado Jogo das cores proibidas, que consiste em três etapas e cujas regras consistem basicamente em memorizar as cores de cada etapa e responder as perguntas referentes sem citar tais cores. As etapas continham 18 perguntas cada uma, podendo estas, se referirem tanto a cores abstratas (cores de objetos que não se encontravam presentes), como cores de objetos que fossem visíveis no ambiente. Na primeira as crianças responderam às perguntas contando apenas com sua própria memória, as cores proibidas eram verde e amarelo. A segunda e a terceira etapa eram semelhantes à primeira, porém as cores eram diferentes e as crianças tiveram acesso a cartões que representavam as cores proibidas, sendo utilizados como signos. Na 2ª, a cor proibida era azul e vermelho e na 3ª, marrom e laranja. Na primeira etapa as crianças passaram por um pequeno grau de dificuldade, pois tinham que memorizar quais eram as cores proibidas e quando estas cores surgissem elas deveriam falar “cor proibida”. Por exemplo, se a cor proibida fosse verde e lhe fosse questionado “qual a cor da grama?” a criança precisava responder “cor proibida”. Já na segunda e terceira etapa elas tinham acesso aos cartões, que funcionavam como signo e serviam para auxiliar a criança a responder as perguntas, podendo ela, consultá-los se quisesse. As perguntas se referem a cor dos seguintes elementos ou objetos, como apresentada na Tabela 3, a seguir. Qual é a cor: 1 De do brinquedo (presente no local) 10 Da grama 2 Do sangue 11 Da Coca-Cola 3 Do lápis (presente no local) 12 De um lenço (presente no local)
- 220. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 19 211 4 Da terra 13 Da laranja 5 Do sol 14 Da bexiga 6 Das folhas das árvores 15 Da caneta (presente no local) 7 Da banana 16 Do leite 8 Da maçã 17 Do céu 9 Da bolsa (presente no local) 18 “Você acha que ganhou ou perdeu?” Tabela 3. Lista das perguntas. 4 | RESULTADOS E DISCUSSÃO Os nomes das crianças apresentadas nesse trabalho são fictícios para preservar a identidade destas. Primeiramente será mostrado os resultados observados nas meninas e posteriormente para os meninos nas tabelas abaixo. A Tabela 4, abaixo, contém a coleta dos resultados para as meninas, Ana Luiza e Gabriela, de 7 anos, e a Tabela 5 apresenta os resultados dos meninos, Dinaldo e Benny, de 8 anos. Em sequência, são apresentados gráficos referentes aos dados tabelados. Ana Luiza - 7 anos 1ª etapa 2ª etapa 3ª etapa Erro por cor proibida – A 5 2 3 Acertos – C 11 16 14 Erros Gerais - E 2 0 1 Gabriela - 7 anos 1ª etapa 2ª etapa 3ª etapa Erro por cor proibida - A 1 1 0 Acertos - C 15 16 16 Erros Gerais - E 2 1 2 *E = Erros gerais (ex: não reconheceu a cor) Tabela 4. Resultado observado no desempenho das meninas
- 221. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 19 212 Figura 1. Gráfico dos resultados verificados na tabela 1 para a criança Ana Luiza A Figura 1 mostra que Ana Luiza, na primeira etapa, embora tenha reconhecido algumas cores com facilidade e respondido com uma certa agilidade o que lhe era perguntado, cometeu um número razoável de erros nessa primeira etapa no que se refere às cores proibidas. Ela transparecia ansiedade e, consequentemente, precipitação nas respostas, respondendo com muita velocidade, mas convertendo- se também em alguns erros. Na segunda e terceira etapa do jogo, Ana Luiza se mostrou mais atenta e cautelosa e agora, com os cartões coloridos em mãos, apresentou uma melhora no desempenho. Passou a conferir os cartões antes de responder e demonstrou mais facilidade com cores mais conhecidas enquanto que, com cores menos comuns, apresentava uma leve dificuldade nas respostas. Figura 2. Gráfico dos resultados verificados na tabela 1 para a criança Gabriela Como é apresentado na Figura 2, Gabriela demonstrou facilidade desde a primeira etapa. Mas, a princípio, dedicava muita cautela, pensando bem antes de responder.
- 222. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 19 213 Na segunda etapa a participante mantém o padrão de atuação, mas sempre checava os cartões antes de emitir uma resposta. Mostrando uma adaptação gradativa dentro do jogo, Gabriela continua fazendo uso constante dos signos, mas demonstra muito mais confiança e rapidez nas respostas. Dinaldo - 8 anos 1ª etapa 2ª etapa 3ª etapa Erro por cor proibida - A 2 1 2 Acertos - C 13 15 16 Erros Gerais - E 3 2 2 Benny - 8 anos 1ª etapa 2ª etapa 3ª etapa Erro por cor proibida - A 1 1 0 Acertos - C 17 16 17 Erros Gerais - E 0 1 1 *E = Erros gerais (ex: não reconheceu a cor) Tabela 5. Resultado observado no desempenho dos meninos Figura 3. Gráfico dos resultados verificados na tabela 2 para a criança Dinaldo É notório como o participante tem mais dificuldade para responder as perguntas abstratas. Como quando lhe era perguntado sobre a cor da terra, por exemplo. Esta dificuldade era menos frequente quando lhe era perguntado sobre um objeto presente no ambiente, como mostra a Figura 3.
- 223. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 19 214 Embora persista a dificuldade com informações abstratas na segunda e terceira etapa, quando em posse dos cartões coloridos, Dinaldo mostrou um aumento no número de acertos e uma redução no número de erros tanto em se tratando das cores proibidas, como em relação a erros gerais. Figura 4. Gráfico dos resultados verificados na tabela 2 para a criança Benny De acordo com o observado na Figura 4, Benny demonstrou extrema facilidade em todas as etapas do experimento, não mostrando nenhuma oscilação em nenhuma delas, tendo como única diferença, o tempo de resposta que era maior na primeira etapa. Figura 5. Gráfico geral referente aos resultados das 4 crianças observadas A Figura 5 apresenta a união dos resultados coletados das quatro crianças, o gráfico foi feito através da análise em conjunto de todos os dados, para uma melhor
- 224. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 19 215 visualização, podendo ser possível a comparação dos valores verificados das categorias (A, C e E). 5 | CONCLUSÃO Os participantes, embora tenham variado entre seus comportamentos individuais diante da atuação, apresentaram similaridades em relação às etapas de modo que a tese proposta por Vygotsky se mostre válida mesmo nos dias de hoje e sendo aplicada em localidades tão distantes. Embora os resultados aparentem pouca diferença quando se compara a primeira etapa do experimento com as demais, foi possível observar que os participantes quando não faziam uso do signo, pensavam mais antes de emitir uma resposta e, quando a emitiam, apresentaram uma taxa de acertos menor, ademais, também apresentaram uma redução no número de erros quando lhes era perguntado sobre uma cor proibida nas etapas posteriores. Foi notório que as crianças depositavam demasiada confiança nos signos que estavam em suas mãos, quando sempre que surgia a menor dúvida, elas olhavam rapidamente para os cartões antes de responder as perguntas. Isto posto, é possível observar que além de provar a eficácia do uso de signos para funções mnemônicas, as crianças na idade em que se encontravam (7 e 8 anos), também mostram mais facilidade e segurança para identificar cores que se encontrem diante de seus olhos visto que, quando lhes era perguntado sobre algo que não estava presente no local, elas apresentavam uma maior dificuldade para responder chegando até a errar algumas vezes. Autilização de signos é útil ao educador e pode ser aplicada em todos os níveis de ensino, ela serve para dinamizar o aprendizado e melhorar a performance na fixação dos conteúdos pelos alunos. REFERÊNCIAS AVELAR, V. G. Análise morfológica do terreno: as potencialidades dos modelos tridimensionais no ensino-aprendizagem de alunos/professores do curso de geografia-parfor/unifap. Revista Brasileira de Cartografia, v. 4, n. 66, 2014. CAMARA, T. R. S., DA COSTA, F. S. F., FAUSTINO, J. G., & MORAIS, S. H. D. S. L. Inclusão tecnológica: o uso da fotografia como recurso pedagógico e facilitador no processo de formação da identidade infantil. Revista Includere, v. 3, n. 1, 2017. CASTRO, P. T. A.; RUCHKYS, Ú.; PAULA, S. F. O patrimônio geológico e o potencial educativo do Geopark Quadrilátero Ferrífero para o ensino de ciências e geografia. Instituto de Geociências/ UFMG, Tese de Doutorado, Belo Horizonte. Disponível em: http://goo. gl/gEVyxn. Consultado em v. 17, n. 07, p. 2015, 2007. DAS NEVES, R. F.; DOS ANJOS CARNEIRO-LEÃO, A. M.; FERREIRA, H. S. A Imagem da Célula em livros de Biologia: Uma abordagem a partir da Teoria Cognitivista da Aprendizagem Multimídia. Investigações em Ensino de Ciências, v. 21, n. 1, p. 94-105, 2016.
- 225. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 19 216 DE ALMEIDA, A. C. P.; ROSA, S. H. D. Práticas de escrita em sala de aula virtual: observações de um curso na modalidade a distância. Scientia Plena, v. 11, n. 2, 2015. DE OLIVEIRA, M. A. A.; LEITE, M. S.; PRINCE, A. E. Debret e rugendas nos livros didáticos: ensino de história por meio de imagens. Revista Univap, v. 22, n. 40, p. 575, 2017. DE OLIVEIRA, M. K. Vygotsky: aprendizado e desenvolvimento-um processo sócio-histórico. In: Vygotsky: aprendizado e desenvolvimento-um processo sócio-histórico. 1998. GEHLEN, S. T.; DELIZOICOV, D. A dimensão epistemológica da noção de problema na obra de Vygotsky: implicações no ensino de ciências. Investigações em Ensino de Ciências, v. 17, n. 1, p. 59-79, 2016. GEISA, N.S.; MALUF, M. R. Operações com Signos em Crianças de 5 a 7 anos. Psicologia: Teoria e Pesquisa. Vol. 16 n. 1, p. 063, 2000. JÚNIOR, E. X. DA SILVA.; NASCIMENTO, I. Y. M.; DIAS, T. G.; SCHWINGEL, P. A. Elaboração de modelos anatômicos alternativos para o ensino-aprendizagem da disciplina de neuroanatomia humana, a partir de material de baixo custo. CONEDU, v. 1, p. 1-5, 2014. LABURÚ, C. E.; NARDI, R.; ZÔMPERO, A. de F. Função estética dos signos artísticos para promover processos discursivos em sala de aula. Investigações em Ensino de Ciências, p. 451- 463, 2014. LEONTIEV, A. N. Studies on the cultural development of the child. Journal of Genetic Psychology, 40, p. 52-83, 1932. MARTINS, A. L. V.; PEDON, N. R.; MELLO, M. C. de O. O uso de imagens de satélite como prática pedagógica interativa no ensino de diferentes conteúdos na disciplina escolar de geografia. In: Congresso de extensão universitária da UNESP. Universidade Estadual Paulista (UNESP), p. 1-5, 2015. MORAES, A. F.; SERAFIM, M. L. Mediação Pedagógica: objetos de aprendizagem na Educação Infantil. In: Brazilian Symposium on Computers in Education (Simpósio Brasileiro de Informática na Educação-SBIE). 2010. RATNER, C. A Psicologia Sócio-Histórica de Vygotsky. Aplicações contemporâneas. Porto Alegre: Artes Médicas, 1995. SANTOS, M. F. O. Contribuições dos aspectos não-verbais e verbais ao discurso de sala de aula. Revista do GELNE, v. 4, n. 1, p. 1-6, 2016. SCARINCI, A. L. COSTA, R.; SHIMIZU, S.; PACCA, J. L. A.; Modelos Representacionais da Estrutura da Matéria e o Ensino de Eletricidade. Anais do XVIII Simpósio Nacional de Ensino de Física, 2009. SCHELLER, M.; DE LARA BONOTTO, D.; RAMOS, M. G. A função da linguagem na sala de aula: percepções de professores de ciências e matemática. Interfaces da Educação, v. 7, n. 19, p. 376- 396, 2016. VIECHENESKI, J. P.; CARLETTO, M. R. Iniciação à alfabetização científica nos anos iniciais: contribuições de uma sequência didática. Investigações em Ensino de Ciências, v. 18, n. 3, p. 525- 543, 2016. VIECHENESKI, J. P.; CARLETTO, M. R. Iniciação à alfabetização científica nos anos iniciais: contribuições de uma sequência didática. Investigações em Ensino de Ciências, v. 18, n. 3, p. 525- 543, 2016. Vygotsky, L. S. Mind in society. The development of higher psychological processes. Em M. Cole, V. John-Steiner, S. Scribner & E. Souberman (Orgs.). Cambridge/London: Harvard University Press, 1978.
- 226. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 20 217 PERSPECTIVAS DOCENTES SOBRE O EDUCAR E O CUIDAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL CAPÍTULO 20 doi Heloisa Alves Carvalho Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Belo Horizonte – FACISABH Belo Horizonte- Minas Gerais Lucy Ferreira Sofiete Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Belo Horizonte – FACISABH Poté- Minas Gerais Maria Alice Araújo Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Belo Horizonte – FACISABH Esperança- Paraíba Daniane Xavier dos Santos Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Belo Horizonte – FACISABH Belo Horizonte- Minas Tatiane Tertuliano Mota da Silva Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Belo Horizonte – FACISABH Belo Horizonte- Minas Gerais RESUMO: Este estudo trata-se de uma discussão acerca do educar e cuidar na Educação Infantil. De modo específico, buscou- se compreender a percepção de docentes nesse nível de ensino sobre os referidos conceitos e as implicações dessas compreensões em suas práticas profissionais. A metodologia empreendidabaseou-seempesquisadescritiva, com abordagem qualitativa, desenvolvida por meio de trabalho de campo e tendo como coleta de dados a entrevista semiestruturada e a aplicação de questionário a professoras de uma escola da rede privada de Belo Horizonte. Além desses passos, o trabalho apoiou-se em uma bibliografia especializada sobre a discussão acerca do cuidar e do educar, analisando-o historicamente para melhor compreendê- los no contexto atual. Nesse sentido, para além da análise de documentos oficias que regem a educação, como os Referenciais Nacionais da Educação Infantil (RCNEIs), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), autores como Tiriba (2005), Montenegro (2005), Ariès (1981), Kuhlmann (2010), Kramer (2005), dentre outros, foram estudados. A partir da investigação, pôde-se perceber que, embora os conceitos de educar e cuidar atualmente reflitem uma compreensão integrada no processo formativo discente, essa não tem sido uma prática efetiva no âmbito escolar, assinalando ainda uma prática baseada em dicotomia que hierarquiza cada um dos conceitos e compromete a formação dos educandos. Tal fato deve ser compreendido por fatores socioculturais que apontam, inclusive, para uma indevida formação docente. PALAVRAS-CHAVE: Educar, cuidar, Educação Infantil.
- 227. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 20 218 ABSTRACT: This study is a discussion related to education and care for the reflexion of the Early Childwood Education. The purpose of this study was to understand the perspectives of the teachers in the education and care in a private school in Belo Horizonte. The methodology used here was a qualitative approach developed through field work and having as data collection the semi-structured interview and the questionnaire application. Besides all these steps, the work was based on a specialized bibliography on the discussion of caring and educating. Since 1990s Child Education has been integrated with basic education by the laws that govern education. Authors such as Tiriba (2005), Montenegro(2005), brought the question of binomial, and the existence of a hierarchy between classes, in this theory the professionals less prepared would take care of the body while the teachers would be in charge of the education. The National Child Education Reference emphasizes that education and care are inextricable and other specialist who studied this subject as Ariès (1981), Kuhlmann (2010), Tiriba (2005), Kramer (2005), among others. KEYWORDS: Educate, Care, Childwood Education. 1 | INTRODUÇÃO Este trabalho tem como tema “Perspectivas Docentes Sobre o Educar e o Cuidar na Educação Infantil”. Mesmo presentes no debate educativo atual, com especial destaque a partir dos Referenciais Curriculares para a Educação Infantil (RCNEIs), os conceitos de educar e cuidar nem sempre são compreendidos. Muitas vezes são concebidos de forma associada, em outros momentos são entendidos de maneira independente. São assim conceitos que trazem uma complexidade que possibilita interessante investigação. De acordo com a Lei Das Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) de 1996: O trabalho direto com as crianças pequenas exige que o educador tenha uma competência polivalente. Ser polivalente significa que ao educador cabe trabalhar com conteúdos de naturezas diversas que abrangem desde cuidados básicos essenciais até conhecimentos específicos provenientes das diversas áreas do conhecimento. Este caráter polivalente demanda, por sua vez, uma formação bastante ampla e profissional que deve tornar-se, ele também, um aprendiz, refletindo constantemente sobre sua prática, debatendo com seus pares, dialogando com as famílias e a comunidade e buscando informações necessárias para o trabalho que desenvolve. (BRASIL, 1998, p. 41). Assim,éimportanteperceberamaneiracomoessesconceitossãocompreendidos poressesdocentes,umavezqueatravésdelesserãomaterializadas práticasformativas nas mais variadas escolas de todo o Brasil. E foi nesse sentido que se estabeleceu como principal objetivo a busca por compreender como os educadores na Educação Infantil concebem o educar e o cuidar em seu fazer profissional. Especificamente, esses conceitos seriam entendidos de maneira integrada ou separada? Haveria clareza
- 228. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 20 219 do educador acerca do momento de seu fazer educativo em que há a expressão materializada desses conceitos? Seriam concebidas como educativas as práticas de cuidado e vice-versa? A diversidade das situações educativas no contexto da Educação Infantil é especialmente interessante para a discussão acerca do educar e do cuidar e para a entender a relação estreita entre ambos na formação discente. A partir de uma realidade específica, a pesquisa contribui com a reflexão sobre a Educação Infantil brasileira, ao possibilitar uma melhor compreensão da dimensão educativa em sua totalidade, uma vez que fomenta o olhar sobre aspectos por vezes marginalizados e/ou compreendidos parcialmente, o que ressalta a relevância da investigação. Considera- se ainda a possibilidade de nesse processo pensar a figura docente. 2 | METODOLOGIA Com a intenção de compreender a percepção do professor da Educação Infantil acerca do cuidar e educar, de perceber as consequências dessa compreensão em seu fazer docente, esta pesquisa se formou. Trata-se de uma discussão que, ao desenvolver um aprofundamento sobre o cuidar e o educar, pode contribuir para a reflexão dos profissionais da educação que atuam na Educação Infantil. Para realizar este estudo, que surge como uma pesquisa descritiva quanto aos seus objetivos, adotou-se uma metodologia de abordagem qualitativa, desenvolvida por meio de trabalho de campo e tendo como coleta de dados a entrevista semiestruturada e a aplicação de questionário. Como defende Minayo (2013), a pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares, com foco em realidades que não podem ser quantificadas. Ela trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, elementos que correspondem a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos, os quais não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. Já a pesquisa de campo se deu com o intuito de reunir informações sobre o tema a partir de seu contexto. Acredita-se que um fato ou fenômeno pode muitas vezes ser melhor entendido no meio em que ele ocorre e do qual faz parte. A coleta de dados se deu a partir de entrevistas semiestruturadas e questionário. O questionário, como mostram Marconi e Lakatos (2002, p. 98), proporciona “[...] respostas mais rápidas e precisas, maior liberdade nas respostas, em razão do anonimato, e menos risco de distorção, pela influência do pesquisador.” Já a entrevista foi escolhida como maneira de receber informações mais elaboradas, concretas e práticas sobre a atuação e o conceito dos docentes a respeito do educar e cuidar. Além de todos esses passos, o trabalho se apoiou em uma bibliografia especializada sobre a discussão do cuidar e do educar. A bibliografia assumiu formas de livros, artigos e documentos oficiais (Referenciais Curriculares para a Educação Infantil; LDBEN,
- 229. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 20 220 Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Pedagogia, dentre outros). A investigação ocorreu em uma instituição privada de Educação Infantil de Belo Horizonte, localizada na região oeste da cidade. Tal instituição colocou-se às investigadoras como amostra por conveniência e ou acessibilidade; tendo em vista a proximidade desta à maioria das pesquisadoras e a localização de fácil acesso. Devido a critérios éticos, todos os nomes das professoras foram preservados. As professoras serão aqui identificadas pelas letras “A”, “B”, “C” e “D”. 3 | REFERENCIAL TEÓRICO 3.1 Breve história sobre a concepção de criança e de Educação Infantil Acreditou-se ser importante buscar historicamente o entendimento acerca da infância e do ser criança, além de discutir a ligação entre essas diferentes dimensões, hoje entendidas de modo tão atrelado. Ariès (1981) afirma que as crianças ao longo da história foram tratadas como adultos em miniatura. A infância não era levada em consideração e com isso as crianças eram colocadas no meio de adultos, em situações e convívio com adultos. É importante ainda dizer, segundo afirma Ariès (1981), que foi no século XVII que uma nova noção foi construída, a noção de inocência infantil. Essa noção traz consigo valores morais.Já no século XVIII, surge o entendimento da infância a partir de outros dois aspectos: a inocência e a ignorância, “a inocência que é preciso conservar e a ignorância ou a fraqueza que é preciso suprimir ou tornar razoáveis” (ARIÈS, 1981, p.149). Percebe-se então a partir daí a atenção no sentido de educar. Para educar eram necessários alguns cuidados e eles eram inspirados pelas noções de criança inocente, carente de moral, ignorante que precisava ser fortificada. Ou seja, eram cuidados aos quais deviam todos estar atentos, inclusive nos espaços de clausura. É importante também considerar, como afirmam as autoras Batista e Moreno (2005), que é nesse contexto, dos séculos VXII e XVIII, que ganham força o Iluminismo e o protestantismo; dois importantes movimentos no processo de um reconhecimento diferenciado em relação à infância, sendo compreendida como etapa distinta da adulta. Por meio de Àries (1981), percebem-se então as mudanças acerca do entendimento do que se entendia como criança. Essas mudanças trazem novas práticas de cuidados, que também foram sendo modificadas ao longo da história. A partir disso, pode-se então buscar um entendimento da infância e do ser criança na contemporaneidade. Segundo Kuhlmann (2010), considera-se a infância como uma condição da criança, o conjunto de experiências vividas por ela em diferentes lugares históricos, geográficos e sociais. Mais do que representação dos adultos sobre esta fase da vida, considera-se as representações da própria infância, as crianças concretas, localizadas nas relações sociais. Fala-se do reconhecimento destas como
- 230. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 20 221 produtoras da história, sujeitos que na (e da) realidade social que se apresenta. No Brasil, como mostra Pereira (2011), anteriormente à Constituição de 1988, e à LDBEN de 1996, as instituições de Educação Infantil eram meramente de caráter assistencialista,deproteção,especialmenteporsetratardessenovocontextodamulher no mercado de trabalho. Como mostra Pereira (2011), esse cuidado assistencialista vinha para compensar a ausência da família, tornando-se o principal objetivo para a sociedade. Com o passar do tempo muda-se a concepção de educação, propiciando o surgimento de novas propostas pedagógicas, incluindo todas as camadas da sociedade, abolindo desta maneira a ideia de creches assistencialistas, enfatizando a associação do cuidado com a educação da criança, assim surge a necessidade da sociedade elaborar novas orientações, leis que favoreçam a educação formal e completa da criança, tendo em vista o direito à educação infantil (PEREIRA, 2011, p.580). No entanto, apesar da mudança e da valorização do caráter pedagógico da instituição infantil, o pensamento compensatório e assistencial vem arrastando-se até os dias atuais, mantendo-se ainda bastante presente e forte (PEREIRA, 2011). No trabalho pedagógico nas instituições de Educação Infantil, cuidar e educar precisam ser integrados, atentando para a autonomia da criança e tendo os fazeres pedagógicos planejados a partir de diferentes áreas e realidades observadas. 3.2 Cuidar e Educar na Educação Infantil brasileira contemporânea Desde fins da década de 1990, é estabelecido por meio dos Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (RCNEIs) que o cuidar e o educar são funções integradas. Assim, os profissionais de Educação Infantil devem estar atentos para que esses elementos sejam incorporados dentro escola de forma articulada. Dessa forma, o educar e o cuidar estão ligados a todo um conjunto de exigências e atribuições que, buscando o desenvolvimento integral da criança, devem continuamente permitir a constituição de um sujeito autônomo, protagonista de seu desenvolver (BRASIL, 1998). Segundo o Referencial Curricular orienta, entende-se que: [...] cuidado na esfera da instituição da educação infantil significa compreendê- lo como parte integrante da educação, embora possa exigir conhecimentos, habilidades e instrumentos que extrapolam a dimensão pedagógica. Ou seja, cuidar de uma criança em um contexto educativo demanda a integração de vários campos de conhecimentos e a cooperação de profissionais de diferentes áreas. (BRASIL, 1998, p.24). Como apontam Bertolini e Oliveira (2009), infelizmente muitos dos profissionais/ educadores não estão interessados e/ou compromissados em desenvolver seu trabalho de modo atento às necessidades apresentadas no espaço escolar, inclusive no que se refere ao processo de adaptação das crianças.
- 231. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 20 222 Historicamente, o problema é que ambos foram vistos dissociadamente, em polos distintos que os separavam e geravam hierarquias. Estas, como mostrou Tiriba (2005), geraram consequências diretas (inclusive no processo de formação dos profissionais) que ainda hoje são muito visíveis na Educação Infantil. No entanto, apesar desse novo entendimento, como mostra Tiriba (2005), o binômio permanece e junto a ele a hierarquia, a menor capacitação dos funcionários da educação que se dedicam ao cuidar, ainda polarizado e assistencialista. 3.3 Educar e cuidar: hierarquização do binômio Para entender melhor sobre a problemática do educar e do cuidar é preciso rever em qual momento se deu a divisão "corpo e mente". A partir dessa compreensão é que surge o binômio, a polarização educativa que ainda hoje traz grande dificuldade às instituições, que educam e cuidam a partir da separação, causando dualidade/ desintegração onde deveria haver vinculação. Para Tiriba (2005), o entendimento histórico acerca do corpo está arraigado a um espaço sem privilégio, menor que aquele ocupado pela razão, pela mente; algo que como ela diz está presente desde a Antiguidade. Dessa forma, [...] nas propostas pedagógicas, nas práticas, assim como nas falas de profissionais educadoras de creches, muitas vezes, mais que integração, o binômio expressa dicotomia. Em razão de fatores socioculturais específicos de nossa sociedade, esta dicotomia alimenta práticas distintas entre profissionais que atuam lado a lado nas escolas de educação infantil, especialmente nas creches: as auxiliares cuidam e as professoras realizam atividades pedagógicas. (TIRIBA, 2005, p. 70). Para autora há ainda o fato que pode de algum modo explicar o binômio hoje existente, a noção de que o cuidar está ligado à emoção; diferente do educar que estaria ligado à razão. Nesse sentido, para se cuidar não seria necessário alguém com grande capacidade e formação "o cuidar é desprestigiado por estar relacionado à emoção, e não à razão; e, ademais, às mulheres, que seriam inferiores aos homens". E desde os tempos de Platão, a emoção assume uma posição pouco produtiva e de menor valor para construção do conhecimento. Por sua vez, a razão se torna indispensável.(TIRIBA, 2005, p. 75). Assim, a cisão entre educar e cuidar seria também "a expressão, no restrito campo da educação infantil, da cisão maior entre razão e emoção" (p. 75), sendo essa uma das marcas fundamentais da sociedade ocidental. Nesta lógica, o corpo assume o lugar secundário destinado aos prazeres, aos desejosàinconsciência...Nele,acabeçaabrigaarazão,aconsciência,pensamento, tomado por Descartes como a prova da nossa existência humana. Nesta lógica, o corpo é simplesmente um portador do texto mental. (Tiriba, 2005, p. 76). O educar tem assim o caráter de ajudar a trabalhar o raciocínio (ligado ao ensino, à inteligência), e o cuidar é compreendido como preservar o corpo, algo que qualquer profissional, segundo essa perspectiva, pode realizar; como discutem Tiriba (2005),
- 232. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 20 223 Guimarães (2008). Ao contrário, há importante defesa à educação de qualidade, que se estabelece no contexto escolar de forma integrada e não em cisões de posições. Segundo os Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil: (...) os debates em nível nacional e internacional apontam para a necessidade de que as instituições de educação infantil incorporem de maneira integrada as funções de educar e cuidar, não mais diferenciando nem hierarquizando os profissionais e instituições1 que atuam com as crianças pequenas e/ou aqueles que trabalham com as maiores. As novas funções para a educação infantil devem estar associadas a padrões de qualidade. (BRASIL, 1998, p.23). Tiriba (2005) fala sobre a ideia de razão associada ao caráter masculino; em um mundo patriarcal onde a mulher é inferior e, por isso, também ligada ao cuidar. Como se podia ver, por exemplo, em seus papéis de mãe e esposa, aquela que zela, resguarda e protege. Mas o que configura o patriarcalismo é a importância que a sociedade confere aos papéis atribuídos a cada um dos sexos: os homens se dedicam e se preocupam com dinheiro, com o seu trabalho, com o que diz respeito ao mundo do público; já as mulheres se preocupam com o que teria menos importância, ou seja, o que está relacionado à esfera do privado: a organização da casa, o cuidado com a alimentação e a higiene dos filhos, a saúde e o conforto da família. Podemos, em síntese, dizer que os homens cuidam das coisas, as mulheres cuidam das pessoas. (TIRIBA, 2005, p.79) A partir dessas informações compreende-se que a ligação da mulher ao âmbito do ensinar não é pelo intelecto, e sim pela emoção, aconchego, amor (TIRIBA, 2005). A mulher então como inferior, ligada a emoção, é vista como menor, assim como o ato de cuidar. Estas como fruto de problemas históricos de bastante tempo, continuam a desintegrar o processo, justificando práticas que não entendem a criança no seu todo e, às vezes, justificando a contratação de profissionais despreparados para lidar com a Educação Infantil. 3.4 O professor na Educação Infantil Como visto, falar em educar e cuidar é também falar do fazer do educador, é abordar o profissional em relação direta com o universo educativo. Torna-se desse modo essencial melhor compreender esse sujeito. Para que se possa ter uma atuação significativa e de qualidade, em qualquer nível de ensino, é necessária uma sólida formação. Algo especialmente importante quando se trata com a formação de diferentes sujeitos. Estes, sob a responsabilidade mediadora do docente, precisam ser entendidos de forma integral. Assim, fala-se da necessidade de um professor consciente, conhecedor, que aproveita e se apoia nos conhecimentos prévios da criança, na bagagem cultural que traz de sua vivência com a família e outros ambientes de convívio. Respeitando as especificidades dos educandos, o professor estimula novos conhecimentos, de forma 1
- 233. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 20 224 a ser mediador do seu aprendizado. Como Monteiro (2002), apud Forest e Weiss (2003), diz: Oeducadordeveconhecereconsiderarassingularidadesdascriançasdediferentes idades, assim como a diversidade de hábitos, costumes, valores, crenças, etnias das crianças com as quais trabalha, respeitando suas diferenças e ampliando suas pautas de socialização. O educador é o mediador entre crianças e os objetos de conhecimento, organizando e propiciando espaços e situações de aprendizagens que articulem os recursos e capacidades afetivas, emocionais, sociais e cognitivas de cada criança aos seus conhecimentos prévios e aos conteúdos referentes aos diferentes campos de conhecimento humano (MONTEIRO, 2002, apud FOREST e WEISS, 2003, p. 48). Desse modo, a partir do que foi aqui discutido, percebe-se que o professor é agente essencial na de Educação Infantil. De posse de uma formação sólida e ciente do que cabe a ele como profissional, o professor deve reconhecer que educar e cuidar são indissociáveis, ambos caminham juntos e essa interligação precisa ser entendida por todo o conjunto de profissionais. 4 | COLETA E ANÁLISE DE DADOS O presente tópico tem por objetivo retratar os dados coletados na visita a campo, através de uma entrevista semiestruturada e um questionário, para com isso analisá- los mediante a teoria descrita no decorrer da pesquisa, com a finalidade de melhor compreensão e maior amplitude do assunto investigado. Foram realizadas visitas a uma escola de Educação Infantil, da rede particular de ensino, localizada na região sul de Belo Horizonte, no bairro Buritis.As entrevistas realizadas, com a prévia autorização da coordenação/direção da instituição, ocorreram entre setembro de 2016 e maio de 2017. A partir disso, foram entrevistadas duas professoras do chamado maternal e duas do segundo período. A ideia era analisar como as professoras, que trabalham com as crianças em diferentes faixas etárias, pensam com relação ao cuidar e educar. Devido a critérios éticos, todos os nomes das professoras foram preservados. As professoras serão aqui identificadas pelas letras “A”, “B”, “C” e “D”. As professoras se apresentaram, falaram um pouco de sua trajetória na Educação Infantil, explicaram um pouco do dia a dia delas na escola e sua atuação. Após essa introdução, começou- se a entrevista. Em outro momento, perguntou-se sobre o conceito que cada uma tem sobre o que é educar. A docente “A” respondeu sucintamente: “pra mim, o principal é dar limites”(2016). Apoiadas em Forest e Weiss (2003), entende-se que para cuidar e educar em um âmbito escolar da Educação Infantil é preciso introduzir uma ação pedagógica de consciência, para que assim se estabeleça um olhar holístico sobre a criança, tendo como base concepções que respeitem a diversidade, o momento e a realidade particulares à infância. O ato de educar e cuidar integrado reflete no processo
- 234. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 20 225 e nas particularidades da criança, assim como visto nas respostas das professoras. A Professora “A” tem uma visão que parece restrita, baseada somente em limites e regras, uma visão limitada, o que confirma a ideia de Pereira (2011) quando diz que, apesar da mudança e da valorização do caráter pedagógico da instituição infantil, o pensamento compensatório e assistencial vem arrastando-se até os dias atuais, mantendo-se ainda bastante presente e forte (PEREIRA, 2011).Ao se restringir a "dar limites", a professora pode acabar deixando de atender e entender essa criança dentro de sua especificidade, das suas capacidades infantis. Seguiu-se então para a pergunta que já trazia a discussão acerca do educar e do cuidar de modo relacionado, algo não feito antes propositalmente. Ou seja, buscou-se a discussão a partir do educar cuidando e do cuidar educando. Embora não tenham deixado essa ligação tão clara antes (com exceção da professora "D", que os compreendia de modo mais relacionado), as professoras disseram o seguinte: Por sua vez, a professora “A” afirma: “sim, totalmente, um tá ligado no outro, todos tão ligados uns nos outros, não só quanto educadora, mas enquanto mãe também.” (Relato da docente “A”, 2016). Ao responder a essa pergunta, a professora “A” disse que os conceitos são totalmente ligados, mas traz um sentido maternal para eles. Percebe-se em sua fala um enraizamento cultural que traz a mulher ligada ao cuidado, como mãe, a que zela e cuida, o que compromete a visão educativa aprofundada. Compreende-se que a ligação da mulher no âmbito do ensinar não é pelo intelecto e sim pela emoção, aconchego, amor (TIRIBA, 2005). Como mostra a autora, a mulher, entendida como inferior, é ligada à emoção, é vista como menor, assim como o ato de cuidar. Este tem valor inferior para o conhecimento, já que o conhecimento é ligado à razão, algo que o homem domina. Assim, a hierarquia de valores relacionada ao gênero, nível em que o cuidado é fortemente assinalado, ganha forças na fala da professora. Perguntadas sobre o que parece mais desafiador, cuidar ou educar e o porquê, obteve-se a seguinte resposta da professora “C”, tem-se que: O mais desafiador é o educar, porque o educar é pra vida, o cuidado também é pra vida, mas é mais momentâneo. (Relato da docente "C", 2016). Nas palavras da professora “C” quando diz que o educar é para vida e o cuidar é momentâneo, a docente destaca o cuidar como segunda dimensão. Ou seja, algo transitório, fortalecendo uma hierarquia e reforçando o binômio. Mostra assim que dissocia o educar e cuidar em seus fazeres docentes. Como dito, os Referenciais Curriculares Nacionais para Educação Infantil (1998) trazem que o cuidar e o educar são funções integradas e que nesse processo deve haver a compreensão que a criança está em contínuo crescimento, deve-se respeitar sua singularidade, ajudando-a a desenvolver-se como ser humano em suas capacidades. Ao destacar a importância do educar/cuidar, ressaltando como são desafiadores,
- 235. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 20 226 a professora "D" reforça ser algo que "me instiga, me faz buscar sempre o melhor, me faz melhorar, me faz correr atrás." (Relato da docente "D",2017). Observa-se que com isso a professora encontra motivação, entusiasmo para aprender, para ensinar, demonstra confiança, segurança, algo que influencia no seu agir pedagógico. Quanto mais ela se sente desafiada, mais ela quer novidades e assim vai se obtendo bons resultados, com objetivos alcançados por ambas as partes (professora e alunos). A partir disso, pode-se pensar a respeito da busca por qualificação, acerca da qual falou Libério (2010), como algo que contribui para amplitude de visão na atuação profissional. Tal formação é também pontuada pela LDBEN (1996), ao defender a formação de programas de educação continuada para os profissionais de educação. Por fim, ao serem questionadas sobre o que achavam da estrutura física da instituição e sua ação sobre o educar e o cuidar, a professora “D” contempla: A escola em que eu trabalho atualmente é uma escola com uma estrutura física média, não é muito grande, mas também não é pequena. Então, hoje é uma instituição que propicia, sim, coisas bastante legais pra que eu consiga fazer um trabalho de qualidade com as minhas crianças. Pra que eu consiga educar e cuidar de uma forma eficaz. (Relato da docente “D”, 2017). Ao analisar as respostas das professoras sobre a estrutura física e sua influência sobre o educar e cuidar percebe-se na fala da docente “D” uma resposta mais clara quanto ao seu entendimento acerca de um ambiente educador. As demais professoras apresentam um ambiente tranquilo, com acessos a higiene mais fácil, e com gestores que não interferem no agir pedagógico. Não deram tanto a dimensão do aspecto físico perguntado, falaram mais do ambiente de trabalho, de como a equipe é solidária, como ela não interfere. Cabe ressaltar enfim que, apesar de não terem respondido diretamente o que foi perguntado, as professoras acabaram tocando em um aspecto interessante do ambiente de trabalho. Conforme apontam Felipe (2001) e Brasil (1998), é importante que haja colaboração e envolvimento de todos, inclusive dos gestores, para acompanhar e assistir os profissionais. A demanda educativa vai além do pedagógico, o que exige a interação com o saber de vários campos e de diferentes atuações. 5 | CONSIDERAÇÕES FINAIS A partir das obras selecionadas, das fontes coletadas e analisadas, em que se destacam as respostas das profissionais durante a entrevista na visita ao campo, buscou-se uma compreensão sobre o universo da Educação Infantil em relação ao educar e cuidar, a qual trouxe grande contribuição para aprendizagem das pesquisadoras. Essa compreensão no universo investigado parece, contudo, ser parcial, já que algumas professoras têm uma percepção que os integra (mesmo que com dúvidas) e outras ainda que reforçam o binômio, o qual segrega e hierarquiza
- 236. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 20 227 cada um desses conceitos e também os sujeitos que a eles se ligam; fato que tem consequências diretas nas ações das profissionais (e que mostra uma problemática de gênero ainda a ser superada). Cabe destacar que, durante a realização da pesquisa, ficou clara a limitação. Acredita-se que estar em sala de aula observando seria muito interessante por permitir ainda outras reflexões. Fala-se, enfim, de uma temática que traz subsídios para uma prática tão desafiadora e ampla que, de alguma forma, pode ajudar na formação das crianças da Educação Infantil. REFERÊNCIAS BERTOLINI, Cândida; OLIVEIRA, Mirian de S. L.. Quando a criança começa a frequentar a creche ou a pré-escola. In: Os afazeres na Educação Infantil. 11. ed. São Paulo : Cortez, 2009. BRASIL. Lei de Diretrizes e Base. Lei nº 9.394/96, de 20 de dezembro de 1996. BRASIL. Referencial curricular para a educação infantil. v. 1, Brasília: MEC/SEF, 1998. FELIPE, Jane. (2001). O desenvolvimento infantil na perspectiva sociointeracionista: Piaget, Vygotsky, Wallon. In: M. Craidy e G. Kaercher (Org.). Educação infantil: pra que te quero? (p. 27-36). Porto Alegre: Artmed. FOREST, N. A.; WEISS, S. L. I. Cuidar e educar: perspectivas para a prática pedagógica na educação infantil. Instituto Catarinense, v. 1, p. 41-50, 2003. GUIMARÃES, Daniela de Oliveira. Relações entre crianças e adultos no berçário de uma creche pública na cidade do Rio de Janeiro: técnicas corporais, responsividade, cuidado. 2008. Tese de Doutorado. Tese de doutorado em Educação. Rio de Janeiro, PUC-RIO. KUHLMANN JR, M. Infância e educação: uma abordagem histórica. Jr-Porto Alegre: Mediação, 2010. LIBÉRIO, Andréa Libério. Educação Infantil: uma reflexão sobre a formação inicial de professores. Revista Diálogos, n. 3, 2º Semestre de 2010, MARCONI, Maria de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Técnicas de Pesquisa: planejamento e execução de pesquisa, amostragens e técnicas de pesquisas, elaboração, análise e interpretação de dados. 5 ed., São Paulo: Atlas, 2002. MINAYO, Maria Cecília de Souza (Org.). Pesquisa social: teoria, método e criatividade. 33. ed. Petrópolis: Vozes, 2013. MONTEIRO, Silas Borges. Epistemologia da prática: o professor reflexivo e a pesquisa colaborativa. In: GHEDIN, Evandro e PIMENTA, Selma. O professor reflexivo no Brasil: gênese e crítica de um conceito. São Paulo. Cortez. 2002. MONTENEGRO, Tereza. O cuidado e a formação moral na Educação Infantil. São Paulo: EDUC, 2001. PEREIRA, Denise Rocha. Educação Infantil, os desafios das creches no equilíbrio entre o educar e o cuidar. In: II Encontro Científico e Simpósio de Educação UNISALESIANO - Educação e Pesquisa: A produção do conhecimento e a formação de pesquisadores, 2011. TIRIBA, L. Educar e cuidar ou, simplesmente, educar?. In: 28ª Reunião da Anped, 2005, Caxambu. v. 1. p. 232-233.
- 237. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 21 228 RECOMENDAÇÕES DE AÇÕES E TECNOLOGIAS PARA A ACESSIBILIDADE DE SURDOS EM CURSO DE PROGRAMAÇÃO A DISTÂNCIA CAPÍTULO 21 doi Márcia Gonçalves de Oliveira Centro de Referência em Formação e EaD (Cefor) Instituto Federal do Espírito Santo (IFES) Vitória – ES Gabriel Silva Nascimento Instituto Federal de São Paulo (IFSP) Registro - SP Mônica Ferreira Silva Lopes Instituto Federal do Espírito Santo (IFES) Vitória – ES Anne Caroline Silva Instituto Federal do Espírito Santo (IFES) Vitória – ES Lucinéia Barbosa da Costa Chagas Instituto Federal do Espírito Santo (IFES) Vitória – ES Jennifer Gonçalves do Amaral Instituto Federal do Espírito Santo (IFES) Vitória – ES RESUMO: A programação de computadores e´ um conhecimento complexo porque para ser aprendido demanda a operacionalizac¸a˜o de va´rias habilidades.Nocasodeestudantessurdos, o desafio é ainda maior pois a aprendizagem é dificultada pelas limitac¸o˜es no dom´ınio da segunda l´ıngua que impactam diretamente nas habilidades de interpretac¸a˜o textual, na compreensa˜o do problema, na sequenciac¸a˜o lo´gica de algoritmos, na escrita e na depurac¸a˜o deprogramas, que sa˜o habilidades fundamentais no processo de programação. Considerando os desafios do ensino de programação para surdos, este trabalho recomenda ac¸o˜es e tecnologias assistivas, propo˜e a extensa˜o de um curso de programação a distaˆncia a partir de v´ıdeos assistivos produzidos dinamicamente no ensino presencial e apresenta relatos de experiências de produc¸a˜o de v´ıdeos assistivos para um curso de programação a distância. PALAVRAS-CHAVE: Acessibilidade de surdos, Educação a Distância, Programação. ABSTRACT: Programming of computers is a complex knowledge because to be learned it demands the operationalization of several skills. In the case of the deaf, programming learning is more difficult in relation to the language domain, whose limitations impact on textual interpretation, problem comprehension, logical sequencing of algorithms, writing and debugging of programs, which are fundamental skills in programming process. Considering the challenges to be overcome to teach programming to the deaf, this work recommends actions and assistive technologies, proposes the extension of a distance programming course from dynamically produced assistive videos in face-to-face teaching and presents reports of experiences of production of assistive videos for
- 238. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 21 229 a distance programming course. KEYWORDS: Accessibility of deaf, Distance education, Programming. 1 | INTRODUÇÃO Pensar a educac¸a˜o de surdos de um modo geral constitui um dos desafios atuais que vem ganhando cada vez mais espac¸o nas discusso˜es que permeiam o campo da Educac¸a˜o e da informa´tica nas u´ltimas de´cadas (BOSCARIOLI et al., 2015; BRANCO et al., 2017). Por muito tempo os surdos foram considerados incapazes de aprender, de integrar-se a` sociedade e de se comunicar. Hoje, pore´m, a presenc¸a de tradutores e inte´rpretes tornou-se obrigato´ria em todas as modalidades de ensino, bem como o ensino da Libras em cursos de Licenciatura e na difusa˜o de informac¸o˜es que possibilitem a entrada de surdos nos espac¸os pu´blicos e educacionais. E´ nesse contexto que situamos o ensino de programação para surdos visando discutir os desafios de ensinar por meio da l´ıngua de sinais e de uma metodologia mais visual as competeˆncias ba´sicas para programar. Entre as dificuldades enfrentadas por alunos ouvintes na aquisic¸a˜o das competências ba´sicas requeridas na aprendizagem da programação, Pimentel et al. (2003) delimitam três eixos: (A) Noções de sintaxe e semântica na compreensa˜o de problemas e enunciados; (B) Concepc¸a˜o e formulac¸a˜o de algoritmos; (C) Lo´gica para a programação. O Eixo A diz respeito estritamente a`s questo˜es da linguagem, bem como o dom´ınio e compreensa˜o da l´ıngua em uso nas proposic¸o˜es e capacidade de interpretac¸a˜o. Ale´m disso, influi diretamente nos eixos B e C, considerando os algoritmos como instruc¸o˜es sequenciadas que sera˜o aplicadas na execuc¸a˜o de comandos e programas que, por sua vez, dependem de relac¸o˜es lo´gicas preestabelecidas. Faz-se necessa´rio, portanto, pensar uma metodologia de ensino que perpasse a questa˜o visual dos surdos estimulando o pensamento lo´gico atrave´s de Libras e respeitando suas estruturas de organização semânticaa e sinta´tica em softwares de programação. A partir da´ı, apresentam-se novos caminhos para promover o ensino da programação de um modo mais intuitivo que independa do esforc¸o cont´ınuo dos surdos em traduzir primeiro as proposic¸o˜es para enta˜o aplica´-las na resolução dos problemas. Buscando esses novos caminhos, este trabalho apresenta um estudo sobre os desafios dos surdos aprenderem programação, discute ações e tecnologias assistivas para a inclusão de surdos no ensino de programação, propo˜e a extensa˜o de um curso de programação a distaˆncia a partir de v´ıdeos assistivos dinamicamente produzidos em aulas presenciais de programação e apresenta relatos de expeiências que resultaram na produção de v´ıdeos assistivos para um curso de programação a
- 239. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 21 230 distância. 2 | AÇÕES E TECNOLOGIAS ASSISTIVAS PARA INCLUSÃO DE SURDOS De acordo com Boscarioli et al. (2015), metodologias adequadas, disponibilizac¸a˜o de recursos, assistência pedago´gica e psicolo´gica devem ser conhecidas e disponibilizadas para que haja uma efetiva inclusão de surdos na computação. Ale´m disso, as ações voltadas para a inclusão de surdos no dom´ınio da programação devem ter grande envolvimento entre inte´rpretes, professores, alunos surdos e alunos ouvintes (BOSCARIOLI et al. 2015). Nesse trabalho colaborativo, deve-se revisar estrate´gias de ensino, promover a seleção e o uso adequado de tecnologias que facilitem a comunicação e a colaboração. Na Tabela 1, destacamos as ac¸o˜es de compreender as limitac¸o˜es dos surdos; de vencer os desafios de comunicação impostos pela linguagem falada, escrita e programada; de capacitar professores e inte´rpretes para o trabalho colaborativo; e de desenvolver tecnologias de apoio ao processo de aprendizagem de programação. 2.1 Tecnologias assistivas para o ensino e aprendizagem de programação Embora poucas soluções tecnolo´gicas tenham sido desenvolvidas para a inclusa˜o de surdos no ensino e aprendizagem de programação, algumas tecnologias teˆm se mostrado promissoras em a´reas da computação como, por exemplo: e-learning, realidade virtual e realidade mista (ABUZINADAH et al., 2017). Referências Ações (SANTOS et al., 2011) Desenvolvimento de um Diciona´rio Bil´ıngue em português e LIBRAS. (BOSCARIOLI et al., 2015) Treinamento de inte´rpretes para lidar com situações que ultrapassam a interpretação de sinais ja´ existentes, atuando na criação de sinais espec´ıficos que enriquecem o portfo´lio de sinais (SOUZA SANTOS et al., 2013a) Concepção, construção, avaliação e validação de uma linguagem de programação para o estudo de lo´gica de programação por deficientes auditivos, apoiado por uma IDE projetada para dar suporte a`s atividades, por interme´dio de um inte´rprete virtual. (SANTOS et al., 2014) Desenvolvimento de um ambiente de edição de textos com foco no aux´ılio a estudantes com deficiência auditiva. Estudam-se tambe´m formas de integrar a ferramenta com ambientes de redes sociais como o Twitter. (GONC¸ALVES et al., 2015) Produção de videoaulas de programação em Java Acess´ıveis no contexto de um projeto de capacitação profissional para pessoas surdas em treˆs etapas: elaborar conteu´do dida´tico para gravação, produzir videoaula e gerar versão de produção.
- 240. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 21 231 (ABUZINADAH et al., 2017) Avaliação da capacidade dos estudantes surdos de estudar e compreender um assunto altamente te´cnico como a programação de computadores e a ação de desafiar a percepção generalizada de que o surdo não pode aprender assuntos complexos. Tabela 1. Ac¸o˜es para inclusa˜o de surdos na disciplina de programac¸a˜o Para a aprendizagem de programação, a proposta de Gallert et al. (2010) e´ desenvolver um sistema que auxilie os surdos na aprendizagem de algoritmos e que possibilite-lhes desenvolver programas de computador que utilizem uma linguagem pro´pria com uso da língua de sinais. Na Tabela 2, apresentamos outras tecnologias que podem ser utilizadas no processo de ensino e de aprendizagem de programação para a inclusa˜o de estudantes surdos. Ale´m dessas tecnologias, muitos aplicativos esta˜o dispon´ıveis na web e sa˜o acessíveis a surdos como, por exemplo, o Whattsapp para surdos, o HandTalk, o ProDeaf e o Youtube. Essas ferramentas podem ser utilizadas no processo de ensino e deaprendizagem de programação para facilitar a comunicac¸a˜o e o trabalho colaborativo entre professores, estudantes surdos e estudantes ouvintes. Referências Tecnologias Descrição (OLIVEIRA, 2012) Prodeaf Plataforma web que disponibiliza um tradutor, um diciona´rio Portugueˆs-Libras, ale´m de uma exclusiva ferramenta para criar sinais em Libras. (ROCHA et al., 2013) AssistLibras Assistente gra´fico na construc¸a˜o de sinais 3D em Libras (SOUZA SANTOS et al., 2013b) Linguagem Proglib e IDE Hands Construção de uma linguagem de programação baseada em Libras para o ensino de lo´gica de programação por deficientes auditivos. (SILVA SOARES et al., 2014) Visual JO Objeto de aprendizagem acessível, que tem por objetivo o ensino de linguagem de programação Java a pessoas com deficieˆncia f´ısica e auditiva atrave´s do est´ımulo visual. (BORGES et al., 2015) Glossa´rio interativo (texto,fotos e vídeos) Glossa´rio interativo de sinais e termos te´cnicos utilizando modelagem 3D (animação) (PEREIRA & SILVA, 2016) Teclibras Proto´tipo web livre e gratuito, com tradução dos termos te´cnicos de informa´tica em Libras (SANTOS SOBRINHA et al., 2016) Plataforma para auxílio ao ensino de programação e robo´tica pedago´gica Plataforma permite a construção de programas em Python por meio da composic¸a˜o de elementos visuais.
- 241. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 21 232 (BRANCO et al., 2017) JLOAD (Java learning Object to Assist the Deaf) Objeto de aprendizado criado com base nas teorias do aprendizado ativo e Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP). Ele possui um IDE simples e ferramentas de colaborac¸a˜o para aassitência e um acompanhamento das atividades pra´ticas de forma remota e ass´ıncrona. Essa colaboração envolve alunos, tutores e inte´rpretes de Libras. (BRANCO et al, 2017) JAD (Java Accessible Debugguer) Um depurador visual acessível (BRANCO et al., 2017) Fa´brica de Sinais Ferramenta web colaborativa para que alunos possam sugerir sinais que ainda não têm tradução para Libras e posterior votação e discussão das mesmas. (CALÉ et. al., 2017) LIBRASTI Aplicativo mo´vel que exibe os termos sobre Tecnologia da Informac¸a˜o representados em pequenos v´ıdeos em Libras. Tabela 2. Tecnologias Assistivas para o Ensino de Programac¸a˜o 3 | RECOMENDAÇÕES PARA O ENSINO DE PROGRAMAÇÃO COM INCLUSÃO DE SURDOS De acordo com Boscarioli et al. (2015), para ter um ensino de fato inclusivo de estudantes surdos, um professor deve conhecer a surdez e como se da´ o processo de aquisição de conhecimento dos surdos, utilizar metodologias adequadas com ênfase em aspectos visuais e manter cont´ınua comunicac¸a˜o com o inte´rprete e com o aluno surdo para avaliar ambiguidades e erros no processo de interpretação. No caso de disciplinas baseadas em tecnologias, como e´ o caso da programação, os professores, conforme Krutz et al. (2015), devem trabalhar mais de perto com os inte´rpretes para apoiar o desenvolvimento de terminologias de dom´ınios que contenham jargo˜es espec´ıficos. Outras tecnologias que podem ser utilizadas sa˜o o Whattsapp, o Google docs e o Youtube, que sa˜o tecnologias que ja´ possuem recursos acess´ıveis e sa˜o utilizados frequentemente pela comunidade surda. Ale´m dessas tecnologias, os softwares que permitem comunicac¸a˜o em v´ıdeo e videoconferência como o Oovoo sa˜o os mais comuns e, atualmente, os que surdos esta˜o usando com mais frequeˆncia para comunicac¸a˜o em v´ıdeo sa˜o: Facebook, Skype, e Imo. 4 | EXTENSÃO DE CURSO DE PROGRAMAÇÃO A DISTÂNCIA A PARTIR DE V´ÍDEOS ASSISTIVOS Ale´m dessas tecnologias, os softwares que permitem comunicac¸a˜o em v´ıdeo
- 242. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 21 233 e videoconfereˆncia como Oovoo sa˜o os mais comuns e atualmente os que surdos esta˜o usando com mais frequeˆncia para comunicac¸a˜o em v´ıdeo sa˜o: Facebook, Skype, e Imo. Apo´s a realizac¸a˜o do estudo sobre as dificuldades de aprendizagem de surdos, sobre ac¸o˜es e tecnologias que teˆm sido aplicadas no processo de ensino e de aprendizagem de programação com a inclusa˜o de surdos, propomos a extensa˜o de um curso de programação a distância a partir de v´ıdeos assistivos do Youtube produzidos em aulas presenciais de programação. Para produzir esses vídeos assistivos, formamos uma equipe composta por duas professoras de programação, uma professora de matema´tica, dois inte´rpretes de libras e estudantes de iniciac¸a˜o cient´ıfica atuando como tutores. Essa equipe esta´ desenvolvendo o curso, iniciando com as recomendac¸o˜es de (GONC¸ALVES et al. 2015), definidas na sequeˆncia a seguir: 1- Criar um glossa´rio te´cnico com os termos da linguagem a ser ensinada 2- Realizar aulas presenciais para levantar características específicas e necessidades inerentes ao ensino de surdos e para gerar videos os de programação. 3- Planejar e discutir com o inte´rprete a linguagem dos conteu´dos da aula. 4- Familiarizar-se com a cultura surda atrave´s de livros, filmes, oficinas e palestras. 5- Como os surdos olham para o inte´rprete, recomenda-se, no v´ıdeo, o professor aparecer na abertura e no fechamento, mas que no desenrolar da aula aparec¸am so´ os slides e o inte´rprete. 6- Criar legendas em portugueˆs para facilitar a compreensa˜o daqueles que ficaram surdos e teˆm dificuldades com Libras. 7- Criar uma playlist de v´ıdeos com partes da aula presencial para a aula a distaˆncia. 8- Registrar as lic¸o˜es aprendidas Os vídeos assistivos foram planejados e adaptados conforme necessidades dos estudantes surdos. Esses vídeos podera˜o ser utilizados junto com o glossa´rio te´cnico e as lic¸o˜es aprendidas como materiais de um curso a distaˆncia de programação com inclusa˜o de estudantes surdos. Dessa forma, a partir dos videos assistivos gerados no ensino presencial, estendemos dinamicamente um curso de programação a distaˆncia acess´ıvel para surdos. A vantagem de produzir v´ıdeos assistivos e´ que estes podera˜o ser produzidos de uma so´ vez na modalidade presencial e reproduzidos va´rias vezes na modalidade a distaˆncia.
- 243. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 21 234 5 | RELATOS DE EXPERIÊNCIAS Em uma experieˆncia com um aluno de Cieˆncia da Computação surdo, foram observadas as seguintes dificuldades: compreender os enunciados dos problemas e convertê-los para a linguagem algor´ıtmica, mesmo com o aux´ılio de inte´rprete (BOSCARIOLI et al. 2015). Ale´m disso, conforme Boscarioli et al. (2015), ha´ uma impossibilidade de aferir se um determinado conceito foi corretamente assimilado pelo aluno quando o inte´rprete na˜o tem formac¸a˜o na a´rea e o professor na˜o conhece Libras. Considerando essas dificuldades, iniciamos a proposta metodolo´gica deste trabalho de produzir v´ıdeos assistivos para um curso de programação a distaˆncia a partir de aulas presenciais de programação para estudantes surdos. Neste trabalho, produzimos v´ıdeos a partir de experieˆncias de ensino de programação, dentre as quais destacamos duas: um experimental para avaliac¸a˜o diagno´stica de uma aula de programação para surdos e outro aplicando parte da proposta metodolo´gica de produc¸a˜o de v´ıdeo assistivo. Na produc¸a˜o do primeiro v´ıdeo na Experieˆncia 1, participaram uma professora de programação que na˜o sabe Libras, um inte´rprete de Libras com conhecimento ba´sico de programação, duas estudantes surdas e duas estudantes ouvintes de iniciação cient´ıfica que atuaram como observadoras. Os conteu´dos da aula eram de introduc¸a˜o a` programação e de apresentac¸a˜o dos principais conceitos. Nessa experieˆncia, a aula foi planejada pela professora como outras aulas de programação, mas com interpretac¸a˜o de Libras e aplicando uma abordagem mais pragma´tica considerando as limitac¸o˜es de dom´ınio da linguagem das estudantes surdas. Nessa primeira experieˆncia, na˜o houve um planejamento conjunto com o inte´rprete de Libras e na˜o foi criado um diciona´rio com os termos te´cnicos. A aula tinha como objetivo apenas identificar necessidades de aprendizagem das alunas surdas e reorientar o ensino de acordo. Ja´ na produc¸a˜o do v´ıdeo da Experieˆncia 2, participaram uma professora de Lo´gica Matema´tica com conhecimentos ba´sicos de Libras, a professora de programação, uma estudante surda, o inte´rprete da Experieˆncia 1, um inte´rprete de Libras sem conhecimentos pre´vios de lo´gica e de programação e um professor de Libras, que e´ surdo. 5.1 Experieˆncia 1 Iniciada a aula e a sua gravac¸a˜o audiovisual, antes de entrar nos conceitos de programação,aprofessoradesenvolveuinteragindocomasalunassurdasumprograma em Linguagem Python por meio da ferramenta Python Tutor. A decisa˜o de iniciar a aula com um exemplo pra´tico e na˜o com os conceitos essenciais de programação como em outras aulas foi para que os conceitos fossem aprendidos de forma pra´tica, uma vez que as dificuldades de dom´ınio da l´ıngua poderiam interferir na compreensa˜o de
- 244. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 21 235 conceitos mais abstratos. O exemplo consistiu de um programa para somar dois nu´meros e exibir o resultado. Os objetivos eram apresentar uma aplicac¸a˜o da programação e reforc¸ar a compreensão da sequeˆncia lo´gica para resolver o problema. Ao explicar o programa em Python, foram introduzidos os conceitos de varia´veis, atribuic¸a˜o (=), que significa armazenamento de um valor em memo´ria, operac¸a˜o aritme´tica de soma (+) e comandos de entrada (input(mensagem)), de sa´ıda (print) e de conversa˜o de nu´meros escritos em texto para inteiros. Para explicar esses conceitos de forma pra´tica, utilizamos o Python Tutor 1 por ser um sistema em nuvem mais simples, visual e dida´tico para interpretac¸a˜o e execuc¸a˜o de programas escritos em Linguagem Python. O co´digo e o funcionamento desse programa no Python Tutor sa˜o apresentados na Figura 1. Figura 1. Exemplo de Programa Python explicado no Python Tutor A principal dificuldade das alunas surdas foi a compreensa˜o da operac¸a˜o de soma com o operador ”+”. Elas na˜o compreenderam o sinal do inte´rprete. Em seguida, a professora desenhou no painel da aula o sinal de soma e elas compreenderam a operac¸a˜o apo´s ajudarem-se mutuamente por meio de uma ”conversa em Libras”. No entanto, o programa so´ passou a ter significado real para elas quando o problema foi contextualizado a` operac¸a˜o de soma de um caixa de supermercados. Embora o exemplo contemplasse va´rios conceitos de programação, nessa aula foram trabalhadas principalmentes as habilidades de compreensa˜o e de sequeˆncia lo´gica, reforc¸ando os conceitos de entrada, processamento e sa´ıda e a ideia de algoritmo, sempre fazendo aluso˜es ao mundo real. A partir da´ı, as estudantes foram desafiadas a escrever sequeˆncias lo´gicas de seu cotidiano. Para a professora de programação, as principais dificuldades dessa primeira experieˆncia foram dar uma aula sem que as alunas olhassem para ela, falar de forma bem pausada, expressar-se de forma mais simples e visual e ter uma sincronia de sua fala com a traduc¸a˜o do inte´rprete de Libras. O v´ıdeo assistivo experimental dessa experieˆncia de ensino de programação com 1 Dispon´ıvel em: http://www.pythontutor.com/
- 245. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 21 236 interpretac¸a˜o em LIBRAS foi disponibilizado no Youtube 2 . 5.2 Experieˆncia 2 Apo´s ana´lise do v´ıdeo resultante da Experieˆncia1, verificamos qua˜o importante e´ a interac¸a˜o professor-inte´rprete no planejamento de aulas de programação. Dessa forma, para produzir os demais vídeos assistivos, identificamos as principais falhas na Experiência 1, realizamos novas oficinas presenciais de programação e produzimos outros v´ıdeos assistivos para futuramente evolui-los para video-aulas de programação, conforme algumas das recomendac¸o˜es de Gonc¸alves et al. (2015) na Sec¸a˜o 3. Na Experieˆncia 2, destacamos duas oficinas realizadas que contribu´ıram para uma nova dinaˆmica da oficina final do curso e do u´ltimo v´ıdeo assistivo. Essa oficina, que foi a s´ıntese do curso, envolveu as principais habilidades de programação: compreensa˜o do problema, elaborac¸a˜o de sequeˆncias lo´gicas, construc¸a˜o de expresso˜es lo´gicas e organizac¸a˜o de co´digo em estruturas condicionais e de repetic¸a˜o. A aula de expresso˜es lo´gicas aconteceu em duas etapas: compreendendo a lo´gica matema´tica e construindo sentenc¸as lo´gicas. A primeira etapa foi planejada junto com um inte´rprete de Libras que na˜o tinha conhecimentos pre´vios de lo´gica e nem de programação e com as professoras de lo´gica matema´tica e de programação. Já a segunda etapa foi realizada da mesma forma que a Experieˆncia 1, mas destacando que o inte´rprete desenvolveu um conhecimento pre´vio participando da primeira etapa. Antes da aula da primeira etapa, a professora de programação destacou as dificuldades que as alunas surdas tiveram na compreensa˜o do sinal de soma e, por isso, poderiam ter dificuldades maiores na compreensa˜o dos operadores lo´gicos e relacionais. Houve tambe´m a orientac¸a˜o de evitar proposic¸o˜es muito abstratas ou com excesso de termos matema´ticos. Ja´ o inte´rprete teve uma atenc¸a˜o maior na traduc¸a˜o/explicac¸a˜o dos sinais lo´gicos e relacionais em Libras. Seguindo a Recomendac¸a˜o 1 de Gonc¸alves et al. (2015), na primeira etapa, os termos te´cnicos da aula foram identificados e apresentados ao inte´rprete de Libras para estudo pre´vio dos sinais de Libras. A Experieˆncia 1 consolidou a Recomendac¸a˜o 2 por levantar caracter´ısticas e necessidades inerentes ao ensino de surdos para a realizac¸a˜o das demais oficinas. Na primeira etapa, o planejamento da aula e as discusso˜es pre´vias dos conteu´dos entre as professoras e o inte´rprete de Libras contribu´ıram para a consolidac¸a˜o da Recomendac¸a˜o 3 e a Recomendac¸a˜o 4 foi bem aplicada pelo inte´rprete, uma vez que este era pesquisador da cultura surda. O posicionamento da professora de lo´gica e do inte´rprete, a forma de olhar e a comunicac¸a˜o de ambos com a estudante surda da experieˆncia contribu´ıram para uma melhor construc¸a˜o de cena´rio do v´ıdeo assistivo, conforme a Recomendac¸a˜o 5. 2 V´ıdeo da primeira oficina de programac¸a˜o para surdos. Disponível em: https://www.youtube.com/ watch?v=QlvxwUWT5MM&feature=youtu.be
- 246. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 21 237 Ale´m disso, a preparac¸a˜o de ambos, o conhecimento da cultura surda pelo inte´rprete e a participac¸a˜o da professora e do inte´rprete da Experieˆncia 1 como observadores fizeram toda a diferenc¸a no desenvolvimento dessa segunda etapa. Ao final da oficina da primeira etapa, a aluna surda conseguiu completar com rapidez uma tabela-verdade de um exerc´ıcio de lo´gica envolvendo os principais operadores lo´gicos. Para a professora de programação, essa aula pre´via de lo´gica matema´tica e o vídeo assistivo dela resultante contribuíram muito para a oficina da segunda etapa, que foi a oficina de expresso˜es lo´gicas e de estruturas de controle condicional if. Na segunda etapa, a estudante surda mostrou-se bastante familiarizada com as sentenc¸as lo´gicas (ou proposic¸o˜es, conforme aprendeu na aula de lo´gica) e, sozinha, antes que a professora explicasse uma proposic¸a˜o com o operador lo´gico and, a aluna inferiu a necessidade deste em uma expressa˜o lo´gica abstrata para avaliar se uma pessoa paga passagem de oˆnibus, isto e´, se ela tem idade entre 50 e 60 anos. Vale destacar que, para construir essa simples expressa˜o, a aluna precisou utilizar operadores lo´gicos e relacionais, o que ja´ na˜o foi ta˜o dif´ıcil compreendeˆ-los quanto foi na compreensa˜o do sinal de soma na Experieˆncia 1. Na u´ltima oficina, foi realizada, atrave´s de um exerc´ıcio de s´ıntese, uma revisa˜o dos principais conteu´dos de programação relacionados a`s habilidades de compreensa˜o, sequenciac¸a˜o e construc¸a˜o de expresso˜es lo´gicas. Tambe´m foram ensinados os conteu´dos de estruturas de controle de repetição. O exerc´ıcio-s´ıntese foi um programa em Python da urna eleitoral brasileira. As duas etapas da Experieˆncia 2 contribu´ıram para um melhoramento na produc¸a˜o dos v´ıdeos assistivos, uma vez que as lic¸o˜es aprendidas e as recomendac¸o˜es seguidas pela professora de programação e pelo inte´rprete da Experieˆncia 1 resultaram na realizac¸a˜o de uma aula final mais interativa e em uma comunicac¸a˜o mais informal e sincronizada entre a professora de programação, o inte´rprete e a estudante surda. O vídeo assistivo resultante dessa oficina foi disponibilizado no Youtube3 5.3 Lic¸o˜es Aprendidas Registrando as lic¸o˜es aprendidas que podem melhorar a aprendizagem de programação de surdos, conforme a Recomendac¸a˜o 8, destacamos as seguintes necessidades: planejamento colaborativo da aula com o inte´rprete de Libras; professores devem compreender o ba´sico de Libras e inte´rpretes, os termos te´cnicos da aula que traduzira˜o para Libras; o desenvolvimento de explicac¸o˜es mais visuais e contextualizadas com o mundo real dos surdos; linguagem simples; sincronia de comunicac¸a˜o entre professor, inte´rprete e es- tudantes surdos; conhecimento da 3 V´ıdeo da u´ltima oficina de programac¸a˜o para surdos.Disponível em: https://www.youtube.com/ watch?v=CRPIEeC8Jio
- 247. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 21 238 cultura surda; mais simplicidade e menos abstrac¸o˜es no desenvolvimento de conteu´dos considerando as limitac¸o˜es de dom´ınio da linguagem pelos surdos; e reorientac¸a˜o das pra´ticas pedago´gicas para atender necessidades de aprendizagem de estudantes surdos e ouvintes. Considerando essas necessidades, professores e gestores devem ser chamados a` reflexa˜o sobre o que de fato esta˜o fazendo em suas pra´ticas educativas para promover a inclusa˜o. A criac¸a˜o de legendas em portugueˆs e da playlist com os v´ıdeos assistivos produzidos em cada aula para inserc¸a˜o no curso de programação a distaˆncia, conforme as recomendac¸o˜es 6 e 7, sera˜o os trabalhos futuros. 6 | CONSIDERAÇÕES FINAIS Este trabalho apresentou ac¸o˜es e tecnologias assistivas para o ensino de programação com a inclusa˜o de estudantes surdos. A partir desse estudo, conhecemos os principais desafios e apresentamos recomendac¸o˜es de ac¸o˜es e tecnologias para promover um ensino inclusivo e favorecer a aprendizagem de programação de estudantes surdos. Ale´m disso, propomos um curso de programação estendido da modalidade presencial para a modalidade a distaˆncia atrave´s da gerac¸a˜o de v´ıdeos assistivos. A produc¸a˜o de cada v´ıdeo assistivo resultou de uma aula de oficina do ensino presencial atrave´s de um trabalho colaborativo entre professores de programação e lógica, inte´rpretes de Libras e estudantes surdos. Apo´s muitos estudos, atualmente, essa metodologia esta´ sendo aplicada no Cefor e apresentamos neste trabalho os primeiros relatos de experieˆncias. Como trabalhos futuros, propomos o relato de todo o processo e apresentac¸a˜o de resultados dessas experieˆncias, que ainda sa˜o pioneiras no dom´ınio da aprendizagem de programação. As principais contribuic¸o˜es deste trabalho para a Informa´tica na Educac¸a˜o sa˜o recomendar ac¸o˜es e tecnologias que favorec¸am a acessibilidade de surdos no processo de ensino e de aprendizagem de programação e ampliar as possibilidades de formac¸a˜o em programação para pessoas com deficieˆncia auditiva atrave´s de v´ıdeos assistivos produzidos dinamicamente a partir de aulas de programação presenciais para as aulas a distância. REFERÊNCIAS ABUZINADAH, Nihal Esam; MALIBARI, Areej Abbas; KRAUSE, Paul. Towards Empowering Hearing Impaired Students' Skills in Computing and Technology. Computer, v. 8, n. 1, 2017. BORGES, Lucas C. et al. Glossário interativo de Libras para a área de Computação. Anais do Computer on the Beach, p. 550-551, 2015.
- 248. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 21 239 BOSCARIOLI, Clodis et al. Aluno surdo na ciência da computação: Discutindo os desafios da inclusão. In: UNIOESTE. 23º WEI-Workshop sobre Educação em Computação, CSBC, 2015. BRANCO, Alexandre Castelo et al. Desafios e Experiências no Ensino de Programação Java através de Educação a Distância para Pessoas com Deficiência. In: Anais do Workshop de Informática na Escola. 2017. p. 1109. CALÉ, Felipe Rodrigues et al. Librasti: Uma Aplicação Móvel Para Levar O Vocabulário Da Tecnologia Da Informação Ao Público Surdo. XXII ENAPET–Brasília, 6pp, 2017. GALLERT, Cleia Scholles; GUERRA, Elenir; POVALA, Guilherme. Sistema de ensino de algoritmos para surdos. Anais do Computer on the Beach, p. 9-10, 2010. GONÇALVES, Enyo et al. Produção de Videoaulas de Programação em Java Acessíveis no Contexto de um Projeto de Capacitação Profissional para Pessoas Surdas. In: Brazilian Symposium on Computers in Education (Simpósio Brasileiro de Informática na Educação-SBIE). 2015. p. 877. KRUTZ, Daniel E. et al. Enhancing the educational experience for deaf and hard of hearing students in software engineering. In: Frontiers in Education Conference (FIE), 2015 IEEE. IEEE, 2015. p. 1-9. OLIVEIRA, J. P. S. ProDeaf: Uma ferramenta colaborativa para a produção de conhecimento em Libras.In: INES, 2012. PEREIRA, Débora Fernandes; DA SILVA, Elvis Nascimento. TECLIBRAS: um protótipo Web de apresentação de termos de informática em Libras. In: Revista Fórum, n.33. 2016. PIMENTEL, Edson P. et al. Avaliação contínua da aprendizagem, das competências e habilidades em programação de computadores. In: Anais do Workshop de Informática na Escola. 2003. p. 533- 544. ROCHA, Denys Fellipe Souza; BITTENCOURT, Ig Ibert; BRITO, Patrick. AssistLibras: Um Assistente Gráfico para Construção de Sinais 3D da LIBRAS. In: Anais dos Workshops do Congresso Brasileiro de Informática na Educação. 2013. SANTOS, Ronnie ES et al. Informática na educação especial: uma discussão no contexto da educação de surdos. In: Brazilian Symposium on Computers in Education (Simpósio Brasileiro de Informática na Educação-SBIE). 2014. p. 622. SANTOS, Ronnie ES et al. Proglib: Uma linguagem de programaçao baseada na escrita de Libras. In: Anais do Workshop de Informática na Escola. 2011. p. 1533-1542. SANTOS SOBRINHA, Vitória Heliane Pereira et al. Plataforma para Auxílio ao Ensino de Programação e Robótica Pedagógica. Revista Principia, v. 1, n. 31, p. 104-112, 2016. SILVA SOARES, Maikon Igor et al. VISUAL JO2: Um Objeto de Aprendizagem para o Ensino de Programação Java a Deficientes Físicos e Auditivos através do Estímulo Visual–Um Estudo de Caso. RENOTE, v. 12, n. 2. SOUZA SANTOS, Ronnie Edson et al. Trabalhando lógica de programação com portadores de deficiência auditiva: a experiência com a Linguagem Proglib e a IDE Hands. Revista Brasileira de Computação Aplicada, v. 6, n. 1, p. 32-44, 2014.
- 249. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 22 240 RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL: CONCEITOS E DIRETRIZES CAPÍTULO 22 doi Bianca Santana Fonseca Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF), Curso de Especialização em Gestão Pública. Petrolina-PE Ítalo Anderson dos Santos Araújo Instituto Federal do Maranhão (IFMA). Presidente Dutra-MA. Liliane Caraciolo Ferreira Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF), Programa de Pós-Graduação em Dinâmicas de Desenvolvimento do Semiárido (PPGDiDeS). Petrolina-PE Alvany Maria dos Santos Santiago Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF), Programa de Pós-Graduação em Dinâmicas de Desenvolvimento do Semiárido (PPGDiDeS. Petrolina-PE RESUMO: As organizações têm buscado estabelecer um diferencial de mercado frente à concorrência, uma vez que, seus consumidores exigem cada vez mais produtos e marcas com melhor padrão de qualidade. Assim, a gestão baseada na Responsabilidade Social pode colaborar para aumentar a vantagem competitiva e, desta forma, aumentar o respeito e preferência dos stakeholders. O presente trabalho destaca a importância da Responsabilidade Social Empresarial (RSE) como diferencial competitivo, apresentas seus conceitos, descreve diretrizes e apresenta as principais normas e certificações voltadas a Responsabilidade Social. A abordagem metodológicaadotadafoiapesquisabibliográfica realizada em base de dados eletrônicas. A Responsabilidade Social vem se transformando em uma ferramenta de competitividade para as organizações, impactando no desenvolvimento sustentável e podendo agregar valor as empresas e seus stakeholders. PALAVRAS-CHAVE: Responsabilidade Social; Sustentabilidade; Desenvolvimento Sustentável; Diferencial competitivo. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY: CONCEPTS AND GUIDELINES ABSTRACT: Organizations have sought to establish a market differential to face competition, as their consumers increasingly demand products and brands with better quality standard. Thus, actions of Social Responsibility can collaborate to increase the competitive advantage and, in this way, increase the respect and stakeholders’ preference. This paper highlights the importance of Corporate Social Responsibility (CSR), describe concepts, displays its guidelines and presents their main standards and guidelines. The methodological approach was the bibliographic study carried out in an electronic database. Social Responsibility has become a tool for competitiveness
- 250. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 22 241 organization competitiveness, impacting sustainable development and adding value to companies and their stakeholders. KEYWORDS:CorporateSocialResponsibility;Sustainability;SustainableDevelopment; Competitive differential. 1 | INTRODUÇÃO Partindo da premissa que os mercados estão cada vez mais exigentes bem como seus consumidores, devido um grande avanço da globalização, é importante salientar a prática da responsabilidade social, já que conduzir negócios de maneira ética e responsável vai muito além de financiar projetos sociais, ou de apenas cumprir a legislação vigente e atender a demanda por certas ações. Neste sentido, Ashley (2002) afirma que a organização socialmente responsável [...] assume obrigações de caráter moral, além das estabelecidas em lei, mas que possam contribuir para o desenvolvimento sustentável dos povos. Sobre o mesmo sentido, Ferrel, Fraedrich e Ferrel (2000), afirmam que a empresa tem a obrigação de restituir a sociedade pelos benefícios dela recebidos, buscando minimizar os problemas sociais, econômicos e ambientais. Em um mercado onde os produtos e marcas são semelhantes em qualidade, volume e características, a empresa que mostra um diferencial em seu trabalho institucional pode se destacar. Seguindo assim as tendências de mercado. Ser responsável socialmente se tornou um diferencial competitivo de mercado. Segundo Silva (2000) quanto mais uma empresa for responsável socialmente, maiores serão suas chances de manter e ampliar sua base de clientes. Assim, propõe-se um estudo acadêmico motivado pela investigação da seguinte questão: Qual a importância das práticas de Responsabilidade Social nas organizações? O objetivo geral deste trabalho consiste em destacar a importância da implantação da Responsabilidade Social, como diferencial competitivo. Os objetivos específicos são: • Apresentar o conceito de Responsabilidade Social Empresarial (RSE); • Descrever as Diretrizes da Responsabilidade Social Empresarial; • Relacionar as principais normas e certificações voltadas à Responsabilida- de Social; Trata-se de um estudo bibliográfico cuja trajetória metodológica a ser percorrida se apoiou nas leituras exploratórias e seletivas. Segundo Gil (2010) a pesquisa bibliográfica é elaborada com base em material já publicado. Tradicionalmente, esta modalidade de pesquisa inclui material impresso como livros, revistas, jornais, teses, dissertações e anais de eventos científicos. Michaliszyn e Tomasini (2008), afirmam ainda que a pesquisa bibliográfica e documental é desenvolvida a partir de referências
- 251. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 22 242 teóricas que apareçam em livros, artigos, documentos, entre outros. Este artigo está organizado em seis partes para a melhor compreensão da pesquisa realizada. Seguindo a esta introdução, apresenta-se os conceitos centrais de RSE, suas diretrizes, certificações e o seu papel como fator competitivo e propulsor do desenvolvimento sustentável que constituem o referencial teórico Na sequência são explanados a trajetória metodológica e os resultados. Ultima-se com as considerações finais e as referências que serviram como aporte teórico e metodológico para o desenvolvimento deste estudo. 2 | REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 2.1 Responsabilidade Social Empresarial (RSE) Não se pode falar em responsabilidade social sem citar o aspecto da ética empresarial e adota-se a definição de Reale (1999) como a ciência normativa dos comportamentos humanos. Desta forma, a conduta ética de cada organização influencia diretamente no seu modelo de gestão, através dos princípios e padrões morais. Vale resgatar o pensamento de Weiss (1994) da ética empresarial como a arte e a disciplina de aplicar princípios éticos para examinar e solucionar dilemas morais complexos. A Responsabilidade Social é um tema amplo e multifacetado. Na tentativa de sintetizá-lo, cita-se o aspecto que trata da voluntariedade das empresas em assumir um compromisso de promover o bem-estar social, tanto com aqueles que compõe a estrutura interna, como com os atores que interagem externamente. Desta forma, apresenta-se na sequência a abordagem de alguns autores. Inicialmente, resgata-se a abordagem de Donaire (1999) que ressalta o sentido de obrigação com a sociedade presente nas ações de responsabilidade social, que inclui proteção ambiental, projetos filantrópicos e educacionais, desenvolvimento da comunidade e outras ações. Melo Neto e Froes (2001) acrescentam que Responsabilidade social vai além do aspecto da cidadania empresarial e enfatizam o processo dinâmico que requer vigilância permanente, inovação e sustentabilidade. Ademais, aportam "(....) que existe uma associação direta entre o exercício da responsabilidade social e o exercício da cidadania empresarial." (MELO NETO e FROES, 2001, p. 26) Na busca de apresentar a multiplicidade de conceitos, outro autor, Ashley (2002), afirma que responsabilidade social é: O compromisso que uma organização deve ter para com a sociedade, expresso por meio de atos e atitudes que a afetem positivamente, de modo amplo, a alguma comunidade, de modo específico, agindo proativamente e coerentemente no que tange ao seu papel específico na sociedade e à sua prestação de contas para com ela. (ASHLEY, 2002, p. 98) Nesse compromisso exercido pela empresa, constata-se a necessidade do agir
- 252. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 22 243 além da preocupação com os acionistas, mas também com os anseios da sociedade. Esse aspecto é ressaltado na abordagem de Chiavenato (2002) que assevera que a responsabilidade está voltada para a atitude e comportamento da organização em face das exigências sociais, da sociedade em consequência das suas atividades. Ultimando, Mueller (2003) reitera que o conceito de Responsabilidade Social: Compreende uma diversidade de fundamentações, de ideias e ideologias incluídas no espectro do exercício da Responsabilidade Social Corporativa. Independentemente dos objetivos, pois é um processo que não se esgota no tempo. (MUELLER, 2003, p. 458) Considerando os autores supramencionados, constata-se nesta multiplicidade de conceitos a ligação da Responsabilidade Social com os aspectos éticos, a cidadania corporativa e a necessidade de atender os interesses da sociedade em geral não apenas dos acionistas. Segundo Soares (2006, p. 34) a teoria da Responsabilidade Social surgiu mais centrada no indivíduo e evoluiu até o que hoje é denominado como Responsabilidade Social Empresarial. Nestes termos, de acordo com o conceito contemporâneo, Responsabilidade Social Empresarial, ou simplesmente RSE, apresenta-se necessariamente como ações das empresas que visam o beneficiamento de uma sociedade. São atividades sociais importantes para uma comunidade, para evitar ou diminuir os impactos negativos gerados nas comunidades e em seu meio ambiente. Desta forma mantém a preservação do patrimônio ambiental e cultural, enfatizando normas e programas que visam a educação, economia, saúde e naturezas e outras atividades. Nesta linha, Melo Neto & Froes apud Soares (2006, p. 40) asseveram: Para que se possa afirmar que uma empresa é socialmente responsável, é necessário que ela invista no bem-estar de seus colaboradores e dependentes, promova um ambiente de trabalho adequado, uma comunicação institucional transparente, persiga uma sinergia com seus fornecedores e demais parceiros e garanta a satisfação de seus clientes, sem deixar de proporcionar um retorno financeiro condizente com a expectativa de seus acionistas (MELO NETO & FRÓES apud SOARES, 2006, p. 40). Segundo o Instituto Ethos (2003) a Responsabilidade Social: (...) diz respeito à maneira como as empresas realizam seus negócios: os critérios que utilizam para a tomada de decisões, os valores que definem suas prioridades e os relacionamentos com todos os públicos com os quais interagem (INSTITUTO ETHOS DE EMPRESAS E RESPONSABILIDADE SOCIAL, 2003, p.73). Para Tenório (2004, p. 13) a Responsabilidade Social Empresarial, apresenta-se como um tema recente, polêmico e dinâmico envolvendo desde a geração de lucros pelos empresários, em visão bastante simplificada, até a implementação de ações sociais.
- 253. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 22 244 É fator primordial que a ética e a transparência na gestão de negócios estejam relacionadas nas conjecturas das decisões do dia-a-dia, visto que, podem causar impactos na sociedade, no meio ambiente e no futuro dos próprios negócios (ETHOS, 2003). No entanto, nota se que há uma preocupação diante das RSE. Com isso observar que a ética e a sustentabilidade empresarial estão presentes na prestação de serviços e valores sociais, sendo vital para a competitividade dos negócios. Dentro do aspecto da multiplicidade de conceitos e modelos, a Pirâmide de Carroll (1999), apud Lourenço e Schröder (2003) apresenta-se como ponto importante. Este modelo tem relaciona as responsabilidades de uma empresa composta por quatro dimensões: a econômica, a social, a ética e a discricionária. Consideradas como dimensão do modelo integral da Responsabilidade Social de uma organização, como mostra na estrutura da pirâmide RSE (Figura1). Figura 1 - Pirâmide da Responsabilidade Social Empresarial. Fonte: Baseado em Carroll, 1999 apud Lourenço e Schröder (2003) As dimensões econômica e legal, simultaneamente, devem ficar na base, pois é essencial para a sustentação da organização, principalmente no curto prazo. As dimensões ética e filantrópica, embora sejam importantes em uma organização e se constituam como socialmente responsável, no curto prazo não impactam de forma expressiva na sustentabilidade da empresa, apesar de ter grande relevância no sucesso organizacional à longo prazo (CARROLL, 1999 apud LOURENÇO; SCHRÖDER, 2003, p. 35). Detalha-se a seguir os quatro conceitos de responsabilidade citados no modelo piramidal de Carroll (1999) descrito por Lourenço e Schröder (2003). 1) Responsabilidade econômica: base da pirâmide, principal tipo de responsabilidade social encontradas nas empresas, sendo os lucros o objetivo pelo qual as empresas existem (LOURENÇO; SCHRÖDER, 2003, p. 38). 2) Responsabilidade legal: as empresas devem atingir suas metas e objetivos, sejam eles econômicos ou não, dentro da estrutura legal, obedecendo às exigências de órgãos regulamentadores (LOURENÇO; SCHRÖDER, 2003, p. 38).
- 254. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 22 245 3) Responsabilidade ética: comportamentos e atitudes da empresa diante da sociedade, mas não previstos em leis. Respeitando os direitos individuais, agir com equidade, imparcialidade e justiça (LOURENÇO; SCHRÖDER, 2003, p.40). 4) Responsabilidade discricionária ou filantrópica: é voluntária e direcionada pelo desejo da empresa em contribuir no âmbito social de uma forma que não seja imposta pela economia, lei ou pela ética (LOURENÇO; SCHRÖDER, 2003, p.40). 2.2 Diretrizes da Responsabilidade Social Empresarial As Diretrizes da Responsabilidade Social Empresarial configuram-se como orientações para a inserção da RS nos negócios. Além disso, as diretrizes norteiam as tomadas de decisões, os valores que definem suas prioridades e os relacionamentos com todos os públicos com os quais interagem ao mesmo tempo contribuem para a qualidade dos relacionamentos das empresas nas respectivas áreas: Valores e Transparência, Público Interno, Meio Ambiente, Fornecedores, Consumidores e Clientes, Comunidade, Governo e Sociedade. Para Thiry-Cherques (2003), essas diretrizes desempenham a função de direcionar os planos de negócios e são conhecidas e discutidas no cenário internacional. No ambiente nacional, o SEBRAE Nacional e o Instituto Ethos desenvolveram normas e técnicas para guiar empresas de pequeno, médio e grande porte, baseadas nestes sete temas, a seguir relacionados: 1)Adotevaloresetrabalhecomtransparência:tornarumaempresasocialmente responsável é avaliar os seus valores éticos e transmiti-los aos seus públicos através de um documento formal e agir com transparência (INSTITUTO ETHOS; SEBRAE, 2001, p.13). 2) Valorize empregados e colaboradores: é prioritário que a empresa cumpra as leis trabalhistas. Empresas que valorizam seus funcionários valorizam, na verdade, a si mesmas (INSTITUTO ETHOS; SEBRAE, 2001, p.14). 3) Faça sempre mais pelo meio ambiente: o produtor deve se informar e cumprir toda a legislação ambiental, com destaque para o uso da água (ortoga), a proteção de matas ciliares e de reserva legal (INSTITUTO ETHOS; SEBRAE, 2001, p.15). 4) Envolva parceiros e fornecedores: é importante incentivar os seus parceiros e fornecedores a se tornarem empresas socialmente responsáveis. Trabalhar com empresas que tenham os mesmos valores éticos e ações sociais pode escalonar as ações. (INSTITUTO ETHOS; SEBRAE, 2001, p.16). 5) Proteja clientes e consumidores: desenvolver produtos e serviços confiáveis em termos de qualidade e segurança, fornecer instruções de uso e informar
- 255. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 22 246 sobre seus riscos potenciais e eliminar danos à saúde dos usuários são ações importantes, visto que a empresa produz cultura e influencia o comportamento de todos (INSTITUTO ETHOS; SEBRAE, 2003, p.34). 6) Promova a comunidade: é importante a empresa identificar os problemas da comunidade e tentar soluções em conjunto. As ações da empresa na comunidade são a principal referência da sua preocupação (INSTITUTO ETHOS; SEBRAE, 2001, p.18). 7) Comprometa-se com o bem comum: é preciso que a empresa desenvolva ações que decisivamente contribuam para o desenvolvimento de sua região e do país (INSTITUTO ETHOS; SEBRAE, 2001,p.19). Ainda, referente aos temas, apresenta-se a abordagem de Melo e Gomes (2016) que propõem que os programas de RSE devem contemplar onze temas: Boas práticas de governança; Combate à pirataria, sonegação, fraude e corrupção; Práticas desleais de concorrência; Direitos da criança e do adolescente, incluindo o combate ao trabalho infantil; Direitos do trabalhador, incluindo o de livre associação, de negociação, remuneração justa e benefícios básicos, bem como o combate ao trabalhoforçado;Promoçãodadiversidadeecombateàdiscriminação(porexemplo: cultural, de gênero, de raça/etnia, idade, pessoa com deficiência); Compromisso com o desenvolvimento profissional; Promoção da saúde e segurança; Promoção de padrões sustentáveis de desenvolvimento, produção, Distribuição e consumo, contemplando fornecedores, prestadores de serviço, entre outros; Proteção ao meio ambiente e aos direitos das gerações futuras e ações sociais de interesse público (MELO E GOMES, 2016, p.04-05). 2.3 A Responsabilidade Social Empresarial como fator competitivo Muitos consumidores estão cada dia mais conscientes quanto a participação das instituições privadas no desenvolvimento da sociedade e as organizações precisam se engajarem em ações que geram sustentabilidade para a comunidade em que estão inseridas. Da mesma forma, conceitos apresentados por diversos autores mostram o comprometimento das empresas com ações socialmente responsáveis presente na realidade do mundo corporativo. E como base de estudo sobre Responsabilidade Social Empresarial, o Instituto ETHOS, apresenta um modelo viável de comprometimento social, ao mesmo tempo apresenta sólida força social que direciona um novo cenário de negócios. Segundo a o Instituto Ethos (2003): Ao assumirem uma postura comprometida com a Responsabilidade Social Empresarial, micros e pequenos empreendedores tornam-se agentes de uma profunda mudança cultural, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa e solidária (INSTITUTO ETHOS; SEBRAE, 2003, p.7). Percebe-se que a organização que adere à RSE, está diretamente vinculada com a missão de refletir sobre os impactos nos cotidianos de uma sociedade. Dessa forma, o exercício empresarial pressupõe uma atitude eficaz da empresa em duas
- 256. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 22 247 dimensões: a gestão da responsabilidade social interna e a externa. A Responsabilidade Social vem se transformando numa poderosa ferramenta de competitividade para as organizações e seus executivos. Desta forma, as organizações passam a conhecer as preferências do consumidor, e podem adquirir o respeito dos clientes e de seus colaboradores. A Responsabilidade Social traz para as empresas maiores possibilidades de reconhecimento, imagens e melhores de condições de competição no mercado, como também contribui categoricamente para o futuro do país, já que para muitas empresas a obrigação social, tem por premissas relações éticas e transparentes. No Brasil, a mídia tem sido grande fiscalizadora e os consumidores têm se tornado mais exigentes. Segundo o Instituto ETHOS e SEBRAE: Fabricar produtos ou prestar serviços que não degradem o meio ambiente, promover a inclusão social e participar do desenvolvimento da comunidade de que fazem parte, entre outras iniciativas, são diferenciais cada vez mais importantes para as empresas na conquista de novos consumidores ou clientes (ETHOS e SEBRAE, 2003, p. 6). Vale enfatizar que não se deve agregar apenas o valor aos produtos e serviços, existem diversas maneiras de apoio ao terceiro setor, como por exemplo a transparência ao relacionamento com os setores públicos e principalmente pautar pelo planejamento estratégico de todas as ações (TIEGHI, 2006). Com a globalização, surge então uma nova gestão empresarial na qual exige novas demandas e desafios como produtividade, competitividade e compromisso social que são requisitos básicos de sustentabilidade e sucesso e lucratividades dos negócios. Magalhães (2003) afirma que a competitividade é uma das maneiras de se ter vantagens em relação aos concorrentes, exige coesão social e sustentável, para efeito de estabilidade macroeconômica e eficácia de gestão. Husted e Allen (2001), apud Araújo (2009, p. 80), pontuaram que as estratégias de RSE podem gerar vantagens competitivas se utilizadas de maneira adequada pelas empresas, afirmando que existe uma relação positiva entre as ações. Todavia, Ashley (2002, p.54) pontua que a RSE é atualmente fonte de vantagens e diferenciais competitivos, que devem ser buscadas pelas empresas que procuram obter maior competitividade e melhores resultados. E Barney (1991) apud Araújo (2009, p.81) destaca que a geração de vantagem competitiva ocorre pela implementação de uma estratégia que agregue valor e gere benefícios para uma empresa, sem que outra concorrente simultaneamente o faça, embora este último autor tenha dúvidas que a responsabilidade social possa gerar vantagens competitivas. Ser competitivo em um mercado altamente disputado requer de muitos gestores sabedoria e habilidade quanto às iniciativas a serem tomadas, e um dos principais fatores para elencar a competitividade de uma empresa é justamente a qualidade do
- 257. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 22 248 ambiente de negócios nos locais em que a organização opera. A competitividade pode ser representada como estabilidade macroeconômica e eficácia de gestão. Para Porter (1998) desenvolvimento de competitividade é o resultado da adequação da organização ao seu ambiente externo, por meio de um posicionamento que proporcione lucratividade, ao passo em que gere sustentabilidade. Nesse contexto, o fato de uma empresa ser sustentável pode favorecer a competitividade, se aliados a estabilidade macroeconômica e eficaz gestão. Assim, a competitividade pode ser representada da seguinte maneira: competitividade necessita de desempenho que passa por um processo e exige recursos que direcionam a equipamentos e pessoas, colhendo assim um resultado lucrativo. Ressalta-se que, consoante Barney (1991), a competitividade de uma empresa para ser atingida, os seus recursos devem possuir quatro características: serem valiosos; raros; imperfeitamente imitáveis; e insubstituíveis. Contudo deve se observar as ações de responsabilidades sociais empresariais tem por obrigação perante a sociedade gerar resultados reais e consistentes, o que irá de fato, tornar a empresa com vantagem de cunho competitivo. 2.4 Responsabilidade Social Empresarial: ações externas e internas É de grande importância que as empresas assumam socialmente a responsabilidade de desenvolver ações externas e internas quanto à responsabilidade social. A esse respeito, é relevante conceituar essas duas diferentes dimensões da responsabilidade social. A responsabilidade social interna tem como foco o corpo da empresa, que incluiu todos aqueles que trabalham a seu favor. Diz respeito às práticas voltadas aos recursos humanos da empresa, às questões de saúde e segurança do trabalho, entre outras. Externamente, a responsabilidade social das empresas inclui os consumidores e a comunidade de uma forma geral, abrangendo aqueles que não estão diretamente relacionados às atividades produtivas. Neste quesito, Oliveira e Scwertner apud Alineri (2008, p. 131) informam que a relação com a comunidade está ligada a busca pela empresa em satisfazer uma determinada carência, como forma de integração da própria empresa àquele lugar. 2.4.1 Indicadores sociais internos e externos A responsabilidade social interna focaliza os seus colaboradores e seus dependentes. O seu objetivo é motivar esses atores para um desempenho ótimo, criar um ambiente de trabalho favorável e contribuir para seu bem estar. Com isso, a empresa ganha dedicação, empenho e lealdade, gerando ganhos de produtividade para a organização (MELO NETO; FROES 2001). Segundo Melo Neto e Froes (2001, p.29), o exercício da responsabilidade social externa corresponde ao desenvolvimento de ações sociais empresariais relacionadas aos seus diversos públicos, como clientes, fornecedores e a comunidade em geral.
- 258. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 22 249 Para fins deste estudo, foram organizados dois indicadores de desempenho social, sendo o interno e o externo. Os Quadros 1 e 2 apresentam esses indicadores: INDICADORES SOCIAIS DA DIMENSÃO SOCIAL INTERNA Emprego Criação de emprego; recolocação e recapacitação de trabalhadores ; benefícios para além das obrigações legais; valorização de competências; Relações de Trabalho Percentagem de trabalhadores representados por organizações independentes; incentivo ao envolvimento dos trabalhadores em atividades sindicais; participação de representantes dos trabalhadores em comissões de gestão. Trabalho Infantil Políticas contra o trabalho infantil (Convenção 138 da OIT); projetos para os filhos dos empregados estimulando competências técnicas e psicossociais; Saúde e segurança Comissões conjuntas para a saúde e segurança, políticas ou programas sobre a SIDA/HIV; para além dos limites legais, planos e metas para alcançar padrões de excelência. Formação educação Média de horas anuais por trabalhador; políticas e programas para gestão de competências e aprendizagem ao longo da vida; atividades de formação e aperfeiçoamento contínuo de todo o pessoal; ofertas de bolsas de estudo ou similares; Diversidade oportunidade Políticas /programas para a igualdade de oportunidades e de sistema de monitorização; composição dos órgãos de gestão, incluindo rateio homens/mulheres; proibição de práticas discriminatórias e promoção de práticas antidiscriminatórias. Quadro 1 - Indicadores de desempenho da dimensão social interna Fonte: adaptado de Nicolau Santos (2005) e Indicadores Ethos de Responsabilidade Empresarial, 2004. Com base em Nicolau Santos (2005, p.38) a dimensão interna é nomeada através da adesão de novos modelos de gestão, ligada à dimensão externa, ou seja, a comunidade onde está inserida e com quem interatua. Para o autor a prática sustentável ao nível econômico, social e ambiental funciona como catalisador no sentido da busca de aumentos de produtividade, e está diretamente ligado ao desempenho econômico e ao sucesso comercial à longo prazo (NICOLAU SANTO, 2005). INDICADORES SOCIAIS DA DIMENSÃO SOCIAL EXTERNA Comunidade Políticas para gerir impactos da atividade na comunidade; processo estruturado para registar reclamações e reuniões sistemáticas para informar líderes locais sobre as providências tomadas; política formal de relacionamento com a comunidade e manutenção de comissões permanentes ou grupos de trabalho com a participação de líderes locais para analisar as atividades e monitorizar os impactos; Corrupção Políticas e procedimentos relacionados com o combate à corrupção; divulgação de normas, tanto interna como externamente e auditoria regular ao seu cumprimento, obrigando a denúncia de qualquer oferta recebida; Envolvimento político Descrição das políticas e mecanismos para gerir as contribuições políticas e “lobbying”; campanhas de conscientização política, cidadania e importância do voto, envolvendo todos os empregados e partes interessadas; financiamento fundamentado em regras e critérios definidos internamente, permitindo ao público interno o acesso às informações sobre a decisão tomada; Competição e preços Decisões dos tribunais relativas a regulamentos anti cartelização e monopólio; descrição de políticas e procedimentos de prevenção contra comportamentos anticompetitivos; liderança nas discussões relacionadas com a busca de padrões de concorrência cada vez mais elevados;
- 259. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 22 250 Saúde e segurança do consumidor Políticas para preservar a saúde e segurança dos consumidores, e instrumentos de monitorização; ações para estimular a comunicação com os clientes e consumidores com a empresa, esclarecendo a alertando para efeitos prejudiciais e cuidados necessários no seu uso; parcerias com fornecedores, distribuidores, assistentes técnicos e representantes dos consumidores visando criar uma cultura de responsabilidade e transparência na comunicação com consumidores e clientes; Produtos e serviços Políticas e sistemas de gestão relativa à informação no produto e à etiquetagem; número e tipo de situações de não conformidade com os regulamentos respeitantes à informação no produto e etiquetagem, bem como penalizações sofridas por eventuais incumprimentos; pesquisas e interação com fornecedores, distribuidores, consumidores, concorrentes e governo para um contínuo aperfeiçoamento dos produtos e serviços. Quadro 2 - Indicadores de desempenho da dimensão social externa Fonte: adaptado de Nicolau Santos (2005) e Indicadores Ethos de Responsabilidade Empresarial 2004. 2.5 Desenvolvimento sustentável e sustentabilidade empresarial As empresas envolvem com os conceitos sustentáveis na ânsia de conseguirem o aumento de lucratividade e de benefícios. Além disso, essas plataformas sustentáveis podemgerarcontribuiçõesnamelhoriadaqualidadedevidaenosrecursossustentáveis naturais. Vale enfatizar que muitas empresas estão se beneficiando com as iniciativas de desenvolvimento sustentável com o objetivo exclusivo de identificar oportunidades e obter vantagens lucrativas. Esse equilíbrio dos relacionamentos sociais está atrelado ao ambiente interno e externo. Em um mercado altamente competitivo, aspectos como responsabilidade com o meio ambiente e sociedade são diferenciais necessários para que a organização seja mais competitiva e atenda às exigências dos clientes. A responsabilidade social empresarial deve contribuir não apenas para tornar a empresarentável,masgerarresultadoseconômicoseaindapropicieodesenvolvimento da sociedade. Nesse sentido gerar resultados está atrelado aos resultados não apenas econômicos, visando contribuir para o desenvolvimento da comunidade. A sustentabilidade empresarial pressupõe que a empresa seja rentável, gere resultados econômicos e ainda contribua para o desenvolvimento da sociedade. Para Elkington (1994),criador do termo Triple Bottom Line, a sustentabilidade é o equilíbrio entre os três pilares: ambiental, econômico e social. O mesmo determina que a empresa deve gerir suas atividades em busca não só do resultado econômico, mas também dos resultados ambiental e social. Diante das novas exigências de mercado, a Responsabilidade Social Empresarial, tornou-se um fator de competitividade e diferencial para os negócios. Como por exemplo, a norma NBR ISO 14.001 apresenta diretrizes para organizações possam consistentemente controlar seus impactos significativos sobre o meio ambiente e melhorar continuamente suas operações e negócios e oferece certificação que pode promover a imagem da organização para com seus clientes, demonstrando a preocupação tanto com a lucratividade quanto com a gestão de impactos ambientais.
- 260. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 22 251 Atualmente não bastam obter preço e qualidade, os novos consumidores (formadores de opiniões) exigem a mudança de hábitos das organizações, criando certos desafios, mas ótimas oportunidades de crescimento. As empresas devem investir no permanente aperfeiçoamento de suas relações com todos os públicos dos quais dependem e com os quais se relacionam: clientes, fornecedores, empregados, parceiros e colaboradores. Isso inclui também a comunidade na qual atua, o governo, sem perder de vista a sociedade em geral, que construímos a cada dia (INSTITUTO ETHOS, 2003, p.42). Portanto, as empresas, por sua vez, estão optando por promover a imagem da organização para com seus clientes, já que a sobrevivência das que reforçam práticas empresariais que apoiam o desenvolvimento sustentável e impulsionam maior lucratividade. 2.6 Normas e certificações de produtos e serviços 2.6.1 Motivação das empresas para a responsabilidade social Um dos pilares para a adesão de novos modelos de gestão nas empresas é justamente a motivação que influenciam e contribuem na dimensão social interna e externa das organizações. Além disso, a motivação é a força propulsora de um negócio, embora a motivação da ação seja inerente ao desenvolvimento humano, nem sempre será encontrado no ambiente de trabalho, o que causará pontos negativos quanto á lucratividade da empresa. Chiavenato (1994, p. 154) disserta que a motivação é o desejo de exercer altos níveis de esforço em direção a determinados objetivos organizacionais, condicionados pela capacidade de satisfazer objetivos individuais. Silva e Freire (2001) citam vários os motivos da ação empresarial nesse campo: a) Obtenção de vantagens competitivas, já que os consumidores passam a valorizar a ética e a participação das empresas na comunidade; b) Orientação da matriz; c) Visão estratégica de sobrevivência no longo prazo; d) Resposta a incentivos oferecidos pelo governo ou por outras organizações; e) Fundamentação religiosa ou moral; f) Promoção de valores de solidariedade interna (SILVA e FREIRE, 2001, p. 4). Segundo os autores retrocitados, as motivações, em grande parte, têm relação com a estratégia compreendida como relacionado ao meio ambiente externo e interno, considerando que a motivação na implementação da SER precisa estar ajustada ao ambiente externo. Conforme o instituto ETHOS e SEBRAE (2013), como resultado da evolução das práticas de Responsabilidade Social, da adesão das empresas e dos resultados e impactos possíveis ocorridos nas últimas décadas, foram surgindo uma série de normas e certificações de instituições nacionais e internacionais que tratam de temas relacionados, direta e indiretamente sobre normas e serviços, que certificam as
- 261. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 22 252 empresas como aderente dos programas sociais. Segundo o INMETRO (2016), a certificação atesta que é necessário que se tenha conformidadedosistemadegestãodasempresasemrelaçãoaosrequisitosnormativos. Portanto, o que se espera das organizações são alguns aspectos importantes como os compromissos propostos por grupos de empresas, abrigados, ou não, por instituições representativas, demonstrando o amadurecimento, reconhecimento, valorização e adesão às causas de cunho social, de acordo com as normas citadas abaixo. 2.6.2 Norma SA 8000 – 1997/2001 A norma SA8000 é um padrão global de responsabilidade social em prol das boas condições de trabalho, desenvolvida e supervisionada pela Organização Social Accountability International (SAI). Esta norma é baseada nos princípios internacionais dos direitos humanos e nas convenções da Organização Internacional do Trabalho (OIT) tem por objetivo incentivar a implementação de mudanças sistemáticas e sustentáveis nas operações comerciais, além de verificar e melhorar as condições de trabalhos nas organizações e colaboradores nas empresas (ABS, Quality Evaluations, 2016). A referida norma abrange os seguintes aspectos conforme disserta a ABS Quality Evaluations (2016): Trabalho infantil e trabalho escravo; Sistemas de Gestão da Saúde e Segurança Ocupacional; Liberdade de associação e direito à negociação coletiva; Discriminação; Práticas disciplinares; Horas de trabalho; Remuneração e Sistemas de Gestão (ABS QUALITY EVALUATIONS,2016, s/p). A presente norma foi destinada especialmente a gerenciar as práticas de responsabilidade social interna, focando nas ações em prol do benefício do ser humano. 2.6.3 Norma ISO 14000 - 1990 Devido ao desenvolvimento industrial e econômico no mundo, problemas como impactos ambientais têm se configurado como grave problema para as autoridades e organizações ambientais. Assim, na década de 90, a ISO 14000 desenvolvida pela International Organization for Standardization (ISO) estabeleceu diretrizes sobre a área de gestão ambiental dentro de empresa vem responder a necessidade de normas que contemplassem as questões ambientais com a finalidade de padronizar os processos empresariais que utilizam recursos tirados da natureza ou causam algum dano ambiental decorrente de suas atividades. Ademais, volta-se a diminuir o impacto provocado pelas empresas ao meio ambiente, já que muitos empreendimentos geram uma série de poluição ou causam danos ambientais através de seus processos de produção, utilizando os recursos naturais. Acertificação ISO 14000 de gestão ambiental atesta a responsabilidade ambiental no desenvolvimento das atividades de uma organização. Vale ressaltar que as normas
- 262. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 22 253 ISO 14000 não estabelecem níveis de desempenho ambiental, especificam somente os requisitos que um sistema de gestão ambiental deverá cumprir tanto no ambiente externo quanto interno. Essa norma relaciona os procedimentos que deverá ser feito por uma organização para diminuir os impactos de suas atividades no meio ambiente (ABS Quality Evaluations, 2016). 2.6.4 NBR 16001 – 2004 Outra norma é a NBR 16001 que estabelece requisitos mínimos relativos a um sistema de gestão da Responsabilidade Social, na qual permite à organização formular e implementar uma política e objetivos embasados em exigências legais, compromissos éticos e uma preocupação com a promoção da cidadania e do desenvolvimento sustentável, além da transparência das suas atividades (MELO e GOMES, 2016). Ursini e Sekiguchi (2005) ressaltam os pontos mais relevantes desta norma: • Aplicabilidade a organizações de todos os tipos e portes; • Entendimento amplo do tema “Responsabilidade Social”; •Necessidade de comprometimento dos funcionários e dirigentes de todos os níveis e funções; •Necessidade de uma política da Responsabilidade social e programas com objetivos e metas (URSINI E SEKIGUCHI, 2005, p. 154). 2.6.5 Norma AA1000 – 2006 A norma AA 1000 de 2006 tem como finalidade a prestação de contas que consiste em reconhecer e assumir com responsabilidade e transparência os impactos das políticas, decisões, ações, produtos e desempenho a eles associados (AA1000 ACCOUNTABILITY PRINCIPLES STANDARD, 2008). Segundo Accountability Principles Standard (2008), a Norma AA1000-2006, almeja: Obrigar uma organização a envolver as partes interessadas na identificação, compreensão e também na capacidade de resposta aos assuntos e preocupações em matéria de sustentabilidade, e a relatar, explicar e estar disponível para responder às partes interessadas relativamente a decisões, ações e desempenho. E incluir a forma como uma organização define o seu modelo de governo, as respectivas estratégias e efetua a gestão do desempenho. (ACCOUNTABILITY PRINCIPLES STANDARD, 2008, P.06) Sendoqueessasaçõesdevemservirdebaseparaestabelecer,avaliarecomunicar a prestação de contas, conforme impõe os Princípios AA1000 da AccountAbility. 2.6.6 ISO 26000 – 2010 Em dezembro de 2010, foi publicada a norma ISO 26000, após grandes debates entre especialistas de diversos países e de seis segmentos sociais (trabalhadores,
- 263. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 22 254 governos, empresas, consumidores, organizações não governamentais e outros), sendo que a participação dos trabalhadores se deu por meio das centrais sindicais de váriospaíses,lideradospelaConfederaçãoSindicalInternacional(CSI)(DIEESE/2012). Para a Dieese (2012) a norma tem como finalidade fornecer orientações sobre princípios e práticas de responsabilidade sociais dirigidas a organizações de qualquer natureza, não apenas para empresas. Já que a mesma não certifica a empresa, pois conforme destaca a Dieese (2012) não contém a especificação de requisitos a serem verificadosparaaoutorgadeumcertificado.Paraaformulaçãodesuasrecomendações, foram tomados como bases tratados, convenções e outros documentos, inclusive as convenções da OIT. Nesse sentido buscou respeitar as normas obrigatórias adotadas por amplo consenso entre nações e representantes da sociedade internacional, sendo reconhecida a adoção dos requisitos de responsabilidade social para as organizações. A ISO 26000 conceitua responsabilidade social como a responsabilidade de uma organização pelos impactos de suas decisões e atividades sobre a sociedade e o meio ambiente, através de comportamento ético e transparente. Ademais, como descrito pelo Dieese (2012), a norma ISO 26000 tem como premissa: Contribuir para o desenvolvimento sustentável, incluindo a saúde e bem-estar da sociedade; Levar em consideração as expectativas das partes interessadas; Estar de acordo com a legislação pertinente e com as normas internacionais de comportamento; e Estar integrado à organização como um todo e praticado em seus relacionamentos. (DIEESE 2012). Assim as normas visam certificar as expectativas de um comportamento organizacional socialmente responsável respaldado pelas leis internacionais, tratados e convenções reconhecidas universalmente, visto que a responsabilidade social deve ser definida pela sociedade através de seus mecanismos políticos e jurídicos, e não por uma interpretação autônoma por parte das empresas (DIEESE, 2012). 3 | TRAJETÓRIA METODOLÓGICA Para Marconi & Lakatos (2007, p. 83), “método é o conjunto de atividades sistemáticas e racionais que, com maior segurança e economia, permite alcançar o objetivo - conhecimentos válidos e verdadeiros, traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e auxiliando as decisões do cientista.” A metodologia dessa pesquisa foi bibliográfica, ou seja, “um apanhado geral sobre os principais trabalhos já realizados, revestidos de importância, por serem capazes de fornecer dados atuais e relevantes relacionados com o tema.” (MARCONI e LAKATOS, 2003, p.158), cuja finalidade é fazer com que o pesquisador entre em contato direto com as principais materiais escritas, auxiliando o cientista na análise de suas pesquisas ou na manipulação de suas informações. Ela pode ser considerada como o primeiro passo de toda a pesquisa científica.
- 264. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 22 255 A pesquisa bibliográfica como um procedimento metodológico importante na produção do conhecimento científico capaz de gerar, especialmente em temas pouco explorados, a postulação de hipóteses ou interpretações que servirão de ponto de partida para outras pesquisas. (LIMA e MIOTO, 2007, p. 44) O levantamento bibliográfico foi realizado através da pesquisa em base eletrônica de dados, utilizando a palavras chave Responsabilidade Social Empresarial. O período da realização da pesquisa foi entre o segundo semestre de 2015 e o primeiro semestre de 2016. Para a apresentação dos resultados dos estudos analisados foi utilizado um quadro de síntese contendo informações das fontes bibliográficas, quanto aos autores, ano de publicação, obras, tipos de estudo, objetivos dos estudos e resultados. AidentificaçãodeestudosrelevantessegueasorientaçõesdeSalvador(1986):que sugere iniciar-se com leitura de reconhecimento do material bibliográfico, seguir com a leitura exploratória para determinar quais dados/informações interessam. Realizado as leituras, uma terceira leitura de caráter seletivo. Na sequência foram realizadas leitura reflexiva ou crítica e leitura interpretativa. A primeira se caracteriza pelo estudo crítico do material orientado por critérios determinados a partir do ponto de vista do autor da obra, para ordenar e sumarizar informações. Assim, os textos selecionados buscam responder aos objetivos da pesquisa. Momento de compreensão das afirmações do autor e do porquê das afirmações, enquanto que a interpretativa, apresenta maior complexidade e busca relacionar as ideias expressas na obra com o problema para o qual se busca resposta, implicando assim na interpretação das ideias e na inter- relação dessas ideias com o objetivo da pesquisa. Assim, requer um exercício de associação de ideias, transferência de situações, comparação de propósitos, liberdade de pensar e capacidade de criar. O critério norteador nesse momento é o propósito do pesquisador (SALVADOR, 1986). O Quadro 3 apresenta a síntese dos estudos acessados, apresentando os autores, o ano de publicação, o titulo, objetivo e principais resultados. Sequenciando serão descritos esses principais estudos. AUTOR ANO TITULO-OBJETIVO DO TRABALHO- PRINCIPAIS RESULTADOS ASHLEY, Patrícia Almeida. Rio de Janeiro: Saraiva, 2002. 2002 Títitulo: Ética e responsabilidade social nos negócios. Objetivo: Apresentar o compromisso empresarial para o desenvolvimento da sociedade expresso em atitudes e valores. Resultado: Reunir o conhecimento relevante para o momento empresarial e suprir a crescente informação na área de gestão da responsabilidade social e ética nos negócios. CORAL, Elisa. 2002 Título: Modelo de planejamento estratégico para a sustentabilidade empresarial. Objetivo: Apresentar um modelo estratégico pára a sustentabilidade das organizações empresariais enfocando seu desenvolvimento econômico, ambiental e social. Resultado: Contribuir para o alcance do desenvolvimento sustentável das organizações empresariais, tendo sido aplicado e testado através de um estudo de caso em uma empresa com duas plantas do setor coureiro.
- 265. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 22 256 MUELLER, Adriana. 2003 Título: A utilização dos indicadores de responsabilidade social corporativa e sua relação com os stakeholders. Objetivo: identificar e descrever os indicadores de responsabilidade social adotados pela empresa para avaliar sua ação social em relação aos seus stakeholders. Resultado: permitiram verificar o conjunto de ações, políticas e valores da empresa, o reconhecimento da importância de se praticar ações de responsabilidade social a todos os seus stakeholders, bem como, a necessidade de torná-las públicas e de continuar investindo e aprimorando tais ações. URSINI, Tarcila Reis.; SEKIGUCHI, Celso. 2005 Título: Desenvolvimento sustentável e responsabilidade social: rumo à terceira geração de normas ISO. Objetivo: Contribuir para a elaboração da futura norma internacional a ISO. Resultado: Vários argumentos coexistirão para a durante o processo de elaboração da diretriz internacional. AZEVEDO, Josiele Heide. 2008 Título: Responsabilidade social empresarial e educação: estudo de caso do projeto pescar. Objetivo: verificar a falta de entendimento sobre a temática bem como a realização de ações de RSE paliativas, assistencialistas e caritativas. Resultado: foi possível analisar a concepção de educação, implementado pelas empresas, e como são desenvolvidas as ações educativas, considerando-se os métodos e a metodologia de ensino e o projeto pedagógico adotados. ARAÚJO Pessoas, Raimundo Wellington. 2009 Título: Estratégia e vantagem competitiva da responsabilidade social empresarial. Objetivo: analisar os resultados e possíveis benefícios para as empresas que adotam ações de RSE; verificar a relação entre estratégia empresarial e ações de RSE; e identificar a ligação entre ações de RSE com vantagem competitiva. Resultados: indicam o papel e a relevância da RSE para organizações, consumidores e comunidade em geral, além da existência de relação entre RSE, intento estratégico e vantagem competitiva. SILVA, Ligia Neves. 2010 Título: Responsabilidade social empresarial e os paradigmas igualitários da justiça social. Objetivo: abordar o conceito de responsabilidade social empresarial (RSE), sua finalidade e princípios da gestão socialmente responsável. RIBEIRO, Rosa Arminda de Carvalho Alves. 2014 Título: Responsabilidade social, estratégia e competividade. Objetivo: Apresentar os principais modelos ligados à Responsabilidade Social Empresarial (RSE), pelo percurso histórico e de uma abordagem de alguns dos conceitos mais importantes a ela associados. Resultado: as ações de RSE embora ultrapassam as barreiras restritas do cumprimento da lei, das preocupações ambientais e dos princípios éticos. MELO, Cristiana Malfacini; GOMES, Eduardo Rodrigues. 2015 Título: NBR 16001: A Norma Brasileira de Gestão da Responsabilidade Social. Objetivo: Configurar-se em um modelo de gestão que aproxima o relacionamento da organização com suas partes interessadas (público interno, fornecedores, clientes, comunidade de entorno, entre outros). Resultado: elaboração da norma NBR 16001, que preconiza um sistema de gestão da Responsabilidade Social e adesão das mesmas induzem novas formas de gestão. Quadro 3 - Síntese dos artigos, apresentando ano, autor e título, no período de 2002 a 2015, encontrados na base de dados da SCIELO. Fonte: Dados da pesquisa. 4 | RESULTADOS E DISCUSSÃO Após análise dos títulos e a primeira leitura dos resumos, foram excluídos os artigos que não preenchiam os critérios de inclusão predeterminados. Para a construção do resultado e da discussão dessa pesquisa, foram utilizados nove artigos publicados entre 2002 e 2015. Como critério de inclusão, os artigos foram inseridos em um quadro sinóptico adaptado com a finalidade de contemplar alguns aspectos relevantes na área da administração e acima de tudo a relação dos artigos com o tema. Os artigos foram discriminados segundo o ano da pesquisa, conforme processado na tabela de análise
- 266. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 22 257 e foram distribuídos em ordem cronológica e explicitados no decorrer da discussão (ver Quadro 3). No ano de 2002, encontraram-se dois artigos, sendo o primeiro cujo título: “Ética e responsabilidade social nos negócios” buscou apresentar de acordo com Ashley (2002) o compromisso empresarial para o desenvolvimento da sociedade expresso em atitudes e valores. Outro aspecto relevante na pesquisa segundo Ashley (2002) foi de reunir o conhecimento relevante para o momento empresarial e suprir a crescente informação na área de gestão da responsabilidade social e ética nos negócios. Ainda no ano de 2002, o artigo com o título de “Modelo de planejamento estratégico para sustentabilidade empresarial” da autora Coral (2002) visa presentar um modelo estratégico para a sustentabilidade das organizações empresariais enfocando seu desenvolvimento econômico, ambiental e social, na qual contribui para o alcance do desenvolvimento sustentável das organizações empresariais, sendo aplicado e testado através de um estudo de caso em uma empresa com duas plantas do setor coureiro. No ano de 2003, encontrou-se um artigo com o título de: “A utilização dos indicadores de responsabilidade social corporativa e sua relação com os stakeholders”, escrito pela autora Mueller (2003) disserta que é fundamental identificar e descrever os indicadores de responsabilidade social adotados pela empresa para avaliar sua ação social em relação aos seus stakeholders, o que permite verificar o conjunto de ações, políticas e valores da empresa, o reconhecimento da importância de se praticar ações de responsabilidade social a todos os seus stakeholders, bem como, a necessidade de torná-las públicas e de continuar investindo e aprimorando tais ações. Outroartigoidentificadofoitítulo“Desenvolvimentosustentáveleresponsabilidade social: rumo à terceira geração de normas ISO”, de Ursini e Sekiguchi, (2005), publicado em 2005, que tem como intuito contribuir para a elaboração da futura norma internacional a ISO e assim, identificar vários argumentos que coexistirão durante o processo de elaboração da diretriz internacional. Em 2008, um artigo publicado com o título de: “Responsabilidade social empresarial e educação: estudo de caso do projeto pescar”, de Azevedo (2008) que descreve e analisa a falta de entendimento sobre a temática bem como a realização de ações de RSE paliativas, assistencialistas e caritativas. Em seu resultado obteve a concepção de educação, implementado pelas empresas, e como foram desenvolvidas as ações educativas, considerando-se os métodos e a metodologia de ensino e o projeto pedagógico adotado, ou seja, o trabalho desenvolvido em uma organização vai além, já que é necessário compreender as ações reais da responsabilidade social empresarial no meio ambiente, seja ele externo ou interno. Encontrou-se a tese de relevância para a pesquisa: “Responsabilidade social, estratégia e competividade”, de Ribeiro (2014) que tem como objetivo apresentar os principais modelos de RSE, através do seu percurso histórico e de alguns dos conceitos mais importantes a ela associados. O que se conclui que as ações de RSE
- 267. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 22 258 embora em parte, sejam fruto do ambiente em que cada uma se encontra inserida, ultrapassa as barreiras estritas do cumprimento da lei, das preocupações ambientais e dos princípios éticos, suportando-se a sua estratégia na estratégia da RSE, tendo em vista assegurar a sua permanência no mercado numa perspectiva de médio longo prazo. Por último o artigo de 2015 com o título de: “NBR 16001: A Norma Brasileira de Gestão da Responsabilidade Social”, sendo que os autores Melo e Gomes (2013) destacam que é importante configurar-se em um modelo de gestão que aproxima o relacionamento da organização com suas partes interessadas (público interno, fornecedores, clientes, comunidade de entorno, entre outros) na qual visa a elaboração da norma NBR 16001, que preconiza um sistema de gestão da Responsabilidade Social e adesão das mesmas induzem novas formas de gestão que podem influenciar substancialmente a rotina das organizações 5 | CONSIDERAÇÕES FINAIS A Responsabilidade no sentido de minimizar impactos negativos deve veicular- se á estratégia de negócio e estar alinhado aos objetivos organizacionais. Além disso, permite que as empresas divulguem suas potencialidades no âmbito social e contribuam com ações de melhorias para a sociedade. Isso posto, ressalta-se a importância da Responsabilidade Social Empresarial, considerando que pode contribuir para o desenvolvimento sustentável, dentro da abordagem do tripé da sustentabilidade (ELKINGTON, 1994) juntamente com a sociedade e em geral com o objetivo principal, de melhorar a qualidade de vida tanto das empresas como para a população. Percebe-se que a empresa que adota a RSE inclui na sua missão refletir sobre os impactos nos cotidianos de uma sociedade. Dessa maneira, a atitude preventiva é mais importante ainda e não apenas reduzir os impactos negativos sobre uma comunidade ou uma sociedade. Vale ressaltar que mesmo que uma empresa apoie o desenvolvimento da comunidade e preservação do meio ambiente, não quer dizer que a empresa seja socialmente responsável. É importante que a mesma invista no bem estar de seus funcionários e dependentes, como também favoreça um local de trabalho saudável. Deve-se também promover comunicações transparentes tanto com os acionistas quanto com os demais stakeholders.Ademais devem assegurar sinergia organizacional e garantir a satisfação dos consumidores ou clientes. Por fim, o bom gestor não pode se preocupar apenas com o sucesso alcançado cumprindo suas metas, mas deve atentar para todos os impactos que a sua empresa promoverá no desenvolvimento de suas atividades. Dessa forma estará se inserindo no mercado de forma responsável e ética.
- 268. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 22 259 REFERÊNCIAS ACCOUNTABILITY PRINCIPLES STANDARD, AA1000, 2008. Versão portuguesa. Disponível em: <http://www.accountability.org/images/content/5/7/573/AA1000APS-2008-PT(print).pdf> Acesso em: 01 jun. 2016. ABS Quality Evaluations. Sistema de Gestão da Responsabilidade Social Disponível em: <http:// www.abs-qe.com/pt/sistema-de-gestao-da-responsabilidade-social.html> Acesso em: 01 jun. 2016. ARAÚJO, Raimundo Wellington. Estratégia e Vantagem Competitiva da Responsabilidade Social Empresarial. Gestão e Regionalidade - Vol. 25 - Nº 74, 2009. ALINERI, Vivien; et al. Análise da gestão da Responsabilidade Social Interna de uma empresa do terceiro Setor. Nucleus. Vol. 5, n. 2, out, 2008. Disponível em: < https://dialnet.unirioja.es/descarga/ articulo/4033575.pdf>. Acesso em: 04 ago. 2016. ASHLEY, P. A. Ética e Responsabilidade Social nos negócios. Rio de Janeiro: Saraiva, 2002. AZEVEDO, Josiele Heide. Responsabilidade social empresarial e educação: estudo de caso do projeto pescar. Tese. Florianópolis, 2008. Disponível em:<http://www.tede.ufsc.br/teses/PEED0673-D. pdf>. Acesso em: 18 abr. 2016. BARNEY, Jay B. Firm resource and sustained competitive advantage. Journal of Management, Stillwater, v. 17, n. 1, p. 99-120, 1991. CHIAVENATO, Idalberto. Recursos Humanos. Ed. compactada. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2002. CORAL, Elisa. Modelo de planejamento estratégico para a sustentabilidade empresarial. Tese (Doutorado em Engenharia da Produção). Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2002. DIEESE – Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Referências intergovernamentais sobre responsabilidade social das empresas. Nota Técnica nº 117, dezembro/2012. ______. Normas sobre responsabilidade social das empresas a ISO 26000 e o GRI. Nota Técnica, nº 121, 2013. .Disponível em: <www.dieese.org.br/notatecnica/2013/notaTec121DesempenhoResponsabilidadeSocial.pdf> Acesso em: 25 mar. 2016. ELKINGTON, J.. Cannibals with forks: the triple bottom line of 21st century business. Stony Creek, CT: New Society Publishers, 1998 DONAIRE, Denis. Gestão ambiental na empresa. 2.ed. São Paulo: Atlas, 1999. ETHOS e SEBRAE. Responsabilidade Social Empresarial para micro e pequenas empresas. São Paulo, 2003. FERREL, O.C; FRAEDRICH, John; FERREL, Linda. Ética empresarial: dilemas, tomadas de decisões e casos. 4 ed. Rio de Janeiro: Reichmann e Affonso, 2000. GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010. GRAJEW, Oded. O que é responsabilidade social. São Paulo: 2000. Instituto Baiano de Metrologia e Qualidade - INMETRO. Disponível em:< http://www.inmetro.gov.br/ qualidade/certificacao.asp > Acesso em: 01 jun. 2016. INSTITUTO ETHOS, Responsabilidade social empresarial e sustentabilidade para a gestão empresarial, 2013. Disponível em: <http://www3.ethos.org.br/cedoc/responsabilidade-social-
- 269. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 22 260 empresarial> Acesso em: 22 abr. 2016. LIMA, Telma Cristiane Sasso de; MIOTO Regina Célia Tamaso. Procedimentos metodológicos na construção do conhecimento científico: a pesquisa bibliográfica. Florianópolis. 2007 LOURENÇO, Alex Guimarães; SCHRÖDER, Deborah de Souza. Responsabilidade Social das empresas: a contribuição das universidades. Vol. II. São Paulo: Peirópolis: Instituto Ethos, 2003. MACHADO, Adriana L. C. S; LAGE, Allene C. Responsabilidade Social: uma abordagem para o desenvolvimento social. O caso da CVRD. XXVI Encontro da Associação Nacional dos Programas de Pós-graduação em Administração. Anais. Salvador, 2002. MAGALHÃES, José Alberto de Oliveira Martelo Paradigma das Vantagens e o Desenvolvimento Empresarial em Portugal. São Paulo, 2003. MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Editora Atlas, 1992. MELO, Cristiana Malfacini; GOMES, Eduardo Rodrigues. NBR 16001: A Norma Brasileira de Gestão da Responsabilidade Social. III SEGeT – Simpósio de Excelência em Gestão e Tecnologia, 2016. Disponível em:< http://www.aedb.br/seget/arquivos/artigos06/761_NBR_16001_artigo.pdf> Acesso em: 02 jun. 2016. MELO NETO, Francisco Paulo; FROES, César. Gestão da responsabilidade social corporativa: o caso brasileiro. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2001. ______. Gestão da responsabilidade social corporativa: o caso brasileiro. 2. ed. Rio de janeiro: Qualitymark, 2004. MICHALISZYN, Mario Sergio; TOMASINI, Ricardo. Pesquisa: orientações e normas para elaboração de projetos, monografias e artigos científicos. Rio de Janeiro: Vozes, 2008. MUELLER, Adriana. A utilização dos indicadores de responsabilidade social corporativa e sua relação com os stakeholders. Dissertação (mestrado) –, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2003. NICOLAU SANTOS, Maria João. Desenvolvimento Sustentável e Responsabilidade Social, in Sociedade e Trabalho. 2005. PORTER, Michael E. Competição: estratégias competitivas essenciais. 14.ed. Rio de Janeiro: Campus, 1999. PORTO DIGITAL, Manual de Responsabilidade Social e Empresarial, Recife, 2011. REALE, Miguel. Lições preliminares de direito. 24 ed. São Paulo: Ed. Saraiva, 1999. RIBEIRO, Rosa Arminda de Carvalho Alves. Responsabilidade Social, estratégia e competitividade. (Dissertação, Mestrado). Instituto Superior de Gestão. Business e Economics School, São Paulo, 2014. SALVADOR, A. D. Métodos e técnicas de pesquisa bibliográfica. Porto Alegre: Sulina, 1986. SARTORI, Simone, LATRÔNICO, Fernanda, CAMPOS, Lucila M.S. Sustentabilidade e Desenvolvimento Sustentável: uma Taxonomia o Campo da Literatura. São Paulo: 2014. SILVA, Ligia Neves. Responsabilidade social empresarial e os paradigmas igualitários da justiça social. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, XIII, n. 82, nov 2010. Disponível em: <http://www. ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=8573>. Acesso em: 04 abr. 2016.
- 270. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 22 261 SILVA, César Augusto Tibúrcio; FREIRE, Fátima de Souza. Balanço social abrangente: um novo instrumento para a Responsabilidade Social das empresas. XXV Encontro da Associação Nacional dos Programas de Pós-graduação em Administração. Campinas/ SP, 2001. SOARES, Gustavo Antunes. Reponsabilidade Social e Empresarial: Teoria e Prática. 2006. 118f. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal da Bahia – UFBA, Salvador, 2006. Disponível em: <http://www.adm.ufba.br/sites/default/files/publicacao/arquivo/ dissertacao_de_gustavo_antunes_soares.pdf>. Acesso em 05 ago. 2016. TENÓRIO, Fernando Guilherme. Responsabilidade Social Empresarial: Teoria e Prática. Rio de Janeiro: Editora FG. – Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006. THIRY-CHERQUES, Hermano Roberto. Responsabilidade moral e identidade empresarial. Rev. Adm. Contemporânea, Curitiba, v. 7, 2003. Disponível em:< http://www.scielo.br/scielo. php?script=sci_arttext&pid=S1415-65552003000500003> Acesso em: 04 out. 2016. URSINI, Tarcila Reis.; SEKIGUCHI, Celso. Desenvolvimento sustentável e responsabilidade social: rumo à terceira geração de normas ISO. IN: Uniemp inovação: inovação e responsabilidade social, São Paulo: Instituto Uniemp, 2005.
- 271. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 23 262 SISTEMA SENSORIAL: UMA DINÂMICA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CAPÍTULO 23 doi Helen Caroline Valter Fischer Universidade Estadual do Centro Oeste do Paraná UNICENTRO Guarapuava – Paraná Glaucia Renee Hilgemberg Universidade Estadual do Centro Oeste do Paraná UNICENTRO Guarapuava – Paraná Larissa de Lima Faustino Universidade Estadual do Centro Oeste do Paraná UNICENTRO Guarapuava – Paraná Juliana Sartori Bonini Universidade Estadual do Centro Oeste do Paraná UNICENTRO Guarapuava – Paraná RESUMO: O conhecimento sobre ciências biológicas é introduzido aos alunos a partir das séries iniciais, sendo apresentado de modo fragmentado e evolutivo. Sistemas mais complexos serão lecionados somente após a introdução de conceitos básicos, conforme sugere a “Diretriz Curricular”. Para haver um aprendizado significativo há a necessidade de que o aluno consiga relacionar os conteúdos aprendidos com o passar do ano letivo. Atividades práticas e interativas têm como propósito elucidar conteúdos em que o estudante apresenta uma dificuldade maior de compreensão, assim como demonstrar de maneira mais interativa a relação de diversos temas, que podem ter sido interpretados pelos alunos erroneamente. Através de uma dinâmica realizada em um colégio estadual na região de Guarapuava, Paraná com alunos do 6º ano do ensino fundamental sobre a relação que há entre sistema sensorial do ser humano e o cérebro, procurando demonstrar que todos os sentidos se correlacionam, bem como podem ser afetados pelo mau funcionamento de outro sentido, fato que os alunos demonstraram ter conhecimento empiricamente. No início das atividades realizou-se uma explicação geral do tema escolhido, retomando conceitos já aprendidos, assim como uma relação do sistema sensorial com o sistema nervoso central e como ocorre a transmissão de cada órgão responsável pelo sentido até o mesmo, procurando explicar de maneira simples, porém com um viés científico. Os estudantes de modo geral demonstraram mais atenção ao utilizar um método diferente para explicar um conceito que está presente em seu cotidiano. PALAVRAS-CHAVE: Ensino de ciências, Aprendizado significativo, Sistema Sensorial. SENSORY SYSTEM: A DYNAMIC FOR ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS ABSTRACT:Theknowledgeaboutthebiological sciences is introduced in the schools since the initial grades, being presented in a fragmented and evolutionary way. More complex systems are taught only after an introduction of basic
- 272. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 23 263 concepts, as suggested by a "Curriculum Director." In order to provide meaningful learning, there is the need for the student to be able to relate the contents learned over the school year. The practical and interactive practices are intended to elucidate contents in which the student presents a greater difficulty of understanding, as well as to demonstrate in a more dynamic way a relation of diverse subjects that may have been interpreted wrongly by the students. Through a dynamic carried out in a state college in the region of Guarapuava, Paraná, with students from the 6th grade, it was hoped to demonstrate, through interactive activities, a relation with a sensorial system of the human being and brain, trying to demonstrate that all the meanings correlate as well as may be affected by the malfunctioning of another sense, a fact that the students have demonstrated to have knowledge empirically. At the beginning of the activities, a general explanation of the chosen theme will took place, taking up already learned concepts, as well as a relation of the sensorial system with the central nervous system and how a transmission of each organ responsible for the sense until the same will happen, but with a scientific bias. Students in general have shown more attention to using a different method to explain a concept that is presented in their daily lives. KEYWORDS: Science teaching, Sensorial System, Meaningful Learning 1 | INTRODUÇÃO O conhecimento sobre ciências biológicas é introduzido aos alunos a partir das séries iniciais, sendo apresentado de modo fragmentado e evolutivo. Sistemas mais complexos serão lecionados somente após a introdução de conceitos básicos. Segundo a Diretriz Curricular da Educação Básica (BRASIL, 2008) os professores são responsáveis por realizar instrumentos para que os alunos obtenham uma aprendizagem significativa sobre estes assuntos. A abordagem desses conteúdos específicos deve contribuir para a formação de conceitos científicos escolares no processo ensino-aprendizagem da disciplina de Ciências e de seu objeto de estudo [...] levando em consideração que, para tal formação conceitual, há necessidade de se valorizar as concepções alternativas dos estudantes em sua zona cognitiva real e as relações substantivas que se pretende com a mediação didática. (BRASIL, 2008, p. 84). Nas séries iniciais o aluno aprende através de métodos em que ele possa compreender de maneira clara envolvendo os conteúdos ensinados a seu cotidiano, para que esta haja esta relação são realizadas explicações de maneira mais lúdica, para facilitar que o entendimento independente de sua idade. Entretanto ao recorrer a métodos alternativos o aluno pode interpretar algo abstrato a sua própria maneira, ou, não conseguir conectar os diversos conteúdos entre si, criando assim uma concepção alternativa sobre o assunto ensinado. Estudos realizados na área de educação buscam investigar o conhecimento de
- 273. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 23 264 crianças sobre conceitos básicos de ciências biológicas e/ou naturais, bem como, microrganismos, seres vivos, funcionamento de certos órgãos, sentidos, entre outros (KWEN, 2005; KRASILCHIK, 2000). O’Neill et al (2001) em um estudo realizado com crianças entre três e quatro anos demonstraram que a partir desta idade elas já possuem a percepção sobre o que são os cinco sentidos, quais são e como funcionam de uma maneira superficial. Para haver um aprendizado significativo há a necessidade de que o aluno consiga relacionar os conteúdos aprendidos com o passar do ano letivo, de que ele consiga ver o sistema do corpo como um conjunto de terminações. Objetivo pretendido de acordo com a visão holística, pois dentro desta visão é abordado o sistema como um todo. São consideradas todas as facetas da experiência humana, não só o intelecto racional e as responsabilidades de vocação e cidadania, mas também os aspectos físicos, emocionais, sociais, estéticos, criativos, intuitivos e espirituais inatos da natureza do ser humano. (Yus, 2002, p. 16) O conceito da visão holística está sendo cada vez mais discutido e visado, pois o principal objetivo dos professores, independente de sua matéria deve ser de que o conhecimento não seja algo passageiro, ou somente decorado para obter um bom conceito ao final do ano. Mas sim um aprendizado que possa acompanhar o estudante durante toda sua vida acadêmica. (UNESCO, 1996) A partir deste conceito podem-se utilizar atividades práticas e interativas que têm como propósito elucidar conteúdos em que o estudante apresenta uma dificuldade maior de compreensão, assim como demonstrar de maneira mais dinâmica a relação de diversos temas, que podem ter sido interpretados pelos alunos erroneamente. (HENNING, 1998) O presente trabalho teve como objetivo promover o pensamento cientifico sobre o sistema sensorial entre alunos do 6° ano do ensino fundamental, na cidade de Guarapuava, Paraná. 2 | METODOLOGIA Participaram da pesquisa alunos de cinco turmas do 6º ano do ensino fundamental do Colégio Estadual Padre Chagas, Guarapuava, Paraná. Com a duração aproximada de duas aulas letivas (100 minutos), na semana de 13 a 18 de março de 2017. Onde foram desenvolvidas palestras e dinâmicas, ministradas por alunas do laboratório de Neurociências e Comportamento, da Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná, sendo composto por um grupo interdisciplinar. Esta pesquisa está integrada ao projeto “Educação Científica: da Universidade à Escola – Popularização da Ciência no Município de Guarapuava, Região Centro- Sul do Paraná”, respeitando os aspectos éticos. determinados pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade do Centro-Oeste, aprovado número de parecer
- 274. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 23 265 10.9284/2016. Através da realização de uma palestra introdutória, o tema “Sistema Sensorial” foi apresentado aos alunos. Procurando definir quais são os sentidos contidos neste sistema e como funcionam, com o objetivo de observar os conceitos empíricos demonstrados pelos alunos. Logo após, houve a realização de uma dinâmica, onde foram dispostos na sala cinco espaços, para realizar os experimentos de cada sentido. Estes espaços foram denominados “estações”, onde se dirigiam um grupo de alunos por vez. Partindo da especificidade de cada sentido, explicando o funcionamento do sentido de sua estação para o grupo de alunos presentes mais profundamente, e então eram realizados experimentos sensoriais para elucidar o tema. Após terminar as atividades de uma estação eram deslocados à estação seguinte. Em todas as “estações” foram distribuídos aos alunos, uma venda, papel e lápis. 2.1 Estação do Paladar Figura 1 – Imagens da “Estação do Paladar” Fonte: arquivos dos autores (2017) O objetivo desta dinâmica era determinar quais alimentos estavam sendo consumidos. Os alunos eram convidados a colocar uma venda e então experimentavam o alimento, como mostra a Figura 1. Após servir todos os alunos, o alimento era guardado, pedindo aos alunos para retirar as vendas e anotar o que eles achavam ter consumido, ou, o que o alimento lhes lembrava. Após realizar o mesmo procedimento com cinco alimentos diferentes, ao final da estação ocorria à discussão de quais alimentos havia sido consumido. 2.2 Estação do Olfato Nesta estação, os alunos sentiam o cheiro de uma substância e deviam anotar o que era através do odor, ou, o que o cheiro lhes lembrava, como ilustra a Figura 2.
- 275. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 23 266 Figura 2 – Imagens da “Estação do Olfato” Fonte: arquivos dos autores (2017) Após o elemento passar por todos os alunos, era permitida a retirada da venda e então, anotava-se e ao final de todos os elementos, era discutido sobre o que haviam sentido. Para a realização desta dinâmica, procurou-se utilizar os alimentos mais comuns possíveis no cotidiano dos alunos, como, café, cebola, assim como outros alimentos com forte odor característico. 2.3 Estação do Tato Na estação do tato, eram distribuídos objetos para realizar o reconhecimento através do toque. Semelhante às demais estações foram estregues materiais para que os alunos anotassem o que haviam sentido, e após todos os objetos serem utilizados, os alunos discutiam suas respostas. A Figura 3, ilustra esta estação. Figura 3 – Imagens da “Estação do Tato” Fonte: arquivos dos autores (2017) 2.4 Estação da Audição Nesta estação, explicou-se de maneira mais aprofundada os ossos presentes no ouvido e como funcionam. Para realizar a dinâmica desta estação utilizou-se um aplicativo gratuito de celular, onde, eram gerados sons aleatórios escutados pelos alunos, como mostra a Figura 4.
- 276. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 23 267 Figura 4 – Imagens da “Estação da Audição” Fonte: arquivos dos autores (2017) Após o som passar por todos os alunos, os resultados anotados eram discutidos. 2.5 Estação da Visão A dinâmica nesta estação foi composta por uma apresentação de slides com diversas imagens, com diferentes objetivos, ilustrado na Figura 5. Figura 5 – Imagens da “Estação da Visão” Fonte: arquivos dos autores (2017) Através da utilização de imagens de ilusão de ótica, procurou-se demonstrar aos alunos como se dá a decodificação de imagens em nosso cérebro. Após todos anotarem o que conseguiam ver nas imagens o conteúdo era discutido. 3 | RESULTADOS E DISCUSSÃO Pode-se analisar durante as dinâmicas de uma maneira mais acentuada as dúvidas que os alunos possuíam. Muitos demonstraram conceitos limitados sobre
- 277. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 23 268 os sentidos, à função de alguns órgãos e suas funcionalidades. A falta de clareza na definição destes podem ter sido responsáveis por gerar um conceito alternativo por parte dos alunos, fato que foi observado em diversas estações. 3.1 Estação do Paladar O órgão responsável pelo paladar é a língua, a sensação do gosto é transmitida através de receptores químicos, denominados Papilas Gustativas. Entretanto, o paladar não é o único responsável pelo gosto, segundo Pedroso (2010. Pg. 15) “Esses sentidos trabalham conjuntamente na percepção dos sabores. O centro do olfato e do gosto no cérebro combina a informação sensorial da língua e do nariz”. Durante as dinâmicas, procurou-se aproveitar os conteúdos que eles demonstravamcompreender,comoasáreasnalínguaresponsávelpeloreconhecimento de gostos, como, azedo, salgado, doce entre outros gostos. Os assuntos foram então relacionados com seu cotidiano, realizando perguntas aos alunos para garantir uma maior desenvoltura acerca do assunto abordado. A“Estação do Paladar” foi a estação com maior receptividade por parte dos alunos, muitos demonstraram um conhecimento maior sobre este tema, do que os demais. Diversos termos científicos relacionados ao paladar já eram conhecidos, como, Papilas Gustativas, os estudantes sabiam que o reconhecimento dos gostos, amargos, doce, salgado se davam em determinada área da língua devido às papilas. Entretanto, ao serem questionados como ocorre esse reconhecimento, eles demonstravam incerteza. Procurou-se então, explicar aos alunos como se dá a reação do paladar ao se consumir algo, se tratando de receptores químicos, e como o cérebro reage para que o gosto seja sentido. 3.2 Estação do Olfato O olfato é responsável pelo reconhecimento de odores, semelhantemente ao paladar ele opera através de receptores químicos, porém estes receptores estão localizados no nariz. Sabe- se que ele é responsável pelo reconhecimento de grande parte dos alimentos (MARTIN, 1951, p. 234). Na estação do olfato pode-se observar que os alunos conseguiam compreender o funcionamento do órgão responsável pelo olfato com uma maior facilidade. Procurou-se instiga-los a discutir se o olfato e paladar trabalham em conjunto para o reconhecimento de alimentos, através da realização de uma dinâmica, onde um voluntário ingere canela com os olhos e nariz obstruídos. Ao ser questionado sobre o que está ingerindo o aluno diz que o que lhe foi dado era farinha de trigo. Os alunos demonstraram bastante interessante quanto ao experimento, muitos afirmaram já não ter sentido o gosto de alimentos quando gripados, porém não sabiam o motivo para tal fenômeno.
- 278. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 23 269 3.3 Estação do Tato Segundo Guyton (2011, p. 603) “A sensibilidade tátil resulta geralmente da estimulação dos receptores para o tato na pele ou nos tecidos imediatamente abaixo da pele”. Na estação do tato, ao perguntar aos alunos, qual órgão é responsável pelo mesmo, à resposta obtida de maneira geral, foram “as mãos”, entretanto, os estudantes demonstraram grande incerteza ao fornecer essa resposta, pois, alguns diziam ser os pés, ou, dedos responsáveis por esta sensação. Neste caso, a concepção incorreta sobre órgãos impediu os alunos de relacionar o órgão envolvido em todas as respostas dadas, a pele. Ao informar aos estudantes que a pele seria a resposta correta, eles indicaram surpresa, como se a resposta dada fosse uma novidade até então. Uma vez apresentada a função da pele, o tema foi mais facilmente compreendido. 3.4 Estação da Audição O órgão responsável pela audição é o ouvido, sendo este composto por três ossos internos que operam juntamente na transmissão do som, através de vibrações (MARTIN, 1951). Na estação da audição, observou-se que eles demonstraram confusão sobre como se dá o funcionamento da audição, reconhecendo o ouvido como único responsável pelo reconhecimento de som, como apenas um órgão por onde o som passa. Ao relembra-los sobre a orelha interna eles admitiram que havia algo a mais no ouvido para que o som fosse reconhecido, entretanto não sabiam especificar o que seria. 3.5 Estação da Visão O órgão responsável pela visão são os olhos. “Os sinais visuais saem das retinas pelos nervos ópticos” (GUYTON, 2011, p. 631). Arecepção da imagem na retina e como se dá o funcionamento do reconhecimento visual, foi abordado durante a palestra introdutória, assim como, na estação da visão. Através de imagens para que houvesse uma assimilação melhor. Nas estações da visão e audição, foram onde houve a maior falta de compreensão sobre como ocorre a percepção destes sentidos, por parte dos alunos. Na “Estação da Visão”, os alunos sabiam que os olhos eram os órgãos responsáveis pelo sentido, entretanto, eles apresentavam dificuldades em entender como se dá a visão. O reconhecimento através da retina, como o cérebro decodifica a imagem, foram conceitos introduzidos, ou, relembrados na estação. 4 | CONSIDERAÇÕES FINAIS Através de dinâmicas é possível elucidar conteúdos vistos em aulas de maneira que haja uma participação e interesse maior por parte dos alunos. Quando os
- 279. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 23 270 estudantes conseguem relacionar o que aprenderam com práticas, há mais chances de que o conteúdo irá acompanhar o aluno durante sua vida acadêmica. Permitir que o aluno tenha acesso a um ambiente informal de ensino, irá lhe dar maior liberdade para levantar questionamentos, como se pode observar ao decorrer das atividades propostas. Os alunos demonstraram ter esquecido alguns órgãos, ou, definições já estudadas, porém quando estimulados houve o reconhecimento de diversos conceitos ditos durantes as dinâmicas e as palestras, porém havia confusão, ou, incerteza quando questionados sobre o tema. Dentro do ambiente informal fornecido, os alunos se sentiram mais à vontade para demonstrar suas dúvidas quanto aos temas dispostos. Assim como muitos, se envolveram nas dinâmicas revelando o que sabiam sobre os assuntos, o que facilitou na conversação e na explicação de conceitos em que eles apresentavam dúvidas. 5 | AGRADECIMENTOS Os autores gostariam de agradecer aAssociação de Estudos, Pesquisas eAuxílio às Pessoas com Alzheimer (AEPAPA), a Fundação Araucária, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoa de nível Superior (CAPES) e a Rede Nacional Leopoldo de Meis de Educação e Ciências. (RNLMEC). REFERÊNCIAS BRASIL. Secretaria de Estado da Educação do Paraná. Diretrizes Curriculares da Educação Básica. 2008. BRASIL. Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Educação um tesouro a descobrir: Relatório para a UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação para o século XXI, Brasília, janeiro de 1998. GUYTON, A. C, Et al. Tratado de Fisiologia Médica, 12.ed. [S.I]: Elsevier editora Ltda, 2011. HENNING, Geor J. Metodologia do ensino de ciências, 3 ed. [S.I], Mercado Aberto Ltda,1998. MARTIN, John H. Neuroanatomia: Texto e Atlas, 4. ed. [S.I],Porto Alegre, 2013. O’NEILL, Daniela K; Chong, Selena C.F. Childen’s Difficulty Understanding the Types of Information Obtained through the Five Senses, [S.I], v 72, p.1-5. Junho 2001. Disponível em: < https://pdfs.semanticscholar.org/15d7/6d91b43bbd858f5169c0a17724b930ab2d06.pdf> Acesso em: 03 de maio de 2017. PEDROSO, Ana Cláudia. Sistema Sensorial. 2010.25 slides. Apresentação em Power Point KWEN,Boo Hong. Teacher’s Misconceptions of Biological Sciences Concepts as Revealed in Science Examination Papers, [S.I]
- 280. Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Sobre o Organizador 271 Willian Douglas Guilherme: Pós-Doutor em Educação, Historiador e Pedagogo. Professor Adjunto da Universidade Federal do Tocantins e líder do Grupo de Pesquisa CNPq “Educação e História da Educação Brasileira: Práticas, Fontes e Historiografia”. E-mail: williandouglas@uft.edu.br SOBRE o Organizador



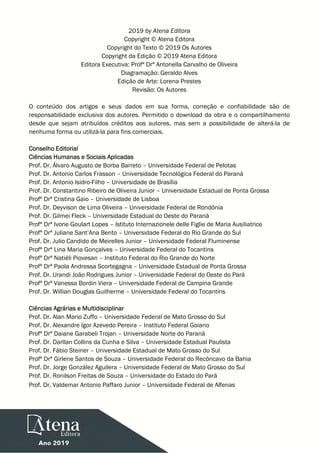
![Ciências Biológicas e da Saúde
Prof. Dr. Gianfábio Pimentel Franco – Universidade Federal de Santa Maria
Prof. Dr. Benedito Rodrigues da Silva Neto – Universidade Federal de Goiás
Prof.ª Dr.ª Elane Schwinden Prudêncio – Universidade Federal de Santa Catarina
Prof. Dr. José Max Barbosa de Oliveira Junior – Universidade Federal do Oeste do Pará
Profª Drª Natiéli Piovesan – Instituto Federal do Rio Grande do Norte
Profª Drª Raissa Rachel Salustriano da Silva Matos – Universidade Federal do Maranhão
Profª Drª Vanessa Lima Gonçalves – Universidade Estadual de Ponta Grossa
Profª Drª Vanessa Bordin Viera – Universidade Federal de Campina Grande
Ciências Exatas e da Terra e Engenharias
Prof. Dr. Adélio Alcino Sampaio Castro Machado – Universidade do Porto
Prof. Dr. Eloi Rufato Junior – Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Prof. Dr. Fabrício Menezes Ramos – Instituto Federal do Pará
Profª Drª Natiéli Piovesan – Instituto Federal do Rio Grande do Norte
Prof. Dr. Takeshy Tachizawa – Faculdade de Campo Limpo Paulista
Conselho Técnico Científico
Prof. Msc. Abrãao Carvalho Nogueira – Universidade Federal do Espírito Santo
Prof.ª Drª Andreza Lopes – Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Acadêmico
Prof. Msc. Carlos Antônio dos Santos – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
Prof.ª Msc. Jaqueline Oliveira Rezende – Universidade Federal de Uberlândia
Prof. Msc. Leonardo Tullio – Universidade Estadual de Ponta Grossa
Prof. Dr. Welleson Feitosa Gazel – Universidade Paulista
Prof. Msc. André Flávio Gonçalves Silva – Universidade Federal do Maranhão
Prof.ª Msc. Renata Luciane Polsaque Young Blood – UniSecal
Prof. Msc. Daniel da Silva Miranda – Universidade Federal do Pará
Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(eDOC BRASIL, Belo Horizonte/MG)
C764 Contradições e desafios na educação brasileira 3 [recurso eletrônico]
/ Organizador Willian Douglas Guilherme. – Ponta Grossa, PR:
Atena Editora, 2019. – (Contradições e Desafios na Educação
Brasileira; v. 3)
Formato: PDF
Requisitos de sistema: Adobe Acrobat Reader
Modo de acesso: World Wide Web
Inclui bibliografia
ISBN 978-85-7247-375-0
DOI 10.22533/at.ed.750190106
1. Educação e Estado – Brasil. 2. Educação – Aspectos sociais.
3. Educação – Inclusão social. I. Guilherme, Willian Douglas. II. Série.
CDD 370.710981
Elaborado por Maurício Amormino Júnior | CRB6/2422
Atena Editora
Ponta Grossa – Paraná - Brasil
www.atenaeditora.com.br
contato@atenaeditora.com.br](https://image.slidesharecdn.com/e-book-contradicoes-e-desafios-da-educacao-brasileira-3-191106203520/85/Contradicoes-e-Desafios-na-Educacao-Brasileira-3-4-320.jpg)







![Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 1 3
[...] pequenos agricultores, quilombolas, povos indígenas, pescadores,
camponeses, assentados, reassentados, ribeirinhos, povos da floresta, caipiras,
lavradores, roceiros, sem terra, segregados, caboclos, meeiros, boias-frias e outros
grupos mais. Entre estes há os que estão ligados a alguma forma de organização
popular, outros não; há ainda as diferenças de gênero, de etnia, de religião, de
geração; são diferentes jeitos de produzir e de viver; diferentes modos de olhar o
mundo, de conhecer a realidade e de resolver os problemas; diferentes jeitos de
fazer a própria resistência no campo; diferentes lutas.
É imperioso destacar ainda que a Educação do Campo era denominada Educação
Rural. Hoje os sujeitos sociais do Movimento Nacional de Educação do Campo assim
a definem e, de acordo com Fernandes; Cerioli; Caldart(2004) a decisão de mudar a
expressão “rural” por “campo” objetivou uma reflexão acerca de como vem sendo
tratado o trabalho camponês, as lutas sociais e culturais que as pessoas da Educação
do Campo enfrentam para garantirem sua sobrevivência.
O diálogo sobre a Educação do Campo, nos remete a falar sobre a Primeira
Conferência Nacional “Por uma Educação Básica do Campo” de 1998, a qual objetivou
“[...] ajudar a recolocar o rural, e a educação que a ele se vincula, na agenda política do
país […]” (FERNANDES; CERIOLI; CALDART; 2004 p. 22). Neste sentido, a pretensão
desta Conferência foi “[...] conceber uma educação básica do campo, atendendo as
suas diferenças históricas e culturais [...]”. (FERNANDES, CERIOLI; CALDART; 2004
p. 27). Desta forma, o ensino será mais significativo e condizente com a realidade,
necessidade e cultura do povo que vive, estuda e sobrevive do trabalho do campo.
A Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional-LDBEN 9394/96(BRASIL,
1996), apresenta em seu contexto “avanços” que proporcionou conquistas voltadas às
políticas educacionais para o campo. De acordo com a LDBEN 9394/96, o conceito de
educação é definido de forma ampla, assim enfatiza que:
A educação deve abranger os processos formativos que se desenvolvem na vida
familiar, na convivência humana, no trabalho nas instituições de ensino e pesquisa,
nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações
culturais (Art. 1º da LDBEN 9394/96).
Deste modo, a LDBEN 9394/96 contempla a Educação do Campo, considerando
ainda os movimentos sociais e as manifestações culturais expressas pelos sujeitos do
campo.
3 | DEFICIÊNCIA INTELECTUAL
A concepção das pessoas sobre deficiência vem se modificando ao longo dos
anos, mas, isso não representa, necessariamente a ruptura do processo de preconceito,
discriminação e descaso a que, em alguns momentos, a sociedade, a escola e a família
submete as pessoas com deficiência. Atualmente, mesmo diante das descobertas
científicas acerca das capacidades que elas têm, ainda existem educadores, pais,](https://image.slidesharecdn.com/e-book-contradicoes-e-desafios-da-educacao-brasileira-3-191106203520/85/Contradicoes-e-Desafios-na-Educacao-Brasileira-3-12-320.jpg)
![Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 1 4
professores; que são incrédulos em relação ao desenvolvimento deste público, pois
não consideram e, em alguns casos, ignoram o potencial e as competências que eles
têm.
Nesta perspectiva, resolveu-se destacar aqui o conceito de deficiência intelectual
segundo a American Association on Intelectual and Developmental Disabilities-AAIDD
(2010), a qual define a deficiência como “[...] uma incapacidade caracterizada por
limitações significativas no funcionamento intelectual e no comportamento adaptativo,
e, que, geralmente, se expressa nas habilidades sociais, conceituais e práticas”
(AAIDD, 2010).
A LDBEN (BRASIL, 1996), prevê a “igualdade de condições para o acesso
e permanência na escola” e a “garantia do padrão de qualidade” (BRASIL, 1996).
Vale destacar que além da LDBEN, a Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988)
também contempla esse princípio, e no art. 208, inciso III, o qual aborda que o
Atendimento Educacional Especializado às pessoas com deficiência deve ser ofertado
“preferencialmente” na rede regular de ensino.
É imperioso ressaltar que o direito das pessoas caracterizadas com deficiência
intelectual a escolarização no ensino regular, demanda a oferta de Atendimento
Educacional Especializado, serviço de apoio permanente, seja o aluno da zona urbana
ou rural. Nozu e Bruno (2017, p.02) ressalta que:
[…] estas previsões textuais apresentam fragilidade de conceitos e ausência de
diretrizes quanto ao modus operandi desta interface, o que nos leva a entendê-la
como um constructo discursivo das políticas educacionais configurado como uma
justaposição formal entre as modalidades de Educação Especial e Educação do
Campo.
Pode-se dizer que apesar da interface entre Educação Especial e Educação do
Campo estarem contempladas na legislação, as pesquisas revelam que esta ainda
não está sendo efetivada. Marcoccia(2011) corrobora com esse pensamento, pois
destacou em seu estudo que os alunos caracterizados com deficiência intelectual não
estão usufruindo de seus direitos.
4 | O MATERIALISMO HISTÓRICO-DIALÉTICO E OS FUNDAMENTOS DA
PEDAGOGIA HISTÓRICO- CRÍTICA
Inicialmente convém apresentar sucintamente conceitos do Materialismo Histórico
Dialético; e da Pedagogia Histórico Critica, sua contextualização teórica, destacando
na concepção de Dermeval Saviani a educação escolar e como deve dar-se a práxis
educativa diante do processo de escolarização.
A perspectiva teórico-metodológica da investigação terá base no materialismo
histórico-dialético, que segundo Saviani (2012, p.76) refere-se a “[...] compreensão da
história a partir do desenvolvimento material, da determinação das condições materiais](https://image.slidesharecdn.com/e-book-contradicoes-e-desafios-da-educacao-brasileira-3-191106203520/85/Contradicoes-e-Desafios-na-Educacao-Brasileira-3-13-320.jpg)
![Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 1 5
da existência humana [...]”. Para Triviños(2012) o processo de desenvolvimento
da pesquisa de cunho materialista apresenta a “contemplação viva” do fenômeno,
a “análise do fenômeno” e a “realidade concreta do fenômeno”. Nesta perspectiva,
este estudo apoiou-se nos fundamentos da Pedagogia Histórico-Crítica de Dermeval
Saviani.
De acordo com Saviani (2012, p.120) a Pedagogia- Histórico -Critica “[...] trata-
se de uma dialética histórica expressa no materialismo histórico [...]”. O autor destaca
ainda que a “[...] educação é vista como mediação no interior da prática social global.
A prática é o ponto de partida e o ponto de chegada [...]”. Para Saviani (2012, p.120)
a práxis é:
[...] uma prática fundamentada teoricamente [...] a prática desvinculada da teoria
é puro espontaneísmo [...] a prática é ao mesmo tempo, fundamento, critério de
verdade e finalidade da teoria [...] A prática para desenvolver-se e produzir suas
consequências necessita da teoria e precisa ser por ela iluminada [...].
A Pedagogia Histórico Crítica surgiu mediante a emergência de um movimento
pedagógico com características especificas que demandava uma nomenclatura. Ela,
enquanto movimento pedagógico “[...] veio responder a necessidade de encontrar
alternativa a pedagogia dominante [...] (SAVIANI, 2012, p.11)”.
É notória a relação que há entre a Pedagogia Histórico Crítica e a realidade
escolar, pois a concepção histórica crítica surgiu a partir “[...] de necessidades postas
pela prática dos educadores nas condições atuais [...]” (SAVIANI, 2012, P. 80). É
imperioso ressaltar que ela prioriza a história do indivíduo, sua realidade social e a
partir desta responde aos problemas educacionais, dentre eles está a escolarização
dos alunos com deficiência na Educação do Campo, foco deste estudo.
De acordo com Saviani (2012, p.14) a escola é [...] uma instituição cujo papel
consiste na socialização do saber sistematizado [...]. Vale destacar que quando o
autor fala sobre a socialização do saber não está se referindo ao mero trabalho de
interação e convivência, mas sim, da aquisição do conhecimento, da alfabetização e
da formação do indivíduo.
Saviani (2012, p.120) enfatiza que “a prática é o ponto de partida e o ponto de
chegada [...]”. Gasparin (2012, p.130) corrobora com o pensamento de Saviani ao
enfatizar que “Uma das formas de motivar o aluno é conhecer sua prática social imediata
a respeito do conteúdo curricular. Acredita-se que assim há maiores possibilidades de
escolarização aos alunos caracterizados com deficiência da que estudam e vivem no
campo, pois propiciar isso a eles vai além da oferta da mera socialização, convivência,
pois eles, assim como os demais necessitam apropriar-se do conhecimento.
Saviani (2012, p.91) deixa claro ainda que “[...] A ação educativa, portanto,
desenvolve-se a partir de condições materiais e em condições também materiais.
Diante do exposto, questionou-se: como se dá a educação matemática dos estudantes
com deficiência intelectual nas escolas do campo? Que compreensão os professores](https://image.slidesharecdn.com/e-book-contradicoes-e-desafios-da-educacao-brasileira-3-191106203520/85/Contradicoes-e-Desafios-na-Educacao-Brasileira-3-14-320.jpg)
![Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 1 6
de matemática têm desse processo?
5 | A EDUCAÇÃO MATEMÁTICA NO PROCESSO DE ESCOLARIZAÇÃO DOS
ALUNOS CARACTERIZADOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL
A matemática está presente em nosso dia-a-dia, sendo uma necessidade de
cada indivíduo então compreendê-la de uma maneira significativa, o que é essencial
para entender suas reais funções e utilizações no decorrer de nossas vidas, de nossa
escolarização. Neste sentido, o papel do professor, sua práxis é fundamental para que
o aluno tenha a oportunidade de adquirir saberes, conhecimento.
Diante da conjuntura atual, o professor deve se preparar, se qualificar para a
mediação do conhecimento, conhecimento este que deve ser oferecido a todos os
alunos, inclusive aos alunos com deficiência, pois é um direito deles e o mesmo tem
que ser efetivado, respeitado. Moreira e Manrique (2013, p.15) deixam claro que:
[...] os professores que ensinam Matemática, e que estão diretamente envolvidos
com o aluno especial e com a Educação Especial em geral, precisam estar mais
bem preparados para lidarem com alunos com NEE, uma vez que todas as escolas
são consideradas inclusivas e, por força da lei, são obrigadas a atender todos os
tipos de alunos sob pena de responderem por prática de exclusão e preconceito.
De acordo com Dias e Oliveira (2013) a deficiência intelectual não deve ser vista
como uma impossibilidade no desenvolvimento do intelecto, pois cada indivíduo tem
suas singularidades, particularidades, um modo de se relacionar com o meio social
e formas diferentes de aprender. Nesta perspectiva, cabem aos professores buscar
metodologias variadas para propiciar a escolarização dos alunos, inclusive os com
deficiência intelectual.
Nesta perspectiva, o papel do professor de matemática é propiciar aos alunos
um ensino dinâmico, prazeroso e principalmente significativo para os alunos, assim ele
não deve insistir “[...] na solução de exercícios repetitivos e exaustivos, pretendendo
que o aprendizado ocorra pela mecanização ou memorização e não pela construção
do conhecimento através das aptidões adquiridas”. (CERCONI; MARTINS, 2014, p. 3)
O professor de matemática deve ter uma nova postura diante do desafio da
escolarização dos alunos com deficiência, para isso, necessita realizar um trabalho
coletivo, onde possa estar articulados com a comunidade, alunos, professores e demais
profissionais da escola, pois “[...] a colaboração entre o professor da sala comum com
o profissional da Educação Especial pode fazer total diferença quanto à qualidade da
aquisição dos conceitos educacionais”. (BRITO; CAMPOS; 2012 p.07).
Deste modo, o processo de escolarização dos alunos com deficiência intelectual
não pode ser realizado de forma individual, isolado, pois eles têm suas necessidades,
limitações e precisam de apoio, de acesso, de oportunidade para construir o seu](https://image.slidesharecdn.com/e-book-contradicoes-e-desafios-da-educacao-brasileira-3-191106203520/85/Contradicoes-e-Desafios-na-Educacao-Brasileira-3-15-320.jpg)
![Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 1 7
conhecimento.
Nesta perspectiva, Cruz e Szymanski (2013, p.16) aconselham que:
[...] na área de Matemática, os cursos de formação docente, inicial e continuada,
dispensem mais atenção às discussões sobre as especificidades do trabalho
pedagógico na Educação do Campo, aprofundando a discussão sobre os
conceitos de contextualização e descontextualização, possibilitando ao professor
desempenhar o papel de mediador no processo de apropriação, pelo aluno, das
Leis matemáticas para que ele possa utilizá-las nos diversos contextos em que elas
se apliquem.
DeacordocomaBaseNacionalComumCurricular-BNCC(BRASIL,2017)osalunos
do ensino fundamental devem tornar-se capazes de “[...] identificar oportunidades de
utilização da matemática para resolver problemas, aplicando conceitos, procedimentos
e resultados para obter soluções e interpretá-las segundo os contextos das situações.”
(BRASIL, 2017, p.263). Diante do exposto, o papel do professor deste componente
curricular é propiciar aos alunos com deficiência intelectual o aprendizado, a aquisição
de saberes; e não apenas possibilitar a socialização, a convivência.
6 | O CAMPO DE ESTUDOS: METODOLOGIA E PROCEDIMENTOS
O estudo foi realizado em duas escolas da Educação do Campo, com três
professores, todos voluntários. Os participantes são professores efetivos e seletivados
da educação básica da rede estadual do município de Boa Vista- Roraima com os
quais realizou-se entrevistas individuais, semiestruturadas. Cada entrevista durou, em
média, 30 (trinta) minutos.
O estudo em questão foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisas a Seres
Humanos da Universidade Estadual de Roraima-UERR, sendo aprovado mediante
Parecernº76902317.3.0000.5621.Oconviteàparticipaçãofoifeitopelaspesquisadoras
e firmado mediante a concordância e assinatura no Termo de Esclarecimento Livre
Esclarecido-TCLE.
Foram incluídos para participar da pesquisa os professores que ministram
a disciplina de matemática, que estavam atuando com os alunos com deficiência
intelectual. Os professores participantes da pesquisa tiveram a identidade preservada,
sendo identificados da seguinte maneira: PM: Professor de Matemática. Atribuiu-se a
para cada um dos participantes uma ordem numérica, para assim diferenciá-los: por
exemplo, PM1 refere-se a Professor de Matemática 1.
Ressaltando sobre o número dos entrevistados, Turato (2003, p. 375) enfatiza
que:
[...] se queremos estudar os sentidos e significações que certos fenômenos têm
para as pessoas ou para a sociedade, recorremos a estudos em profundidade dos
elementos que objetivamos (com amostras em que a “pré-ocupação” com número
não faz sentido).](https://image.slidesharecdn.com/e-book-contradicoes-e-desafios-da-educacao-brasileira-3-191106203520/85/Contradicoes-e-Desafios-na-Educacao-Brasileira-3-16-320.jpg)
![Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 1 8
O estudo adotou a perspectiva teórico-metodológica do materialismo histórico-
dialético e os fundamentos da Pedagogia Histórico- Critica, que deram suporte para o
desenvolvimento deste estudo.
7 | RESULTADOS E DISCUSSÕES
As escolas estaduais da Educação do Campo no município de Boa Vista contavam
com um total de 11 alunos público-alvo da Educação Especial matriculados, sendo 2
com deficiência múltipla (deficiência intelectual e física), 1 aluno com síndrome de Rett
e 8 com deficiência intelectual. Ambas as escolas contavam com um quadro completo
de professores formados na área de matemática, sendo dois efetivos e um do quadro
temporário. Vale destacar ainda que as mesmas tinham professores para o serviço de
apoio permanente e para a sala de recursos multifuncionais.
Palma e Carneiro (2018, p. 167) ao analisar o número de alunos matriculados
em três escolas da Educação do Campo de um município do interior do estado de São
Paulo, Brasil constataram que [...] é notável a existência de matrículas somente de
alunos com deficiência intelectual. “Apenas na Escola C, tivemos, em 2013, a matrícula
de uma aluna com surdez”.
Mediante os questionamentos enfatizados nas entrevistas buscou-se abordar a
concepção dos professores de matemática sobre a escolarização dos alunos com
deficiência intelectual na Educação do Campo, fundamentando-a com a realidade
verificada.
A entrevista foi elaborada considerando as seguintes categorias: Acessibilidade
e Recursos; a ação pedagógica dos professores, a formação e os desafios dos
professores de matemática diante da escolarização dos alunos com deficiência
intelectual.
As análises embasaram-se nos pressupostos da fundamentação teórico-
metodológica acima explicitada: a do materialismo histórico dialético em abordagem
histórico crítica.
7.1 Acessibilidade e Recursos
Apesar da predominância de alunos com deficiência intelectual nas escolas
estaduais da Educação do Campo no município de Boa Vista-RR, as mesmas não
apresentavam a acessibilidade básica e necessária para a escolarização dos alunos
público-alvo da Educação Especial. Marcoccia (2011) enfatizou também em seu
estudo que não era oferecido aos alunos com deficiência condições para o acesso e
permanência na escola.
Nesta perspectiva, os professores de matemática foram indagados se a escola
disponibilizava de acessibilidade arquitetônica e de comunicação para a escolarização
dos alunos. Os professores de matemática foram unânimes em responderem que não,](https://image.slidesharecdn.com/e-book-contradicoes-e-desafios-da-educacao-brasileira-3-191106203520/85/Contradicoes-e-Desafios-na-Educacao-Brasileira-3-17-320.jpg)
![Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 1 9
que elas não estavam acessíveis para receberem os alunos. Neste sentido, destacou-
se aqui a fala dos mesmos.
De acordo com o PM1 nem a escola, tão pouco a sala de aula, dispõem de
acessibilidade. Segundo outro entrevistado:
A acessibilidade é pouca, pois vimos que não há rampas para os alunos com
deficiência física, pois a escola tem um aluno matriculado, mas devido a escola
não está acessível e a falta de cuidador e professor para apoiá-lo ele nunca
compareceu a escola, o grau de dificuldade dele era grande, ele foi matriculado,
porém não tinha como ficar na escola.(PM2)
O PM3 foi enfático em dizer que:
Não, na realidade não temos nada, nós não temos laboratório de informática, não
temos materiais didáticos para o aluno, acredito que isso é uma das falhas da
Secretaria de Educação, do MEC, pois eles não nos ajuda com relação a isso
e trabalhar apenas com livro didático não é suficiente, uma vez que os livros de
matemática não trazem nada de específico para o aluno com deficiência. Essa
falha não é só do MEC, mas também da Secretaria de Educação.
Vale destacar que equipamentos, mobiliários, materiais didático-pedagógicos
também fazem parte da acessibilidade. Neste sentido, resolveu-se indagar aos
professores se a escola disponibilizava de recursos materiais para facilitar a
escolarização dos alunos caracterizados com deficiência, tais como: equipamentos,
mobiliários e materiais didático-pedagógicos.
Os professores foram unânimes em afirmar que as escolas não disponibilizavam
de materiais didáticos pedagógicos, inclusive para o trabalho docente na sala de aula
de ensino regular. Destacaram ainda que os eventuais materiais ou equipamentos, se
existentes, ficavam disponibilizados na sala de recursos multifuncionais (PM1; PM2;
PM3).
O PM1 afirmou que só havia materiais na sala de recursos, que ele desconhecia
quais materiais eram utilizados na mesma. No entanto, o PM1 destacou “[…] mas sei
que lá tem computador, impressora, jogos, brinquedos […], porém nunca mostraram
pra mim nenhum material”. O PM3 disse “[...] a escola tem poucos materiais, porém
tem cartolina, lápis de cor, hidrocor, pincel, tinta guache, tesoura”.
Observou-se que a falta de recursos, de acessibilidade para a prática docente
interferia na ação pedagógica dos professores, pois a escolarização dos alunos
dependia de uma escola equipada, estruturada. A Política Nacional de Educação
Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva de 2008 (BRASIL, 2008, p.8-9) enfatiza
que o ensino deve:
[...] garantir o acesso, a participação e a aprendizagem dos alunos com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, no ensino
regular, assegurando entre outras questões [...] Formação de professores para
atendimentos educacionais especializados e demais profissionais da educação
para a inclusão escolar; [...]](https://image.slidesharecdn.com/e-book-contradicoes-e-desafios-da-educacao-brasileira-3-191106203520/85/Contradicoes-e-Desafios-na-Educacao-Brasileira-3-18-320.jpg)
![Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 1 10
Nesta perspectiva, faz-se necessário que as escolas tenham um sistema
organizacional e educacional que atenda às necessidades dos alunos; para isso, elas
devem ser estruturadas, ou melhor, reestruturadas, adaptadas. A LDBEN traz em seu
art. 59, inciso I, que os sistemas de ensino asseguraram aos educandos caracterizados
com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou
superdotação “recursos educativos e organização específica para atender as suas
necessidades’”. No entanto, constatou-se que isso não estava ocorrendo nas escolas
da Educação do Campo no município de Boa Vista.
A escolarização dos alunos caracterizados com deficiência intelectual é um
direito garantido em lei, porém pouco efetivado na prática, pois verificou-se que dos
11 alunos do público-alvo da Educação Especial, apenas 9 estavam frequentando
as escolas, isso por elas não estarem estruturadas, equipadas, adaptadas para as
pessoas com deficiência.
7.2 A Formação e os Desafios dos Professores de Matemática Diante da
Escolarização dos Alunos Caracterizados Com Deficiência IntelectuaL
Em relação à formação docente, verificou-se que todos os três professores são
formados na área de matemática, sendo que um é especialista em mídias na educação,
um está cursando Gestão Escolar e um tem mestrado na área de matemática. Os três
professores afirmaram não terem feito nenhum curso na área de Educação Especial
nos últimos três anos. Diante disso, questionou-se aos professores se eles se sentiam
seguros em trabalhar com alunos caracterizados com deficiência intelectual.
O PM1 e o PM3 disseram não ter segurança ao desenvolverem seu trabalho,
sua prática docente. Já o PM2 disse que sentia segurança devido à sua formação e
aos estudos e leituras realizados de forma independente. O PMI enfatizou ainda que:
[…] não trabalha com o aluno, se tivesse curso na área até poderia trabalhar, pois
eu não posso fazer duas coisas ao mesmo tempo, por exemplo, se eu tivesse
material didático só para aquele aluno, mas eu acredito que ele já tem professor
que fica do lado dele, que e o professor de apoio permanente. No meu caso, eu
não tenho capacidade para trabalhar com esse aluno, eu posso apenas conversar,
orientar a professor em algumas situações, pois eu não tenho nenhum curso, como
é que eu posso trabalhar com esse aluno?
Para Cruz e Szymanski (2013) os cursos na área de matemática devem enfatizar
mais o trabalho pedagógico a ser desenvolvido na Educação do Campo; destaca ainda
que os conceitos precisam ser contextualizados e re contextualizados para facilitar
assim a apropriação do conhecimento.
A formação inicial e continuada na área de matemática é essencial para que os
professores atuem de forma significativa, contextualizada, pois é necessário atender
as necessidades e direitos dos alunos que vivem e estudam no campo, inclusive
os alunos caracterizados com deficiência intelectual, evitando assim a exclusão em](https://image.slidesharecdn.com/e-book-contradicoes-e-desafios-da-educacao-brasileira-3-191106203520/85/Contradicoes-e-Desafios-na-Educacao-Brasileira-3-19-320.jpg)
![Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 1 11
relação à apropriação de saberes matemáticos, saberes esses essenciais à vida do
indivíduo, uma vez que eles fazem parte do cotidiano de qualquer cidadão.
Com isso, faz-se necessário que os professores de matemática tenham acesso
à formação continuada na área da Educação Especial e condições adequadas de
trabalho para o desenvolvimento de suas aulas. Além disso, é preciso que a escola
ofereça aos alunos com caracterizados com deficiência intelectual da Educação do
Campo o acesso à escolarização, isso implica não apenas estar matriculado, mas de
fato ter seus direitos efetivados.
7.3 Ação Pedagógica do Professor
A realidade em que se encontravam as escolas da Educação do Campo refletia
na ação pedagógica dos professores, pois o planejamento das aulas dos professores
de matemática era realizado considerando apenas os conteúdos presentes nos livros
didáticos; por ser este um dos poucos recursos disponibilizados aos professores.
Cumpre destacar que, esta limitação atingia, não apenas os estudantes caracterizados
com deficiência, mas o conjunto dos alunos, inclusive os sem deficiência.
Além disso, notou-se que isso também influenciava na forma como vinha sendo
desenvolvido o planejamento das atividades por parte dos professores, as quais eram
feitas de forma individualizada e desarticulada das atividades desenvolvidas pelos
professores de apoio permanente e sala de recursos multifuncionais.
Os PM1 e PM3 enfatizaram que utilizavam basicamente o livro didático para
o desenvolvimento de suas aulas, que geralmente as mesmas eram expositivas,
desenvolvidas em termos metodológicos dentro de uma didática de tendência
tradicional, pois consistia na realização de exposição de conteúdos e aplicação de
exercícios repetidos. De acordo com Gomes e Rodrigues (2014, p.59-60) que essa
prática no ensino de matemática acaba “[...] proporcionando ao aluno a capacidade
de resolver exercícios e determinados problemas-padrão, porém no sentido mais
mecânico e repetitivo”.
O PM3 afirma ainda que a escola não dispunha de nenhuma proposta de ensino
específica voltada para a disciplina de matemática e que o MEC deveria oferecer um
livro didático que subsidiasse o trabalho do professor de matemática no processo de
escolarização dos alunos com deficiência intelectual.
O PM2 enfatizou que realizava seu planejamento em casa e que nos encontros
pedagógicos, que ocorriam uma vez na semana, eram discutidos os conteúdos com
os professores de matemática e demais professores, que as atividades eram definidas
a partir das dificuldades dos alunos com deficiência.
Observou-se que havia contradição na fala do PM2, pois ele afirmou que não
dava sugestões aos professores de apoio permanente e nem aos professores da
sala de recursos multifuncionais para elaboração de materiais didático-pedagógicos,
os quais poderiam ser utilizados pelos alunos com caracterizados com deficiência](https://image.slidesharecdn.com/e-book-contradicoes-e-desafios-da-educacao-brasileira-3-191106203520/85/Contradicoes-e-Desafios-na-Educacao-Brasileira-3-20-320.jpg)
![Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 1 12
intelectual em seu processo de escolarização.
Vale destacar, que em relação aos profissionais de apoio específico, a
denominação utilizada,éotermo“professordeapoiopermanente”,utilizadonasescolas
estaduais de Boa Vista-Roraima, enquanto em outras instituições educacionais utiliza-
se comumente o termo cuidador. Nesta perspectiva, destaca-se aqui a Resolução do
Conselho Estadual de Educação de Roraima, nº 07 de 2009, de 14 de abril de 2009,
que dispõe sobre as diretrizes para a Educação Especial no Sistema Estadual de
Educação de Roraima e dá outras providências.
A Resolução destaca e esclarece acerca deste profissional da Educação
Especial em Roraima, pois deixa claro em seu art. 32 que “Quando necessário, será
admitida a presença de 02 (dois) professores na mesma sala de aula para atuar no
desenvolvimento das atividades da turma [...]” (RORAIMA, 2009).AResolução enfatiza
ainda que:
Art. 40 Ao organizar a educação especial na perspectiva da educação inclusiva
caberá ao Sistema Estadual de Educação de Roraima disponibilizar as funções
de instrutor, tradutor/intérprete de Libras, e guia-intérprete, bem como de monitor
ou cuidador dos alunos com necessidade de apoio nas atividades de higiene,
alimentação, locomoção, entre outras que exijam auxílio constante no cotidiano
escolar (RORAIMA, 2009).
Diante disto, apresentamos a seguinte reflexão: de que o forma PM2 desenvolvia
seu trabalho mediante as necessidades dos alunos se não havia um trabalho articulado
com os professores de apoio permanente e com o professor da sala de recursos
multifuncionais?
Já o PM3 deixou claro que a inexistência de uma articulação: “eu trabalho do
meu modo, separadamente. Durante os quatro anos que trabalho na escola não houve
ainda um trabalho articulado com professor de apoio permanente e sala de recursos
multifuncionais”.
O PM1 afirma “[…] não dou sugestões aos professores de apoio permanente
e da sala de recursos multifuncionais para produção de materiais pedagógicos”. No
entanto, oriento a professora de apoio do 8° ano, quando ela me pergunta “o que dá
para trabalhar desse conteúdo com o aluno com deficiência intelectual?”.
De acordo com os professores PM1 e PM3, as atividades realizadas com os
alunos com deficiência intelectual eram diferentes dos conteúdos trabalhados em
sala de aula, sendo, segundo eles, de responsabilidade dos professores de apoio
permanente, uma vez que eles enfatizavam que já tinham obrigações com os demais
alunos.
Em nosso entendimento, a prática do professor de matemática da Educação do
Campo precisa ser realizada de forma planejada, compromissada e contextualizada
com a realidade, os interesses e as necessidades dos alunos com deficiência intelectual.
Nesta perspectiva, os professores foram indagados sobre qual é o seu papel diante da
escolarização dos alunos com deficiência.](https://image.slidesharecdn.com/e-book-contradicoes-e-desafios-da-educacao-brasileira-3-191106203520/85/Contradicoes-e-Desafios-na-Educacao-Brasileira-3-21-320.jpg)
![Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 1 13
Para o PM3, “[...] o papel do professor de matemática diante da escolarização
dos alunos com deficiência intelectual é permitir a inserção do aluno na sala de aula,
permitir que o mesmo observe, interaja com a turma.”. O PM2 afirmou: “O meu papel
é apoiar os alunos em suas dificuldades, e a partir daí ver se eles aprendem alguma
coisa”.
Já o PM1 ao ser questionado sobre seu papel diante da escolarização dos
alunos exclamou: “Nossa! Qual é o meu papel diante da escolarização dos alunos?
Que pergunta difícil essa!”. Porém, logo em seguida, destacou que em alguns casos,
em que os alunos não podem desenvolver-se totalmente, “[...] o papel do professor
é permitir a socialização, de ensinar ele a conviver com os demais, a se comportar, a
compartilhar os sentimentos, a receber os demais colegas”.
No entanto, concorda-se com Saviani (2012, p. 14) quando ele afirma que “[...]
o conteúdo fundamental da escola elementar é ler, escrever, contar, os rudimentos
das ciências naturais e das ciências sociais (história e geografia)”. Portanto, o
papel do professor diante do processo de escolarização dos alunos, em especial
os caracterizados com deficiência é propiciar a eles a apropriação do conhecimento
mediante um currículo que contemple a realidade social dos estudantes.
Diante do exposto, concorda-se com Saviani (2012, p.126) quando o mesmo
ressalta que “[...] Sem isso nós enfrentamos obstáculos que acabam impedindo que a
educação produza os frutos que dela se esperam”. Neste sentido, entende-se que a
realidade das escolas estaduais da Educação do Campo do município de Boa Vista-
RR não oferecia aos professores condições de trabalho para a práxis, para a efetiva
escolarização dos alunos com deficiência intelectual.
8 | CONCLUSÃO
O estudo objetivou conhecer a concepção dos professores de matemática da
Educação do Campo sobre a escolarização dos alunos caracterizados com deficiência
intelectual. Analisamos os seguintes aspectos: acessibilidade e recursos; ação
pedagógica dos professores e a formação específica dos professores de matemática
para o enfrentamento dos desafios que esta escolarização oferece.
A pesquisa mostrou que os três professores entrevistados são formados na área
de matemática, fator este que poderia oportunizar aos alunos um ensino com teor
mais científico, significativo, uma vez que eles tinham formação e conhecimento na
área em que estavam atuando. Apesar dessa formação, entretanto, observa-se uma
manutenção de práticas em perspectiva bastante tradicional e pautada exclusivamente
no livro didático, para o conjunto dos alunos. No que tange à Educação Especial,
nenhum deles tinham formação na área, tão pouco participaram de curso nos últimos
três anos.
Outro ponto a ser destacado era que os planejamentos dos professores de](https://image.slidesharecdn.com/e-book-contradicoes-e-desafios-da-educacao-brasileira-3-191106203520/85/Contradicoes-e-Desafios-na-Educacao-Brasileira-3-22-320.jpg)






![Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 2 20
A origem da palavra skholé, vem do grego, no qual se origina “escola”, mesmo
autor diz que há muitos que confundem escola com educação, quando na verdade a
própria educação conduz o indivíduo, desde criança, tornando- o humano, forma- se
humano e ser humano e afirma que, pode criar obstáculos para alguém (CORTELLA,
2015). A escola torna- se um espaço na busca de novos horizontes, integrado ao
desenvolvimento da criança, seu mundo, sua subjetividade, com os contextos sociais
e culturais que a envolvem através das inúmeras experiências que ela deve ter a
oportunidade e estímulo de vivenciar no momento de sua formação. Nas instituições
de educação infantil a educação sobrevém podendo se afirmar em todos os momentos,
não existindo momento sistematizado para a prática educativa e não se educa uma
criança pequena sem os cuidados que ela necessita para se desenvolver plenamente,
nesse caso aí o papel da Educação Física (CASSIMIRO, 2011).
2 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSCA NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Compreende- se que a Educação Física tem um papel preponderante na
Educação Infantil e é por intermédio do professor essa ação diretamente na
aprendizagem da criança com estratégias de ensino- aprendizagem e, sendo através
do brincar que conseguirá alcançar a criança se desenvolva, pois “[...] é nessa fase
que se necessita proporcionar às crianças o maior número possível de experiências
diversas, oportunizando o desenvolvimento da sua integralidade” (D’AVILA, 2016, p. 5).
“Quanto à educação física, esta estuda o ‘movimento’ nos seus aspectos: fisiológico,
psicológico, cultural, social, biológico, educacional, desenvolvimentista, dentre outros”
(CAVALARO; MULLER, 2009, p. 245). Com isso a possibilidade de proporcionar uma
gama enorme de experiências por meio de situações nas quais elas possam altercar,
criar, inventar, descobrir movimentos novos, reelaborar conceitos e ideias sobre o
movimento e suas ações.
A educação física na educação infantil é um fenômeno relativamente novo e, em
grande medida, traduz importantes desafios para os docentes dessa área uma vez
que, em sua maioria, não receberam formação que possibilitasse compreender a
criança e seu processo de desenvolvimento. Associado a isso, embora não seja
uma regra, muitas escolas de educação infantil encontram-se defasadas em termos
de planejamento e direção pedagógica. Coloca-se, assim, o desafio de reflexão
sobre este tema, objetivando a qualificação da ação educativa escolar no âmbito
da relação educação física e educação infantil (BARETTA, 2012, p. 4).
Partindo dessa visão, o objetivo é contribuir para com a escola observada e com
a comunidade científica apresentando as experiências por vivenciadas na Educação
Infantil, [...] comunidade e escola, compete então trabalhar em conjunto sendo aluno,
professor, escola e família, favorecendo assim o aprimoramento, do conhecimento, do
saber (MALTA, 2012, p. 9). Fundamentadas na importância do movimento humano e
apresentar os benefícios que a cultura do movimento pode trazer nesse período de](https://image.slidesharecdn.com/e-book-contradicoes-e-desafios-da-educacao-brasileira-3-191106203520/85/Contradicoes-e-Desafios-na-Educacao-Brasileira-3-29-320.jpg)
![Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 2 21
vida da criança e em todo o seu processo de formação, levando em consideração que
o movimentar-se é importantíssimo na dimensão do desenvolvimento e da cultura
humana (BRASIL, 1998).
Mostrar que a escola é um espaço para que, através de situações de experiências
com o corpo, com materiais e de interação social, os pequenos que começam cedo esse
convívio e têm mais facilidade para entender e se colocar no lugar do outro, criando
um sentimento de empatia. “Nessa perspectiva, as crianças são consideradas seres
sociais mergulhados, desde cedo, em uma rede social já constituída e que, por meio
do desenvolvimento da comunicação e da linguagem, constroem modos peculiares
de apreensão do real” (SANTOS; SILVA, 2016, p. 134). Elas descubram seus próprios
limites, enfrentem desafios, conheçam e valorizem o próprio corpo, “[...] é necessário
que o professor trabalhe com seus alunos de tal maneira que estes transformem dados
e informações em conhecimentos que se tornarão significativos para eles” (AMATO,
2011, p. 9) relacionem-se com outras pessoas, expressem sentimentos, fazendo uso
da linguagem corporal, desenvolvam sua capacidade de se localizar no espaço e
no tempo, e outras situações importantes ao desenvolvimento de suas capacidades
intelectuais e afetivas, numa perspectiva.
3 | A DESCOBERTA DO JOGO ATRAVÉS DA BRINCADEIRA
A brincadeira é a vida da criança, pode se afirmar que a brincadeira é uma
forma gostosa para ela movimentar-se e ser independente e a Educação Física pode
contribuir para essa efetivação. “Pode-se dizer que as brincadeiras e os jogos são as
principais atividades físicas da criança; além de propiciar o desenvolvimento físico e
intelectual, promove saúde e maior compreensão do esquema corporal” (SILVA, 2016,
p. 6), através de um programa na Educação Infantil, comprometido com os processos
intencionais de desenvolvimento da criança e com a formação de sujeitos autônomos,
a brincadeira aparece neste caso como um meio facilitador desse desenvolvimento,
pois é por meio dela que a criança chegará a novas descobertas. Brincadeira é aquilo
que apodamos tecnicamente do lúdico, ou seja, brincar é alusivo de claramente de
inteligência e é uma coisa séria (CORTELLA, 2015). Brincando, a criança desenvolve
os sentidos, adquirindo habilidades para usar as mãos e o corpo, adotando objetos e
suas características, textura, forma, tamanho, cor e som. É brincando que ela entra
em contato com o ambiente, relaciona-se com o outro, desenvolve o físico, a mente, a
autoestima, a afetividade, tornando-se ativa e curiosa.
A brincadeira e o jogo permitem compreender as crianças em suas diferentes
singularidades. Tornar o jogo como atividade central nas aulas de Educação Física
na Educação Infantil é uma forma de assumir outra racionalidade para esse espaço
e tempo, que associa interesses e necessidades, representando as características
próprias do ser criança e favorecendo o desenvolvimento de diversas linguagens
presentes na escola (MELO et al., 2014, p. 477).](https://image.slidesharecdn.com/e-book-contradicoes-e-desafios-da-educacao-brasileira-3-191106203520/85/Contradicoes-e-Desafios-na-Educacao-Brasileira-3-30-320.jpg)

![Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 2 23
5 | MATERIAIS E MÉTODOS
O estágio foi realizado no ano de 2013 em Centro Educacional Infantil no
município de Parintins- AM.
O método utilizado para o desenvolvimento deste trabalho baseou-se nos
relatos de experiências dos estagiários no decorrer do estágio, onde foram realizados
observações, acompanhamentos e regências no Centro Educacional Infantil, além de
entrevistas feitas junto aos professores supervisores e revisão de literatura abordando
o assunto. “[...] a escolha de determinada metodologia requer a aproximação com o
objeto de estudo, excluindo-se a ideia de superioridade de um determinado método ou
abordagem” (ANDRADE, 2010, p. 30). PIAGET (1978) diz que, o desenvolver- se da
criança sucede pelo meio do lúdico, pois precisa brincar para crescer. A criança então
necessita de oportunidades para que possa brincar e assim se desenvolver e edificar
conhecimentos.
6 | RESULTADOS E DISCUSSÕES
No primeiro contato com a escola não havia profissional de Educação Física
e não existiam aulas de Educação Física, o profissional mais próximo com algum
conhecimento de movimento, era apenas uma professora formada em pedagogia dos
nove professores que ali trabalhavam o que levou a pensar numa maneira de propor
intervenções, onde as crianças (alunos) pudessem vivenciar o movimento corporal,
proporcionados por atividades físicas intencionais por meio de jogos e brincadeiras de
forma lúdica, o que é recomendado para essa faixa etária. “Acriança é um ser que brinca,
e ao realizar tal ação, ela desperta, por meio da curiosidade, o seu desenvolvimento
pleno” (SILVA, 2015, p. 11). Foram verificados jogos que elas gostavam de brincar ou
que tinham a vontade de brincar, aulas com atividades rítmicas, deixando no fundo a
música e ali começavam as brincadeiras.
Segundo Cória- Sabini e Lucena (2015) discorrem que a aprendizagem, olhando
pelo seu sentido amplo define- se de habilidades, hábitos, atendendo a padrões de
desempenhos na resposta de desafios ambientais para a criança.
Wallon (1975) sistematizou suas ideias em quatro elementos básicos que se
comunicam entre si: a afetividade, o movimento, a inteligência e a formação do eu.
A base teórica deste autor chama a atenção para olhar a criança como um todo, um
ser que é completo e não dividido por partes. Ele foi o primeiro teórico da Psicologia
Genética a considerar não só o corpo da criança e tornou-se bem conhecido por seu
trabalho científico sobre Psicologia do Desenvolvimento, principalmente voltados à
infância, em que assume uma postura especialmente interacionista, mas também
suas emoções como aspectos fundamentais para a aprendizagem, dizia que as
crianças pequenas têm uma dificuldade muito grande de comunicar o que pensam
de uma forma diferente do gesto. Para explicar este fenômeno. O autor que foi](https://image.slidesharecdn.com/e-book-contradicoes-e-desafios-da-educacao-brasileira-3-191106203520/85/Contradicoes-e-Desafios-na-Educacao-Brasileira-3-32-320.jpg)
![Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 2 24
filósofo, médico, psicólogo e político francês relata que o ato mental se desenvolve a
partir do ato motor, isto é, seus gestos.
Em reunião com a coordenadora pedagógica da escola, surgiu à ideia de serem
ministradas as regências nos dias de quarta-feira, onde todas as crianças pudessem
participar. Na verdade, foi um desafio, como já havia sido observado, as crianças não
se movimentavam, as professoras exerciam um papel tipicamente opressor sobre as
mesmas.
Foi adotada a abordagem de jogos e brincadeiras, pois um dos problemas que
foi detectado na escola foi que as crianças não tinham um tempo para “brincar”. A
Educação Física é importante em todas as fases do aprendizado e na educação infantil
não é diferente. “A Educação Física assume um papel extremamente significativo na
Educação Infantil, pois é através do brincar que a criança explora seu corpo, interage
com outros corpos e desenvolve seu crescimento cognitivo e motor” (ELISEU, 2012,
p. 6).
O que também foi observado era que as crianças durante o período que se
encontravam na escola, não tinham um momento em que elas pudessem brincar e se
movimentar de forma que interagissem com os demais alunos das outras salas, e é
muito importante que esse momento aconteça no ensino infantil, como enfatiza Basei
(2008, p.7):
[...] a necessidade de proporcionar às crianças, na educação infantil, o maior
número de experiências de movimento possível, onde elas possam adquirir formas
de movimentar-se livremente, desenvolvendo sua própria relação com a cultura do
movimento, experimentando os diferentes sentidos e significados do movimento,
para, a partir de suas vivências, incorporá-las a seu mundo de vida.
Faz se necessário o professor de Educação Física na Educação Infantil e nos
Anos Iniciais do a sua importância no desenvolvimento social, cognitivo e motor das
crianças em fase de ampliação de conhecimentos, em que o primordial é uma variedade
de experiências direcionadas de acordo com a especificidade dessa fase significativa
ao longo da vida (D’AVILA, 2016). No brincar as crianças têm a oportunidade de
interagir com outras crianças, é o momento em que ela pode soltar a imaginação,
onde poderá criar novas formas de brincar. Segundo Sayão ([2018], p.5) “brincar de
diferentes formas; construir brinquedos; brincar em diferentes espaços; utilizar objetos
culturais durantes as brincadeiras alterando-os pela imaginação”, “[...] são algumas
formas possíveis de inclusão das dimensões humanas no trabalho pedagógico que
consideram as especificidades da infância”.
Já na primeira regência ministrada foi nítida a mudança no comportamento das
crianças onde pôde- se observar a alegria em estar “brincando”, se movimentando,
pois era o momento em que saíam das salas de aula, saíam daquele cotidiano onde
não existia, até as intervenções, um tempo para que elas pudessem construir novos
conhecimentos e também sua identidade infantil.](https://image.slidesharecdn.com/e-book-contradicoes-e-desafios-da-educacao-brasileira-3-191106203520/85/Contradicoes-e-Desafios-na-Educacao-Brasileira-3-33-320.jpg)







![Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 3 32
e Sociedade (CTS).
dar oportunidade aos estudantes para conhecerem e se posicionarem diante desses
problemas é parte necessária da função da educação básica. Por outro lado, o
contexto dessa discussão constitui motivação importante para o aprendizado mais
geral e abstrato. (BRASIL, 2002, p. 30)
Assim, há necessidade de um ensino que acompanhe esses avanços científicos
e tecnológicos, de forma que a sala de aula abra espaço para discussões que vão além
do currículo escolar, preocupado não somente com a formação de conceitos por parte
dos alunos, mas em oferecer ferramentas para que os mesmos tenham autonomia.
Aproposta dos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM)
é de um ensino por competências, em que se propõe a organização do conhecimento
[...] a partir não da lógica que estrutura a ciência, mas de situações de aprendizagem
que tenham sentido para o aluno, que lhe permitam adquirir um instrumental para
agir em diferentes contextos e, principalmente, em situações inéditas de vida.
(BRASIL, 2002, p. 36)
Ausubel (1980) em sua teoria dizia que “o fator isolado mais importante que
influência a aprendizagem é aquilo que o aprendiz já sabe”. Assim, pesquisas na área
de educação estão se preocupando em analisar as chamadas ConcepçõesAlternativas
(CA) dos alunos, com a contextualização e a relação entre teoria e prática.
As representações que cada indivíduo faz das realidades que o cercam, são
específicas do mesmo e são construídas ao longo de sua vida, acompanhando-o à
escola, onde serão agregados os conhecimentos científicos. Ainda que consideradas
vagas, pouco definidas, estáveis, resistentes a alteração, muitas vezes satisfazem os
pontos de vista do indivíduo e podem se tornar empecilhos da construção de conceitos
(FIGUEIRA; ROCHA, 2016).
Nestatemática,faz-senecessáriodesenvolverestratégiasdidáticasqueinstiguem
o aluno, levando-o de tal modo interessar-se por aprender. Umas dessas estratégias
chama-se Aprendizagem Baseado em Problemas (Problem-Based Learning – PBL)
que faz com que o aluno resolva problemas a partir de outros problemas e construindo
assim o seu conhecimento. (RIBEIRO, 2010)
Diante do exposto, o presente estudo objetivou avaliar as concepções de fermento
biológico e fermentação entre estudantes do 1º ano do Ensino Médio na cidade de
Guarapuava, Paraná.
2 | MATERIAIS E MÉTODOS
Participaram dessa pesquisa alunos do 1° ano do Ensino Médio de uma Escola
Pública da Rede de Educação Básica de Ensino de Guarapuava, Paraná, Brasil,
oriundos do Colégio Estadual Padre Chagas, situado na zona urbana. A amostra total](https://image.slidesharecdn.com/e-book-contradicoes-e-desafios-da-educacao-brasileira-3-191106203520/85/Contradicoes-e-Desafios-na-Educacao-Brasileira-3-41-320.jpg)


![Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 3 35
às questões, assim partiu-se sempre de 12 respostas das quais foram emergindo os
recortes.
3 | RESULTADOS E DISCUSSÕES
As respostas foram analisadas a partir do conceito de fermentação encontrado
no livro didático de Linhares e Gewandsznajder (2013), usado pelos alunos em suas
aulas de Biologia no colégio, a fim de identificar proximidades e distâncias entre a
definição do livro com as concepções dadas pelos alunos antes e após uma semana
da intervenção do curso.
Para analisar as respostas obtidas através do questionamento sobre “o que
é FERMENTO BIOLÓGICO?”, o livro didático apresentava o seguinte conceito “O
fermento biológico, ou de padaria, contém o fungo Saccharomyces cerevisiae vivo
que, por meio da fermentação, produz o gás carbônico que faz crescer a massa do
pão, além do álcool.” (LINHARES; GEWANDSZNAJDER, 2013).
Na Figura 2 está a análise das repostas obtidas através da Q11, fizeram-se
recortes das respostas, as quais foram agrupadas em categorias emergentes, não
excludentes.
Figura 2 – Categorização das respostas pré e pós teste dos alunos referentes à Q11) “o que é
FERMENTO BIOLÓGICO?”
Na primeira categoria referente ao pré-teste percebe-se que os alunos tratam o
fermento biológico como derivado da natureza, assim o processo de fermentação por
ele mediado será diferente do processo obtido com o fermento químico. O aluno sabe
que o fermento biológico não é uma substância sintética. A resposta [A4]: “Eu acho
que é algo mais natural, que vem da natureza”, ilustra bem as respostas deste grupo.
Asegunda categoria foi a mais recorrente as respostas mostram um entendimento
do fermento como ingrediente do pão ou agente causador da fermentação. Para ilustrar
esta categoria apresenta-se como exemplo, [A12]: “Eu acho que o fermento biológico,
é aquilo que mexe junto com a massa. Eu acho que ele faz a massa crescer mais
rápido”. Com a adição do fermento biológico na mistura de farinha de trigo, água e sal,](https://image.slidesharecdn.com/e-book-contradicoes-e-desafios-da-educacao-brasileira-3-191106203520/85/Contradicoes-e-Desafios-na-Educacao-Brasileira-3-44-320.jpg)
![Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 3 36
formam-se a massa que resultará no pão. Durante o tempo em que a massa é deixada
em repouso, as leveduras fermentam os açúcares aí existentes, produzindo, como
consequência desse processo, dióxido de carbono (CO2
), responsável pela formação
de alvéolos cheios deste gás no alimento. (POSTGATE, 2002)
Já na categoria “MICRORGANISMO”, nota-se que os alunos descreveram o
fermento como composto de microrganismos, ademais alguns estabelecem açúcares
como alimento destes, já que os alunos foram capazes de relacionar a resposta com
o descrito em Linhares e Gewandsznajder (2013). Podemos observar em [A6]: “O
biológico são os fungos né, que eles se alimentam de glicose”. A maioria dos produtos
de panificação, principalmente pães, são fabricados usando leveduras como agentes
de fermentação. As leveduras usadas são as Saccharomyces cerevisiae que, quando
incorporados à massa, transformam o amido em açúcares pela ação enzimática. Os
açúcares alimentam o fermento produzindo etanol e dióxido de carbono. (BORGES et
al., 2013)
E a categoria “NÃO SABE/NÃO RESPONDEU”, estão as respostas onde os
alunos trouxeram tais alegações, em branco ou inconclusivas foram agrupadas.
Analisando o pós-teste notou-se que os alunos não se distanciaram das respostas
dadas no pré-teste e todos tentaram responder à questão. A primeira categoria
denominada “CRESCER” os alunos trataram a fermento biológico como o ingrediente
que faz o pão crescer e notou-se que após a atividade experimental o aluno soube da
importância do fermento para a produção do pão. A resposta [A6]: “O que faz o pão
crescer”, ilustra bem as respostas do grupo.
A segunda categoria obteve-se a resposta [A1]: “é um fermento [...] tipo que
não é químico”, o aluno sabe que há uma diferença entre o fermento biológico com o
químico, não se delimitando a mais explicações.
Na categoria “MIGRORGANISMOS” foi a mais recorrente após a aplicação
da atividade didática que traz as respostas que propõem os microrganismos como
componentes do fermento. Destaca-se que algumas respostas outros ingredientes
presentes no pão foram tratados como alimento para os microrganismos. A resposta
[A5]: “É [...] ele é composto de microrganismos que precisam de glicose pra se alimentar
e daí eles crescem” ilustra as repostas desta categoria.
Na Tabela 1 está a segunda questão que indagava os alunos a pensarem sobre
“o que é FERMENTAÇÃO?”.
Categoria N° de Recortes PRÉ N° de Recortes PÓS
AÇÃO 4 6
CRESCER 4 3
NÃO SABE/NÃO RESPONDEU 6 6
Tabela 1 – Categorização das respostas pré e pós teste dos alunos referentes à Q13) “o que é
FERMENTAÇÃO?”](https://image.slidesharecdn.com/e-book-contradicoes-e-desafios-da-educacao-brasileira-3-191106203520/85/Contradicoes-e-Desafios-na-Educacao-Brasileira-3-45-320.jpg)
![Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 3 37
A primeira categoria refere-se à fermentação como uma ação do fermento para
produção de alguma coisa. A exemplo disso tem-se a resposta, [A8]: “A fermentação
é a ação do fermento em alguma coisa”. Segundo o livro didático Linhares e
Gewandsznajder (2013), por meio da fermentação, produz o gás carbônico que
faz crescer a massa do pão, além do álcool. Por esse motivo consideramos que as
concepções dos alunos se relacionam com o livro didático que aborda a relação entre
fermentação e fabricação de alimentos.
Após a aplicação da atividade experimental notou-se que os alunos conseguiram
relacionar a fermentação com o mencionado no livro e com o visto no curso com os
experimentos realizados. E ao analisar suas respostas no pós-teste essa categoria
denominada “AÇÃO” foi a mais recorrente.
As respostas dos alunos que foram agrupadas na categoria “CRESCER”, tratam
a fermentação como o processo que faz algo crescer e consideram a fermentação
como um crescimento de microrganismos que precisa de compostos e condições
específicas para a realização do processo fermentativo. A resposta [A7]: “É um
processo onde esses microrganismos, eles se alimentam da glicose e geram outras
coisas” se aproxima com o conceito presente no livro de Linhares e Gewandsznajder
(2013), onde afirma que algumas bactérias e fungos utilizam o processo para obter
energia para fermentarem açúcar, produzirem álcool e gás carbônico.
Por último temos a categoria “NÃO SABE/NÃO RESPONDEU”, para os dois
testes onde as respostas que trouxeram tais alegações, em branco ou inconclusivas
foram agrupadas.
Segundo Pozo (2002), cada um aprende de acordo com a realidade que o cerca,
a partir da sua própria maneira de perceber o mundo e a si mesmo, formulando o seu
próprio saber. Assim, muitas das suas concepções prévias, por fazerem sentido à sua
prática, são resistentes às mudanças, comprometendo a aprendizagem de conceitos
científicos (POZO, 2002).
Desde modo, fermentação, cujo conceito tentou-se ensinar, foram apenas
memorizadas, sem que seu conceito fosse realmente compreendido e utilizado pelos
alunos como instrumento do pensamento. Isto pode ser constatado no discurso [A8]:
“A fermentação é a ação do fermento em alguma coisa”.
4 | CONSIDERAÇÕES FINAIS
A utilização de questionários pré e pós teste, permitiu avaliar concepções prévias
dos alunos.Antes da intervenção foi possível observar que muitos alunos apresentavam
conceitos superficiais sobre o assunto disposto, porém não totalmente errôneos, saber
utilizar então as informações fornecidas são imprescindíveis para que o aluno consiga
ter um aprendizado satisfatório, minimizando as probabilidades de que os mesmos se
tornem somente depositórios de informações.](https://image.slidesharecdn.com/e-book-contradicoes-e-desafios-da-educacao-brasileira-3-191106203520/85/Contradicoes-e-Desafios-na-Educacao-Brasileira-3-46-320.jpg)









![Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 4 47
séries do Curso de Magistério, ressaltamos que tanto na Escola Professor Flodoardo
Cabral e quanto no Instituto Santa Teresinha as disciplinas da formação geral
estavam organizadas principalmente no 1º ano do curso, enquanto que as da parte
específica eram destinadas às últimas séries. Assim, na 1ª série de ambos os cursos
havia ênfase nas matérias do Núcleo Comum, que envolvia os conteúdos de cultural
geral. Na 2ª e 3ª séries essa situação mudava, uma vez que as disciplinas de cunho
didático passavam a ter maior destaque. Essa situação de excessivo destaque dado
às disciplinas didáticas, pode ser baseada na divisão feita pela Lei 5.692/71:
[...] § 1º Observadas as normas de cada sistema de ensino, o currículo pleno terá
uma parte de educação geral e outra de formação especial, sendo organizado de
modo que:
a) no ensino de primeiro grau, a parte de educação geral seja exclusiva nas séries
iniciais e predominantes nas finais;
b) no ensino de segundo grau, predomine a parte de formação especial.
§ 2º A parte de formação especial de currículo:
a) terá o objetivo de sondagem de aptidões e iniciação para o trabalho, no ensino
de 1º grau, e de habilitação profissional, no ensino de 2º grau;
b) será fixada, quando se destina a iniciação e habilitação profissional, em
consonância com as necessidades do mercado de trabalho local ou regional, à
vista de levantamentos periodicamente renovados (BRASIL, 1971, p.02).
Esse excessivo destaque que era dado às disciplinas de cunho didático pode
ser explicado pelo caráter profissionalizante do Curso de Magistério. Observamos que
ambos os cursos tinham como foco desenvolver no educando competências para atuar
no mercado de trabalho. Essa formação para o trabalho foi pensada pela Lei 5.692/71,
que definia como obrigatório o ensino profissionalizante em nível de 2º grau. Apesar
dessa obrigatoriedade ter sido suprimida posteriormente pela Lei 7.044/82, o Parecer
nº 01/83 do Conselho Estadual de Educação do Estado do Acre deixa explícito a
importância de que os ensinos de 1º e 2º graus desenvolvam suas atividades visando
preparar os educandos para o mercado de trabalho. O referido Parecer destaca o que
deveria ser trabalhado no 2º grau para desenvolver essa questão:
O trabalho da mulher: No lar; Fora do lar; Causas e consequências.
O trabalho do menor: O desemprego; Causas e consequências.
Conhecimento da legislação do trabalho: Estudo do Mercado de Trabalho;
Mercado de Trabalho Local – Opções; Adaptação a diversos tipos de trabalho;
O trabalho autônomo como outra opção; e Iniciação ao Trabalho, através da
integração Escola-Empresa. (PARECER Nº 01/83, p. 03).
Notamos que nesse período os cursos de formação de professores, assim como
a educação em geral, estavam voltados para formar profissionais para o mercado
de trabalho. Com base em outros documentos analisados, percebemos inclusive que
essa preparação deveria surgir de objetivos tanto do Núcleo Comum quanto da Parte
Diversificada. Visando aliar essa formação ao curso de segundo grau, as disciplinas](https://image.slidesharecdn.com/e-book-contradicoes-e-desafios-da-educacao-brasileira-3-191106203520/85/Contradicoes-e-Desafios-na-Educacao-Brasileira-3-56-320.jpg)

![Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 4 49
durante os anos de 1970 a 2000, as únicas instituições que formavam o professor que
lecionava no ensino de primeiro grau na região do Vale do Juruá. O Curso de Magistério
desenvolvido por estas duas escolas permitiu que diversos professores tivessem
uma formação profissionalizante para lecionarem nas salas de aula. Finalizamos
afirmando que ambas as instituições trouxeram muitas contribuições para Cruzeiro do
Sul, exercendo um papel essencial na transmissão dos saberes e na formação dos
professores do Vale do Juruá.
REFERÊNCIAS
AMARAL, S. R. R. A formação de professores para a educação infantil e anos iniciais do ensino
fundamental: permanências e rupturas decorrentes das dinâmicas sociais e da legislação do
magistério. Revista HISTEDBR On-line, Campinas, n.43, 2011.
BEZERRA, M. I. da S. Tese de Doutorado. Formação docente institucionalizada na Amazônia
acriana: da escola normal regional à escola normal padre Anchieta (1940-1970). Universidade Federal
Fluminense, Programa de Pós-Graduação em Educação. Niterói/RJ, 2015.
BRASIL. Ministério da Educação. Lei nº 5.692 de 11 de agosto de 1971 – Publicação original.
Câmara dos Deputados Legislação [online]. 1971, s.p. Disponível em: http://www2.camara.leg.br/legin/
fed/lei/1970-1979/lei-5692-11-agosto-1971-357752-publicacao original-1-pl.html.
SAVIANI, Dermeval. Formação de professores: aspectos históricos e teóricos do problema no
contexto brasileiro. Revista Brasileira de Educação [online]. 2009, vol.14, n.40, p.143-155.
Disponível em: http://dx.doi.org/10.1590/S1413-24782009000100012.
TANURI, L. M. História da formação de professores. Revista Brasileira de Educação [online]. 2000,
n.14, p.61-88. Disponível em: https://www.google.com. br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd
=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjn-pX-oq7XAhXBjZAKHe7EB64QFggnMAA&url=http%3A%2F%2
Fwww.scie lo.br%2Fpdf%2Frbedu%2Fn14%2Fn14a05&usg=AOvVaw1_LQxwVqCeDVi8FySpAfJb.
VICENTINI, P. P.; LUGLI, R. G. História da profissão docente no Brasil: representações em
disputa. São Paulo: Cortez, 2009.
FONTES DOCUMENTAIS:
- Quadro do corpo docente em atuação no Curso de Habilitação para o Magistério,
1988.
- Quadro curricular do Curso de Habilitação para o Magistério, 1992.
- Parecer nº 349/72 do Conselho Federal de Educação, 1972.
- Parecer nº 04/73 do Conselho Estadual de Educação do Estado do Acre, 1973.
- Parecer nº 01/83 do Conselho Estadual de Educação do Estado do Acre, 1983.
- Parecer nº 16/86 do Conselho Estadual de Educação do Estado do Acre, 1986.
- Parecer nº 05/87 do Conselho Estadual de Educação do Estado do Acre, 1987.](https://image.slidesharecdn.com/e-book-contradicoes-e-desafios-da-educacao-brasileira-3-191106203520/85/Contradicoes-e-Desafios-na-Educacao-Brasileira-3-58-320.jpg)



































![Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 8 85
(1994), o aprendizdeveria aprender matemática, matematizando; abstrair, abstraindo;
esquematizar, esquematizando; algoritmos, algoritmizando; fórmulas, formulando.
Desse modo o processo de matematização pode ser entendido como organização da
realidade utilizando ideias e conceitos matemáticos.
Aabordagem, tal como proposta em Freudenthal (1994) contribui para a educação
matemática, tanto para a formação docente dos pedagogos e demais profissionais que
lida com o público infantil quanto para a própria aprendizagem das crianças. Mais do que
isso, viu-se nesta teoria e proposição uma modo de engendrar ações na sala de aula a
fim de proporcionar um ensino pleno, crítico e funcional e gerar uma transformação na
forma mecânica e impositiva na forma que essa área tem sido abordada na Educação
Infantil. Nessa perspectiva a matemática deveria ser entendida como um componente
integrado a vida e nosso cotidiano não apena uma ciência abstrata.
Lopez, Buriasco e Ferreira (2014) afirmam que é necessário:
Tomar a matemática como uma atividade humana significa compreendê-la de
uma maneira mais ampla, não se limitando a definições, algoritmos, fórmulas,
equações. Implica compreendê-la como um processo de organização da realidade
que permite tanto tratá-la (a realidade) utilizando objetos e ideias matemáticas (ex.
algoritimizar, formular, equacionalizar, generalizar) como utilizá-la como fonte para
elaboração de conhecimento matemático. (p. 2)
A partir da leitura de Lopez, Buriasco e Ferreira (2014) e da teoria de Hans (1968;
1994) reconheceu-se que ensinar com sentido exigiria propor conteúdos a partir da
interlocução com o próprio espaço, matematizando então essa realidade, sensibilizando
o olhar delas para o seu entorno e reconhecendo nele a matemática que ali está posta.
Nas orientações didáticas dadas em relação à geometria nos RCNEI (Vol.3, 1998) traz
algo similar em relação a teorização de Freudenthal.
As crianças exploram o espaço ao seu redor e, progressivamente, por meio da
percepção e da maior coordenação de movimentos, descobrem profundidades,
analisam objetos, formas, dimensões, organizam mentalmente seus deslocamentos.
Aos poucos, também antecipam seus deslocamentos, podendo representá-los
por meio de desenhos, estabelecendo relações de contorno e vizinhança. Uma
rica experiência nesse campo possibilita a construção de sistemas de referências
mentais mais amplos que permitem às crianças estreitarem a relação entre o
observado e o representado. (p. 230)
Para desenvolver o projeto em si, optou-se pela seleção de conteúdos que
foram estudados em outro momento do curso de Pedagogia, mais especificamente na
disciplina de Fundamentos e Metodologia de Matemática II. O princípio adotado para
a realização da intervenção foi o ensino contextualizado da matemática, cuja premissa
foi partir da realidade do aluno e propor um ensino sistematizado. Ao encontro deste
princípio, estava a teoria da matemática realística de Freudenthal (1971) que se define
como:
[...] uma abordagem que defende a ideia de que a matemática é uma atividade](https://image.slidesharecdn.com/e-book-contradicoes-e-desafios-da-educacao-brasileira-3-191106203520/85/Contradicoes-e-Desafios-na-Educacao-Brasileira-3-94-320.jpg)
![Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 8 86
humana e como tal não pode ser imposta transferida e receptada de forma mecânica
e sim construída por meio de um processo de “matematização” da realidade
associando a matemática com a realidade tornando-a assim mais próxima dos
alunos e se tornando cada vez mais relevante para a realidade. (p. 6)
Em outras palavras, há que se ter sempre um ponto de partida para desenvolver
atividades e conteúdos, para inserir e envolver os alunos em suas atividades. Ideia
similar pode ser observada no RCNEI (Vol.3, 1998):
[...] as crianças poderão tomar decisões, agindo como produtoras de conhecimento
e não apenas executoras de instruções. Portanto, o trabalho com a Matemática
pode contribuir para a formação de cidadãos autônomos, capazes de pensar
por conta própria, sabendo resolver problemas. Nessa perspectiva, a instituição
de educação infantil pode ajudar as crianças a organizarem melhor as suas
informações e estratégias, bem como proporcionar condições para a aquisição de
novos conhecimentos matemáticos. (p. 207)
Sabendo que o ensino da Matemática deve partir sempre de situações que fazem
sentido para o aluno e fatos relacionados ao seu cotidiano, a geometria foi selecionada
como conteúdo por estar diretamente relacionada à conceituação, exploração e
relações estabelecidas com o ambiente natural, físico, social no qual a criança está
imersa. A ideia fundante para esse pressuposto é a de que se estabeleça um paralelo
entre o que a criança já conhece e os conteúdos a serem desenvolvidos, e para a etapa
do Maternal I, optou-se ainda pela utilização das cores primárias como interlocutoras
das atividades desenvolvidas.
Nas orientações dadas no RCNEI (1998, Vol. 3) para o ensino da geometria inclui
ainda os jogos e as brincadeiras e o papel do adulto como mediadores essenciais para
o desenvolvimento da exploração espacial a partir de três perspectivas e de como
podem ser desenvolvidas:
[...] relações espaciais contidas nos objetos, as relações espaciais entre os
objetos e as relações espaciais nos deslocamentos. As relações espaciais
contidas nos objetos podem ser percebidas pelas crianças por meio do contato
e da manipulação deles. A observação de características e propriedades dos
objetos possibilita a identificação de atributos, como quantidade, tamanho e forma.
É possível, por exemplo, realizar um trabalho com as formas geométricas por
meio da observação de obras de arte, de artesanato (cestas, rendas de rede), de
construções de arquitetura, pisos, mosaicos, vitrais de igrejas, ou ainda de formas
encontradas na natureza, em flores, folhas, casas de abelha, teias de aranha
etc. A esse conjunto podem ser incluídos corpos geométricos, como modelos de
madeira, de cartolina ou de plástico, ou modelos de figuras planas que possibilitam
um trabalho exploratório das suas propriedades, comparações e criação de
contextos em que a criança possa fazer construções. As relações espaciais entre
os objetos envolvem noções de orientação, como proximidade, interioridade e
direcionalidade. Para determinar a posição de uma pessoa ou de um objeto no
espaço é preciso situá-los em relação a uma referência, sejam ela outros objetos,
pessoas etc., parados ou em movimento. Essas mesmas noções, aplicadas entre
objetos e situações independentes do sujeito, favorecem a percepção do espaço
exterior e distante da criança. As relações espaciais nos deslocamentos podem
ser trabalhadas a partir da observação dos pontos de referência que as crianças
adotam; a sua noção de distância, de tempo etc. É possível, por exemplo, pedir](https://image.slidesharecdn.com/e-book-contradicoes-e-desafios-da-educacao-brasileira-3-191106203520/85/Contradicoes-e-Desafios-na-Educacao-Brasileira-3-95-320.jpg)

![Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 8 88
analisar se o objetivo de promover aprendizagem significativa do ensino de geometria
para uma turma de maternal havia obtido, então realizamos uma brincadeira chamada
de Twister, mas que para nossa aula foi adaptada dento as formas geométricas
disposta no tapete e dois dados um com a parte do corpo outro com a forma geométrica
misturados, assim a turma deveria se atentar qual parte do corpo, qual forma e qual
a cor deveria ser encostada, um detalhe importante é que ao jogar o dado cabia ao
aluno verificar qual forma havia sido sorteada e qual a cor e então se direcionava ao
local onde ela se encontrava e por fim colocava a parte do corpo indicada pelo outro
dado (imagem 04).
Um exemplo do conhecimento incorporado foi quando após as três primeiras
aulas de reconhecimento e identificação das formas uma mãe ao trazer o filho a
instituição perguntou se estavam ensinando formas geométricas as crianças. A
professora regente do Maternal I, na ocasião, relatou que era um projeto desenvolvido
pelos estagiários do curso de Pedagogia. A mãe relatou que seu filho ao chegar à
farmácia junto com ela, identificou que para o machucado menor nas mãos deveria
ser usado o curativo adesivo no formato de círculo que era um dos que estavam
expostos na gôndola. O exemplo dado demonstra que a EMR incentiva esse olhar
matemático para o mundo e seus objetos. Permitindo também supor que a experiência
de dispor espaço e atividades diferenciadas permite que o aluno interaja e ao brinca
formule hipóteses que o levará ao conhecimento superando a pratica de memorização
existente nas instituições de ensino.
Em linhas gerais, a proposta da EMR, de acordo com Lopez; Buriasco e Ferreira
(2014) é a de que:
[...] os estudantes tenham um papel ativo na construção de seu conhecimento
matemático e que, dessa maneira, aprendam fazer matemática como uma
realização, ou seja, matemática como um processo, uma ação, uma maneira de
proceder, não como uma ciência, pronta e acabada. Matemática como o “realizar”
e não como o resultado. (p. 10)
A partir da definição dada pelos autores supramencionados, trabalhou-se o
desenvolvimento da competência espacial, do reconhecimento do próprio corpo e o
aumento da percepção das formas e figuras presentes no seu entorno para favorecer
a exploração e aprendizado das noções geométricas no qual as crianças: “[...] desde
o nascimento, estão imersas em um universo do qual os conhecimentos matemáticos
são parte integrante”. (RCNEI, Vol. 3, 1998, p. 207)
Contudo, não se pode deixar de mencionar a especificidade da Educação Infantil
e por isso mesmo o papel do professor não é somente o de ensinar conceitos. Ao
contrário, é necessário explorar as noções que as crianças já têm e aprofundá-las,
levando-as a perceberem que a Geometria também está presente em sua realidade.
Para Freudenthal (1971) às crianças deveria ser dada a oportunidade de “fazer”
matemática por meio da “reinvenção guiada”, cujo foco, de acordo com ele não está](https://image.slidesharecdn.com/e-book-contradicoes-e-desafios-da-educacao-brasileira-3-191106203520/85/Contradicoes-e-Desafios-na-Educacao-Brasileira-3-97-320.jpg)






![Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 8 95
participar, a realizarem atividades de modo cooperativo entre si. O ensino matemática
na educação infantil se faz importância, pois permite articular o eixo curricular com o
desenvolvimento psicossocial permitindo uma formação plena que garanta o direito do
aluno de ser cuidado e educado em seu processo de ensino e aprendizagem.
REFERÊNCIAS
BRASIL (MEC). Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. v.03. Brasília: MEC/SEF,
1998.
BRASIL. Conselho Nacional de Educação. CNE/CEB Nº 04/2010. Resolução n. 4, de 13 de julho de
2010 e Parecer n. 7/2010. Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica. DOU
de 09 de julho de 2010.
FERREIRA, P. E. A; BURIASCO, R. L. C. de. Educação Matemática Realística: uma abordagem
para os processos de ensino e de aprendizagem. Educ. Matem. Pesq. 1ª ed. São Paulo, 2016. p. 238-
252.
FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 2. ed. São Paulo:
Paz e Terra, 2002.
FREUDENTHAL, H. Why to Teach Mathematics so as to Be Useful. Educational Studies in
Mathematics, n. 1, 1968, pp. 3-8.
FREUDENTHAL, H. Revisiting mathematics education. 2 ed. Netherlands: Kluwer Academic, 1994.
FREUDENTHAL, H. Geometry Between the Devil and the Deep Sea. Educational Studies in
Mathematics, n. 3, 1971. pp. 413-435.
LOPEZ, J. M. S.; BURIASCO, R. L. C. de; FERREIRA, P. E. A. Educação Matemática Realística:
considerações para a avaliação da aprendizagem, 2014. Disponível em:
http://seer.ufms.br/index.php/pedmat/article/viewFile/883/562 [Acesso em 15/06/2016].
SILVA, L. M. M. da ; PORFÍRIO, L. C. Formas e Cores: brincando e desenvolvendo as primeiras
noções de geometria na educação da primeira infância. Anais da Semana de Licenciatura, [S.l.], p.
326-332, out. 2018. ISSN 2179-6076. Disponível em: <http://semlic.com.br/semlic/revista/index.php/
anais/article/view/317/311>. Acesso em: 10 jan. 2019.
SILVA, L. M.M. da; PORFÍRIO, L.C. Re-Conhecendo a Realidade do Trabalho Pedagógico e o Ensino
da Matemática na Educação Infantil.. In: XIX ENCONTRO NACIONAL DE DIDÁTICA E PRÁTICAS
DE ENSINO - XIX ENDIPE, 2018, Salvador. Saberes docentes estruturantes na formação de
professores. Salvador, 2018.
SILVA. L. M. M. da; PORFIRIO, L.C. Formas e cores: Brincando com a Geometria. In: XI SEMINÁRIO
DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO, 2017, Jataí. Coletânea de Resumos, 2017. pp. 28-30
MUNIZ, A. da S, R. A geometria na educação infantil. XI Congresso Nacional de Educação.
Curitiba. 2013.
VYGOTSKY, L.S. A Formação Social da Mente. 6ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998.](https://image.slidesharecdn.com/e-book-contradicoes-e-desafios-da-educacao-brasileira-3-191106203520/85/Contradicoes-e-Desafios-na-Educacao-Brasileira-3-104-320.jpg)





















![Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 10 117
magnética que o fio exercia sobre as moléculas magnéticas da agulha. Sendo que
também procuravam calcular e demonstrar a intensidade e a direção da força exercida.
Conforme Tanaka dos Santos e Gardelli (2017):
“Eles tinham o intuito de determinar a intensidade e a direção da força magnética
exercida por um fio condutor de corrente constante longo e retilíneo sobre um polo
de uma agulha magnetizada. Após eliminar o efeito do magnetismo terrestre, era
possível observar que a agulha ficava perpendicular ao fio com corrente e à linha
reta que ligava o fio ao centro da agulha (TANAKA DOS SANTOS E GARDELLI,
2017, p.871) ”
Então com o desenvolver dessa perspectiva, conseguimos propor uma prática
de atividade experimental viável e esclarecedora onde conseguimos unir os conceitos
de eletricidade, magnetismo e eletromagnetismo. Unindo o trabalho de cientistas
importantes para esse ramo da física, trazendo o uso do contexto histórico da mesma
para trabalhar qualitativamente leis importantes sobre esses conteúdos. Ainda com
o fato de possibilitar o compreendimento do espaço vetorial de um campo magnético
e demonstrando a potência da tecnologia que está nas mãos dos nossos estudantes,
tornando o aprendizado mais dinamizado e ligado com a realidade dos nossos alunos.
4 | CONSIDERAÇÕES
Através dessa pesquisa podemos averiguar que o uso do celular como objeto de
auxílio a aprendizagem nas escolas ainda é visto com muito preconceito pois o celular
é algo que serve somente para tirar a concentração dos alunos e o seu uso deve ser
vetado.
Porém muitas vertentes da educação demonstram grande entusiasmo em mudar
essa visão que os dispositivos móveis apresentam. Pois os mesmos são um recurso
inimaginável de tecnologia tão potente quanto ou mais que um computador qualquer.
A apresentação dos sensores nos smartphones e tablets demonstra ser algo muito
inovador e que mostra uma nova perspectiva do que esses dispositivos podem realizar.
Conseguir compreender campos magnéticos e elétricos através de um desses
dispositivos junta demanda de diminuir a abstração do conteúdo em si trabalhado
com a realidade do que o celular algo que está disseminado por todos nossos alunos
atualmente. Trabalhando juntos de forma a melhorar os processos de aprendizagem
uma nova era da tecnologia e aprendizagem está por vir. Contando que ao ligarmos
aprendizagem dos nossos jovens com o cotidiano e a realidade dos mesmos, levando
em conta que nossos alunos já apresentam bagagens sobre esse tipo de saber e o
mundo da tecnologia, nos educadores temos muito mais possibilidade de conseguir que
uma aprendizagem significativa ocorra como Moreira retrata as palavras de Ausubel
“[...] o fator mais importante que influencia a aprendizagem é aquilo que o aluno já
sabe. Descubra isso e ensine-o de acordo” (AUSUBEL apud MOREIRA, 1999; p. 163)
Portanto o uso das atividades experimentais principalmente utilizando as novas](https://image.slidesharecdn.com/e-book-contradicoes-e-desafios-da-educacao-brasileira-3-191106203520/85/Contradicoes-e-Desafios-na-Educacao-Brasileira-3-126-320.jpg)
















![Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 12 134
necessidades e a realidade desta interface.
Acredita-se que a Pedagogia Histórico-Crítica é essencial para Educação
Especial e Educação Escolar Indígena, uma vez que seus fundamentos condiz com
as características, necessidades e realidade das pessoas com deficiência e com
os pressupostos da Educação Escolar Indígena, pois valoriza a cultura e a história,
ferramentas relevantes no processo de ensino-aprendizagem dos alunos.
Com isso, será utilizada a pesquisa bibliográfica, a qual destacara trabalhos
realizados no período de 2012 a 2013. A perspectiva é de identificar como a relação
entre Educação Especial e Educação Escolar Indígena, surge em trabalhos acadêmicos
e publicações científicas deste período.
A pesquisa bibliográfica permite ao pesquisador o contato com tudo o que já foi
escrito sobre a temática (MARCONI e LAKATOS, 2010). Além disso, “[...] a pesquisa
bibliográfica, não é mera repetição do que já foi dito ou escrito sobre certo assunto, mas
propicia o exame de um tema a partir de um novo enfoque ou abordagem, chegando
a conclusões inovadoras” (MARCONI e LAKATOS, 2010, p.166).
Os principais autores utilizados nesta pesquisa foram: Sá e Cia (2012) que
aborda sobre Interface da Educação Especial na Educação Escolar Indígena: algumas
reflexões a partir do censo escolar; Sá (2012) com a pesquisa sobre Educação
Especial nas escolas indígenas e quilombolas: uma discussão sobre a formação de
professores, e o estudo de Silva (2013) que se refere À escolarização de indígenas
com deficiência nas aldeias indígenas do município de Dourados, MS.
Neste sentido, faz-se necessário discutir sobre a interface da Educação Especial e
Educação Escolar Indígena, pois existem poucos estudos voltados para essa temática.
Acredita-se que ela deve ser debatida pelas comunidades indígenas, professores,
pesquisadores, acadêmicos. Assim o objetivo geral deste artigo é verificar como vem
se constituindo a interface da Educação Especial na Educação Escolar Indígena.
2 | EDUCAÇÃO ESPECIAL
Na LDBEN, o art. 58 reforça o direito dos educandos no âmbito do ensino
regular. Assim define que Educação Especial para efeitos da lei, é “[...] a modalidade
de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para
educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades
ou superdotação (BRASIL, 1996)”.
Neste sentido, o artigo 59 da LDBEN enfatiza que os sistemas de ensino
assegurarão aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento
e altas habilidades ou superdotação:
I – Currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específica,
para atender às suas necessidades;
III – professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para](https://image.slidesharecdn.com/e-book-contradicoes-e-desafios-da-educacao-brasileira-3-191106203520/85/Contradicoes-e-Desafios-na-Educacao-Brasileira-3-143-320.jpg)
![Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 12 135
atendimento especializado, bem como professores do ensino regular capacitados
para a integração desses educandos nas classes comuns [...]
O Decreto 7611/2011 traz em seu artigo 1º inciso I e III as orientações para a
construção de sistemas educacionais inclusivos:
I - Garantia de um sistema educacional inclusivo em todos os níveis, sem
discriminação e com base na igualdade de oportunidades (...)
III – não exclusão do sistema educacional geral sob alegação de deficiência.
Contudo, nota-se que o sistema regular de ensino precisa ser adaptado e
pedagogicamente transformado para atender a este público-alvo, em especial aos
alunos com deficiência, pois apesar de se manter a perspectiva de existência do
ensino especializado, a escola regular Indígena necessita do apoio das pessoas que
atuam na Educação Especial para assim contemplar as necessidades dos alunos, e
isso pode ser feito mediante adequações necessárias ao atendimento educacional
especializado.
Neste sentido, Mantoan (2003, p. 34) destaca que “[...] mesmo sob a garantia
da lei, podemos encaminhar o conceito de diferença para a vala dos preconceitos, da
discriminação, da exclusão, como tem acontecido com a maioria de nossas políticas
educacionais”. Nota-se que apesar da legislação, nem sempre as necessidades dos
estudantes estão sendo contempladas nas escolas, inclusive nas escolas Indígenas,
sendo relevante que se pesquise como se apresentam as condições de acessibilidade,
recursos materiais e capacitação de profissionais da educação.
3 | EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA
Sabe-se que um dos fundamentos da Educação Escolar Indígena é o
reconhecimento da comunidade educativa indígena. O RCNEI, destaca que ela:
[...] possui sua sabedoria para ser comunicada, transmitida e distribuída por seus
membros; são valores e mecanismos da educação tradicional dos povos indígenas
(...) que podem e devem contribuir na formação de uma política e práticas
educacionais adequadas (BRASIL. MEC, 1988).
Além disso, a escola indígena possui algumas características que as define, são
elas: interculturalidade, bilinguismo, multilinguismo, especificidade, diferenciação e a
participação comunitária (BRASIL, 2007). “A escola indígena se caracteriza por ser
comunitária, ou seja, espera-se que esteja articulada aos anseios de comunidade e a
seus projetos de sustentabilidade territorial e cultural” (BRASIL,2007, p.21).
Valeressaltarque“OdireitoaumaEducaçãoEscolarIndígena[...]foiumaconquista
das lutas empreendidas pelos povos indígenas e seus aliados, e um importante passo
em direção da democratização das relações sociais no país" (BRASIL, 2007, p.09).](https://image.slidesharecdn.com/e-book-contradicoes-e-desafios-da-educacao-brasileira-3-191106203520/85/Contradicoes-e-Desafios-na-Educacao-Brasileira-3-144-320.jpg)
![Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 12 136
De acordo com o RCNEI, de1998 há quatro características que devem ser
contempladas nas escolas indígenas, são elas: comunitária, intercultural, bilíngue/
multilíngue, específica e diferenciada.
A CF de 1988 “[...] serviu como alavanca em um processo de mudanças históricas
para os povos indígenas no Brasil [...]" (BRASIL, 2007, p.16). Mediante ela o Estado e
os povos indígenas mantém uma relação transformadora na qual é rompido o caráter
integracionista e homogeneizador vigente desde o período colonial, surgindo então
um novo paradigma, o qual considera os indígenas como sujeitos de direitos (BRASIL,
2007).
As políticas públicas relativas à Educação Escolar Indígena pós-Constituição
de1988 passam a se pautar no respeito aos conhecimentos, às tradições e aos
costumes de cada comunidade, tendo em vista a valorização e o fortalecimento
das identidades étnicas. A responsabilidade pela definição dessas políticas
públicas, sua coordenação e regulamentação é atribuída, em 1991, ao Ministério
da Educação (BRASIL, 2007, p.16)
Neste sentido é que "[...] iniciativas de caráter local tornam-se referência
ampla para a conceituação e implementação de uma política pública de Educação
Escolar Indígena [...]" (BRASIL, 2007, p.16). Vale destacar que essa política tem um
novo paradigma, o qual valoriza as especificidades, diferenças, a diversidade e a
interculturalidade dos povos indígenas (MONTE, 2000). Cohn (2005, p. 486) corrobora,
ressaltando que:
[...] a partir da C.F/1988 os índios, como todo cidadão brasileiro, passam a ter direito
à educação escolar, enquanto, por outro lado, o Estado passa a ter obrigação
de provê-lo, respeitando a cultura, língua e processos próprios de ensino e
aprendizado de cada comunidade.
Neste sentido, é que urge a efetivação da Educação Especial na Educação
Escolar Indígena, por ser um direito dos educandos com deficiência, transtornos globais
do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação ao serviço de atendimento
educacional especializado, os quais devem ser realizados por meio de recursos
adequados, de professores qualificados para o processo de ensino-aprendizagem.
A LDBEN (BRASIL,1996) no art. 79 deixa claro que “A União apoiará técnica
e financeiramente os sistemas de ensino no provimento da educação intercultural à
comunidades indígenas, desenvolvendo programas integrados de ensino e pesquisa”.A
LDBEN enfatiza que “Os programas serão planejados com audiência das comunidades
indígenas”. São objetivos destes programas:
I - fortalecer as práticas socioculturais e a língua materna de cada comunidade
indígena;
II - manter programas de formação de pessoal especializado, destinado à educação
escolar nas comunidades indígenas;
III - desenvolver currículos e programas específicos, neles incluindo os conteúdos
culturais correspondentes às respectivas comunidades;](https://image.slidesharecdn.com/e-book-contradicoes-e-desafios-da-educacao-brasileira-3-191106203520/85/Contradicoes-e-Desafios-na-Educacao-Brasileira-3-145-320.jpg)
![Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 12 137
IV - elaborar e publicar sistematicamente material didático específico e diferenciado
(BRASIL, 1996).
Neste sentido, percebe-se quão rica é a Educação Escolar Indígena, pois ela
apresenta um público intercultural. Assim faz-se necessário que seu currículo seja
definido pela comunidade, a partir da realidade social dos indivíduos que a compõem,
acredita-se desta forma há maiores possibilidades da efetivação da Educação Especial
no contexto educacional indigena.
Vale destacar que o RCNEI de 1998 define 04 característica para as escolas
indígenas, são elas: comunitária, intercultural, bilíngue/multilíngue, específica e
diferenciada.
Assim a escola indígena é comunitária “Porque conduzida pela comunidade
indígena, de acordo com seus projetos, suas concepções e seus princípios” (BRASIL,
1988, p.24). As comunidades indígenas possuem liberdade para definir seu calendário
escolar, seus objetivos educacionais, seus conteúdos, a pedagogia a ser utilizada em
seu ensino.
De acordo com RCNEI (BRASIL,1988) a escola indígena tem característica
intercultural pois:
[…] deve reconhecer e manter a diversidade cultural e linguística; promover uma
situação de comunicação entre experiências socioculturais, linguísticas e históricas
diferentes, não considerando uma cultura superior à outra; estimular o entendimento
e o respeito entre seres humanos de identidades étnicas diferentes, ainda que
se reconheça que tais relações vêm ocorrendo historicamente em contextos de
desigualdade social e política.
Além de ser comunitária, intercultural, a escola indígena também é Bilíngue/
multilíngue::
·.
[…]astradiçõesculturais,osconhecimentosacumulados,aeducaçãodasgerações
mais novas, as crenças, o pensamento e a prática religiosos, as representações
simbólicas, a organização política, os projetos de futuro, enfim, as reproduções
socioculturais das sociedades indígenas são, na maioria dos casos, manifestados
através do uso de mais de uma língua [...] (BRASIL, 1988)
Nesta perspectiva, entende-se que a Educação Escolar Indígena a ser oferecida
no sistema de ensino deve considerar essas características, considerando que é um
direito dos povos indígenas. O RCNEI (BRASIL,1988) deixa claro ainda que escola
indígena é específica e diferenciada: “porque concebida e planejada como reflexo das
aspirações particulares de povo indígena e com autonomia em relação a determinados
aspectos que regem o funcionamento e orientação da escola não indígena”.
Diante do exposto, percebe-se que a escola indígena tem suas peculiaridades,
suas características. Neste sentido, a Educação Escolar Indígena deve ser tratada
com respeito, com compromisso, com seriedade pelo sistema de ensino brasileiro, o
qual deve possibilitar aos sujeitos indígenas uma educação de qualidade que respeite](https://image.slidesharecdn.com/e-book-contradicoes-e-desafios-da-educacao-brasileira-3-191106203520/85/Contradicoes-e-Desafios-na-Educacao-Brasileira-3-146-320.jpg)
![Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 12 138
as características da escola indígena, as necessidades de seus educandos. Nesta
perspectiva, entende-se ser essencial que a Educação Especial seja garantida,
efetivada na Educação Escolar Indígena, por ser um direito dos educandos com
deficiência,transtornosglobaisdodesenvolvimentoealtashabilidadesousuperdotação
ao acesso, permanência e a aprendizagem.
4 | O MATERIALISMO HISTÓRICO-DIALÉTICO E OS FUNDAMENTOS DA
PEDAGOGIA HISTÓRICO- CRÍTICA
Adotou-se como perspectiva teórico-metodológica da investigação o materialismo
histórico-dialético, que segundo Saviani (2012, p.76) refere-se a “[...] compreensão da
história a partir do desenvolvimento material, da determinação das condições materiais
da existência humana [...]”. Triviños (20012, p.51) define da seguinte forma:
[...]aciênciafilosóficadomarxismoqueestudaasleissociológicasquecaracterizam
a vida da sociedade, de sua evolução histórica e da prática social dos homens, no
desenvolvimento da humanidade. O materialismo histórico significou uma mudança
fundamental na interpretação dos fenômenos sociais que, até o nascimento do
marxismo, se apoiava em concepções idealistas da sociedade humana [...]
Triviños (2012) afirma que o processo de desenvolvimento da pesquisa de cunho
materialista apresenta a “contemplação viva” do fenômeno, a “análise do fenômeno” e
a “realidade concreta do fenômeno”. Assim, esta pesquisa apoiou-se nos fundamentos
da Pedagogia Histórico-Crítica, a qual deu suporte para o desenvolvimento deste
estudo.
A Pedagogia- Histórico -Critica “[...] trata-se de uma dialética histórica expressa
no materialismo histórico [...]”. Para o autor a “[...] educação é vista como mediação
no interior da prática social global. A prática é o ponto de partida e o ponto de chegada
[...]”. (SAVIANI, 2012, p.120). O autor enfatiza que a práxis é:
[...] uma prática fundamentada teoricamente [...] a prática desvinculada da teoria
é puro espontaneísmo [...] a prática é ao mesmo tempo, fundamento, critério de
verdade e finalidade da teoria [...] A prática para desenvolver-se e produzir suas
consequências necessita da teoria e precisa ser por ela iluminada [...] Saviani
(2012, p.120)
Saviani (2009) afirma que seus métodos mantém uma vinculação entre educação
e sociedade. Neste sentido, apresenta-os os cinco passos do processo educativo, no
qual faz um paralelo aos cinco passos de Herbart e Dewey.
O primeiro passo é a “prática social”, pois ela é comum a professor e aluno,
proporcionando a ambos a oportunidade de atuarem como agentes sociais
diferenciados. Contudo, em relação à questão pedagógica, existe uma diferença nos
níveis de compreensão, ou seja, conhecimento e experiência relacionados à prática](https://image.slidesharecdn.com/e-book-contradicoes-e-desafios-da-educacao-brasileira-3-191106203520/85/Contradicoes-e-Desafios-na-Educacao-Brasileira-3-147-320.jpg)
![Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 12 139
social (SAVIANI, 2009)
Contudo, vale destacar que “[...] o professor tem uma compreensão que
poderíamos denominar “síntese precária”, já compreensão dos alunos é de caráter
sincrético [...]” (SAVIANI, 2009, p.63)”. Assim:
[...] A compreensão do professor é sintética porque implica certa articulação
dos conhecimentos e das experiências que detém relativamente à prática social.
Tal síntese, porém, é precária, uma vez que, por mais articulados que sejam os
conhecimentos e as experiências, a inserção de sua própria prática pedagógica
como uma dimensão da prática social envolve uma antecipação do que lhe será
possível fazer com os alunos cujos níveis de compreensão ele não pode conhecer,
no ponto de partida, senão de forma precária. Por seu lado, a compreensão dos
alunos é sincrética uma vez que, por mais conhecimentos e experiências que
detenham, sua própria condição de alunos implica uma impossibilidade, no ponto
de partida, de articulação da experiência pedagógica na prática social de que
participam. (SAVIANI, 2009, p.63)
De acordo com Saviani (2012, p.122) “[...] a relação do aluno se dá
predominantemente, de forma sincrética, enquanto a relação do professor se dá de
forma sintética”. Desta forma, o “[...] processo pedagógico permitiria que no ponto de
chegada o aluno se aproximasse do professor, podendo também ele, estabelecer uma
relação sintética com o conhecimento da sociedade”.
Para Saviani (2009, p.64), o segundo passo é a “ Problematização.”. O autor
enfatiza que é necessário “[...] detectar que questões precisam ser resolvidas no
âmbito da prática social [...] que conhecimentos e necessário dominar.”.
O terceiro passo é a “instrumentalização”, a qual deve “[...] apropriar-se dos
instrumentos teóricos e práticos necessários ao equacionamento dos problemas
detectados na prática social [...]”. Neste passo, Saviani (2009, p.64) enfatiza sobre
a “[...] apropriação pelas camadas populares de ferramentas culturais necessárias a
luta social que travam diurnamente para libertar das condições de exploração em que
vivem”.
Já o quarto passo é a “catarse”, que na acepção de Gramsci refere-se a “[...]
elaboração superior da estrutura em superestrutura na consciência dos homens”
(GRAMSCI, 1978, apud SAVIANI, 2009, p.64). Neste sentido o quarto passo é a “[...]
efetiva incorporação dos instrumentos culturais, transformados agora em elementos
ativos de transformação social (SAVIANI, 2009, p.64)”. Por fim o quinto passo é a
“prática social”, a qual enfatiza que:
[...] ao mesmo tempo em que os alunos ascendem ao nível sintético em que, por
suposto, já se encontrava o professor no ponto de partida, reduz-se a precariedade
da síntese do professor, cuja compreensão se torna mais e mais orgânica [...] Daí
porque o momento catártico pode ser considerado o ponto culminante do processo
educativo, já que é aí que se realiza, pela mediação da análise levada a cabo
no processo de ensino, a passagem da síncrese à síntese, manifesta-se nos
alunos a capacidade de expressarem uma compreensão da prática em termos tão
elaborados, quanto era possível ao professor [...] (SAVIANI, 2009, p.65).](https://image.slidesharecdn.com/e-book-contradicoes-e-desafios-da-educacao-brasileira-3-191106203520/85/Contradicoes-e-Desafios-na-Educacao-Brasileira-3-148-320.jpg)
![Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 12 140
Saviani (2012, p 122) afirma que é neste momento que se situa o problema do
conhecimento sistematizado e que o mesmo pode “[...] não ser do interesse do aluno
empírico, ou seja, o aluno, em termos imediatos, pode não ter interesse no domínio
desse conhecimento [...]”. Afirma ainda que:
[...] os educandos, enquanto concretos, também sintetizam relações sociais
que eles não escolheram [...] o atendimento aos interesses dos alunos deve
corresponder sempre aos interesses do aluno concreto. O aluno empírico pode
querer determinadas coisas, pode ter interesses que não necessariamente
correspondem aos seus interesses, enquanto aluno concreto (SAVIANI, 1944,
p.121-122).
Vale ressaltar que quando Saviani (2012, p.122) aborda sobre conteúdos, sua
essência está voltada para: “[...] trabalhar a educação em concreto e não de forma
abstrata [...] A lógica dialética é uma lógica concreta. É a lógica dos conteúdos. Não
dos conteúdos informes, mas dos conteúdos em articulação com as formas”. O autor
deixa claro que:
[...] O próprio conceito de sínteses implica a unidade das diferenças [...] Não chego
a sínteses se não pela mediação da análise. Na síntese está tudo mais ou menos
caótico, mais ou menos confuso. Não se tem clareza dos elementos que constituem
a totalidade. Na síntese eu tenho a visão do todo com a consciência e a clareza das
partes que o constituem [...] (SAVIANI, 2012, p.124)
Portanto, a pedagogia proposta por Saviani (2009, p.62) enfatiza que:
Uma pedagogia articulada com os interesses populares valorizará, pois, a escola;
não será indiferentemente do que ocorre em seu interior, estará empenhada em
que a escola funcione bem; portanto, estará interessada em métodos de ensino
eficazes. Tais métodos situar-se-ão para além dos métodos tradicionais e novos,
superando por incorporação as contribuições de uns e de outros. Serão métodos
que estimularão a atividade e iniciativa dos alunos sem abrir mão, porém da
iniciativa do professor, mas sem deixar de valorizar o dialogo dos alunos entre
si e com o professor, mas sem deixar de valorizar o diálogo com a cultura
acumulada historicamente; levarão em conta os interesses dos alunos, os ritmos
de aprendizagem e o desenvolvimento psicológico, mas sem perder de vista a
sistematização lógica dos conhecimentos, sua ordenação e gradação para efeitos
do processo de transmissão- assimilação dos conteúdos cognitivos.
Acredita-se que a Pedagogia Histórico-Crítica é essencial para Educação
Especial e Educação Escolar Indígena, uma vez que seus fundamentos condiz com
as características, necessidades e realidade das pessoas com deficiência e com
os pressupostos da Educação Escolar Indígena, pois valoriza a cultura, a história,
ferramentas relevantes no processo de ensino-aprendizagem dos alunos.
5 | INTERFACE DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NA EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA
Ainterface da Educação Especial na Educação Escolar Indígena é um tema atual,](https://image.slidesharecdn.com/e-book-contradicoes-e-desafios-da-educacao-brasileira-3-191106203520/85/Contradicoes-e-Desafios-na-Educacao-Brasileira-3-149-320.jpg)

![Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 12 142
se da pesquisa colaborativa a qual propôs um programa de formação continuada aos
professores do AEE das escolas envolvidas na pesquisa.
Sá e Cia (2012) utiliza em seu estudo a pesquisa documental com foco no Censo
Escolar da Educação Básica. Os dados coletados nos Microdados do Censo Escolar
da Educação Básica são referentes aos anos de 2007, 2008, 2009 e 2010. De acordo
com Sá e Cia (2012, p.05):
[...] houve no ensino regular um aumento expressivo do número de matrículas de
alunos indígenas com deficiência nessa modalidade de ensino, o cotejamento dos
dados de 2010 com o ano base de 2007 mostra um aumento de 262,9% desse
alunado no ensino regular.
Acredita-se que esse aumento esta relacionado à Política Nacional de Educação
Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008), pois esta ressalta que
os alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades
devem ter acesso, participação e que aprendam nas escolas regulares.
Vale destacar no estudo de Sá e Cia (2012, p.06) à incidência de educandos
indígenas com deficiência no ano de 2007 e 2010:
A maior incidência neste ano foi a de alunos com deficiência intelectual, com 31,1%
dos casos, seguida por alunos com baixa visão, 23,6%, alunos com deficiência
física, 17,5%. Nos anos subsequentes teve-se um aumento gradativo do número de
matrículas de alunos indígenas com deficiência no ensino regular. No ano de 2010,
verificou-se que das 736 matrículas a maior incidência foi novamente da deficiência
intelectual com 35,3 % dos casos, seguida por deficiência física, 19,3%, e baixa
visão, 13,6%. Ressalta-se que em todos os anos do período analisado, a maior
incidência de matrículas é de alunos com deficiência intelectual.
Diante do exposto, nota-se que há um maior número de educandos com
deficiência intelectual matriculados nas escolas indígenas. Neste sentido, percebe-se
a necessidade da efetivação da Educação Especial na Educação Escolar Indígena,
pois esta modalidade de ensino é destinada a oferecer a aos estudantes indigenas
com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades um
atendimento educacional especializado mediante suas necessidades, limitações,
habilidades.
Contudo, os resultados da pesquisa de Sá e Cia (2012) mostra um crescimento
no número de matrículas de alunos com deficiência nas escolas indígenas brasileiras.
Em relação ao atendimento educacional especializado constatou-se que no ano de
2010 existiam educandos com deficiência nas escolas indígenas que não recebiam
atendimento educacional especializado.
No entanto, à Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação
Inclusiva deixa claro que o atendimento educacional especializado tem a função de
"[...] identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que
eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando suas
necessidades específicas" (BRASIL, 2008).](https://image.slidesharecdn.com/e-book-contradicoes-e-desafios-da-educacao-brasileira-3-191106203520/85/Contradicoes-e-Desafios-na-Educacao-Brasileira-3-151-320.jpg)
![Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 12 143
Já na pesquisa de Silva (2013) percebeu-se que o atendimento educacional
especializado oferecido nas escolas indígenas era apenas a mera reprodução do
modelo não indígena de atendimento às crianças com deficiência. Contudo o autor
enfatiza que é “[...] essencial refletir sobre como seria o AEE no contexto das escolas
indígenas, de forma que prezasse por uma educação diferenciada, específica, bilíngue/
multilíngue e intercultural” (SILVA, 2013, p.1289). O autor destaca que:
[...] que uma das exigências para a garantia da oferta do AEE nas escolas indígenas
é a definição do tipo de trabalho a ser desenvolvido nas salas de recursos,
principalmente porque as crianças indígenas com deficiência possuem diversas
identidades. (SILVA ,2013, p.1292)
Além dessa afirmação o autor ainda informa que “o AEE precisa ser repensado
nas comunidades indígenas, por meio do diálogo entre os próprios professores
indígenas para saberem operar nos interstícios sociais e culturais (SILVA, 2013,
p.1293)”. Pois o atendimento educacional especializado é um direito dos educandos e
deve ser realizado com compromisso e não apenas de forma mecânica e sem sentido.
De acordo Resolução nº. 5/2012 em seu art. 11, § 2º):
Os sistemas de ensino devem assegurar a acessibilidade aos estudantes indígenas
com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e com altas habilidades e
superdotação, por meio de prédios escolares, equipamentos, mobiliários, transporte
escolar, recursos humanos e outros materiais adaptados às necessidades desses
estudantes(BRASIL,2012).
Apesar da interface da Educação Especial na Educação Escolar Indígena está
garantida na LDBEN (BRASIL, 1996), na Política Nacional de Educação Especial na
Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008) e na Resolução nº. 5/2012, a qual
estabelece novas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Indígena
na Educação Básica, a pesquisa de Sá (2012, p.01) constatou-se que “[...] a formação
inicial e continuada de professores indígenas e de áreas remanescentes de quilombos
não contempla a interface da Educação Especial com a Educação Escolar Indígena e
quilombola”.
6 | CONSIDERAÇÕES FINAIS
As pesquisas sobre a interface da Educação Especial na Educação Escolar
Indígena apontam, mediante a legislação, que essa interface existe e está presente
nas escolas indígenas, ou seja, os educandos com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, inclusive os educandos com
deficiência intelectual constam matriculados e inseridos nas escolas pesquisadas.
Os estudos de Sá e Cia (2012) revelou que houve um aumento significativo no
número de matriculas de educandos com deficiência no período de 2007 a 2010, porém
verificou-se que no de 2010 haviam educandos com deficiência nas escolas indígenas](https://image.slidesharecdn.com/e-book-contradicoes-e-desafios-da-educacao-brasileira-3-191106203520/85/Contradicoes-e-Desafios-na-Educacao-Brasileira-3-152-320.jpg)






![Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 13 150
prevenção de comportamentos de riscos entre jovens e adolescentes. Os pais
e responsáveis estarem atentos às atividades dos adolescentes, estabelecendo
laços de confiança e diálogo e conhecendo suas demandas, colaboram para que
os adolescentes cresçam com segurança. (IBGE, 2016, p. 43).
Pode-se analisar através de uma Pesquisa do IBGE realizada em 2015 (2016)
que mostra, “[...] escolares do 9º ano entrevistados, 66,6% responderam que os pais se
preocupavam com os seus problemas e preocupações, nos últimos 30 dias anteriores
à pesquisa. O percentual para os escolares das escolas privadas foi de 66,9%, e para
as públicas, 66,5% (Tabela 3)”.
Fonte: Ministério da Saúde, com apoio do Ministério da Educação. Pesquisa Nacional de Saúde
Escolar, 2015. IBGE, Coordenação de População e Indicadores Sociais: Rio de Janeiro, IBGE,
2016, p. 45. Disponível em https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv97870.pdf
Esta pesquisa infere que uma parte dos pais preocupa-se com os problemas
dos filhos, porém a porcentagem ainda é muito pequena diante da importância de se
envolver mais com as crianças para entender os seus meios de sociais de convivências
e até mesmo mediar o comportamento adequado a tomar na sociedade, tanto para
sua formação cidadã quanto para sua formação de identidade. Esta última será
determinante para a sua atuação na sociedade, onde os indivíduos serão identificados
pela sua conduta, da maneira que as consequências dependerão de seus atos.
Além disso, as grandes influências tecnológicas e midiáticas também alteram a
essência do diálogo, da interação frente a frente entre os indivíduos, pois a utilização
inadequada dos meios e o controle que a mídia tem para influenciar os nascidos na
era de auge dessas tecnologias, além de conseguirem dominar essas tecnologias,
usufruem muitas vezes erroneamente e sem limites impostos pelos que deveriam
acompanhar essa utilização, no caso a família, também há um grande bloqueio](https://image.slidesharecdn.com/e-book-contradicoes-e-desafios-da-educacao-brasileira-3-191106203520/85/Contradicoes-e-Desafios-na-Educacao-Brasileira-3-159-320.jpg)








![Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 14 159
município, a saber: “ensino interdisciplinar e contextualizado, inclusão de alunos com
deficiência, respeito à diversidade, novas mídias no ensino” (BRASIL, 2012, p. 16).
Nesse momento, é tratado, especificamente, da inclusão de alunos com deficiência
mesmo que a missão do órgão que competente seja ampla. Além do Currículo Mínimo,
apoiados em Gimeno Sacristán (2000, p. 43), ressalta-se que:
as experiências na educação escolarizada e seus efeitos são, algumas vezes,
desejadas e outras, incontroladas; obedecem a objetivos explícitos ou são
expressões de proposição ou objetivos implícitos; são planejados em alguma
medida ou são fruto de simples fluir da ação. Algumas são positivas em relação a
uma determinada filosofia e projeto educativo e outras nem tanto ou completamente
contrárias.
Sinalizando-se que a proposta de Currículo Mínimo não significa propiciar o
mínimo, pois “[...] não pode engessar o processo e nem tolher a liberdade de criação
dos docentes, mas sim, servir como um rumo a ser seguido por todos, tendo em vista
o sucesso da aprendizagem escolar (BRUSQUE, 2012, p. 16). Até mesmo porque se
sabe que em meio à realidade escolar, há um currículo oculto que “[...] é constituído
por aqueles aspectos do ambiente escolar que, sem fazerem parte do currículo oficial,
explícito, contribuem, de forma implícita, para aprendizagens sociais relevantes”
(SILVA, 2007, p. 78).
Paralelo, a compreensão de inclusão se visualiza um meio de auxílio e ao
mesmo tempo possibilidade para o seu desenvolvimento. Mais precisamente, para as
Diretrizes Curriculares Municipal de Brusque (BRUSQUE, 2012) a Educação Especial
é uma modalidade de ensino onde se realiza o atendimento educacional especializado,
cujo se disponibiliza os serviços e recursos desse atendimento aos alunos e orienta os
professores na utilização dos mesmos. Com o intuito de contribuir “para a construção
de uma educação que garanta o acesso, a permanência e a aprendizagem para todos
os alunos” (BRASIL, 2012, p. 31).
O atendimento educacional especializado, segundo Brasil (2008), deve integrar
a proposta pedagógica da escola, envolver a participação da família e articulado com
as demais políticas públicas nacionais. Para tanto, Brusque (2012) salienta o marco
legal da educação inclusiva, no qual apresenta os documentos e leis que garantem os
direitos de acesso e igualdade na educação.
A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e
incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento
da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o
trabalho, conforme Constituição da República Federativa do Brasil de 5 de outubro
de 1988 (BRUSQUE, 2012, p. 31-32).
Para realizar o que preconiza a lei, o município adotou o Projeto de Atendimento
Educacional Especializado (PAEE), que tem como objetivo principal realizar o PAEE,
preferencialmente nas escolas onde o aluno com deficiência estuda, com auxílio de](https://image.slidesharecdn.com/e-book-contradicoes-e-desafios-da-educacao-brasileira-3-191106203520/85/Contradicoes-e-Desafios-na-Educacao-Brasileira-3-168-320.jpg)

![Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 14 161
altas habilidades/superdotação, “aqueles que apresentam um potencial elevado e
grande envolvimento com as áreas do conhecimento humano, isoladas ou combinadas:
intelectual, acadêmica, liderança, psicomotora, artes e criatividade” (p. 33).
Além desse público, também contempla alunos que apresentam dificuldades
significativas em relação à aprendizagem ou transtornos funcionais, que nãos e
caracterizam como deficiências, tais como: Dislexia, Disgrafia, Discalculia, Déficit de
Atenção e Hiperatividade. Para esse acompanhamento orienta os professores, pais e
demais profissionais da unidade escolar. O atendimento e acompanhamento ocorrem
nas chamadas salas multifuncionais que são instaladas conforme o número de alunos
que necessitem desse atendimento, visto que a quantidade de alunos mínimos deve
ser dez, caso não se alcance esse número o professor poderá fazer o trabalho itinerante
em outras escolas.
Para um aluno receber um atendimento especial, diferenciado, deve passar por
avaliação que diagnostique o que precisa, os diagnósticos são problemas visuais,
intelectuais e comportamentais, motores, sensoriais e físicos. O professor, precisa
elaborar um planejamento para esse aluno, identificando meios que facilitem o
entendimento e percebendo o que dificulta, impedindo que a aprendizagem ocorra.
Sendo que, o processo avaliativo no Ensino Fundamental de alunos com deficiência
ou necessidades educacionais especiais, é realizado de uma maneira diversificada.
Vejamos como apresenta no próprio documento:
a avaliação dos alunos com deficiência se dá continuamente, na forma de registro
avaliativo dissertativo. É feita bimestralmente pelo professor regente em conjunto
com o professor auxiliar, junto com a nota a qual o relatório a justifica [...] (BRUSQUE,
2012, p. 34).
Cada aluno tem uma forma de aprender, são todos diferentes uns dos outros,
variam características físicas, sociais, culturais e funcionamento mental. Alguns
aprendem melhor através de leitura, filmes, música, observação, mas existem também
os que precisam de algo mais concreto ou até mesmo abstrato. Lembrando que não
há aprendizagem se não existir um ensino eficiente, para acontecer esse ensino da
melhor maneira deve se perceber as características de cada aluno. Após a avaliação
sobre o aluno, o professor fará um Planejamento de Ensino Individualizado (PDI), esse
planejamento deve ser elaborado considerando as limitações, dificuldades, procurando
valorizar suas capacidades, explorando seu potencial. O planejamento deve conter
o desenvolvimento de competências, utilizar recursos, materiais especiais, ensinar
linguagens e códigos diferenciados, incentivar a comunicação, autonomia, produção
de relatórios e apoio e orientação para a comunidade escolar.
Os profissionais devem apoiar a melhoria de acessibilidade que atenda às
necessidades específicas de cada aluno, dando atenção a cuidados pessoais,
alimentação, higiene e locomoção. O serviço que a sala Multifuncional oferece
(BRUSQUE, 2012) é composto por um professor de Educação Especial, auxiliar do](https://image.slidesharecdn.com/e-book-contradicoes-e-desafios-da-educacao-brasileira-3-191106203520/85/Contradicoes-e-Desafios-na-Educacao-Brasileira-3-170-320.jpg)














![Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 16 176
OAtendimentoEducacionalEspecializadoqueinicialmentefoicriado,unicamente,
para atender as pessoas com deficiência, ofertando atendimento especializado,
passa também a atuar junto a uma equipe multidisciplinar, composta por diversos
profissionais da área da saúde, assistência social e educação que, realizando um
trabalho cooperativo, dão suporte para proporcionar ao aluno com deficiência o direito
de igualdade de oportunidade dentro das instituições de ensino regular.
Apesar dos avanços no campo das políticas públicas inclusivas, algumas
mudanças são necessárias para garantir o acesso, a permanência e a aprendizagem
dos alunos com deficiência, no ensino regular:
I- A reestruturação da construção arquitetônica das instituições de ensino,
para permitir o livre acesso às dependências da escola;
II- a construção de um currículo que atenda às reais necessidades dos alunos;
III- a parceria das instituições de ensino regular com os profissionais da saúde,
assistência social e com a rede de atendimento educacional especializado;
IV- os investimentos na formação continuada dos professores para capacitá-
los para essa nova realidade educacional;
V- a criação de salas de recursos para atender aos alunos; VI- a elaboração
de material didático específico e proposta política pedagógica que valoriza e
respeita as diferenças.
As políticas públicas inclusivas são uma realidade no sistema educacional
brasileiro. Em consonância com os acordos internacionais, em favor da educação para
todos, o Brasil desenvolve ações governamentais, a fim de proporcionar a inclusão
dos alunos com deficiência na rede regular de ensino.
REFERÊNCIAS
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil (CF/88) / coordenação Mauricio Antônio
Ribeiro Lopes. 3ª ed. rev. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1988.
BRASIL, Lei nº 9394 de 20 de dezembro de 1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB).
(Livro Digital).
BRASIL. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa
com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Disponível em: http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/_Ato20152018/2015/Lei/L13146.htm. Acesso em: 16/05/2016.
BRASIL. Plano Nacional de Educação - PNE (2014-2024) Disponível em:http://www.
observatoriodopne.org.br/uploads/reference/file/439/documento-referencia.pdf. Acesso em:
02/07/2015.
BRASIL. Sec. de Educação Especial. Saberes e práticas da inclusão: dificuldades acentuadas de
aprendizagem – deficiência múltipla. 4. ed. / elaboração profª Ana Maria de Godói – Associação de
Assistência à Criança Deficiente – AACD... [et.al.]. – Brasília: MEC, Secretaria de Educação Especial,
2006. (Livro Digital)](https://image.slidesharecdn.com/e-book-contradicoes-e-desafios-da-educacao-brasileira-3-191106203520/85/Contradicoes-e-Desafios-na-Educacao-Brasileira-3-185-320.jpg)
![Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 16 177
BRASIL. Sec. de Educação Especial. Saberes e práticas da inclusão – recomendações para a
construção de escolas inclusivas. [2. ed.] / coordenação geral SEESP/MEC. – Brasíla : MEC,
Secretaria de Educação Especial, 2006. 96 p. (Série : Saberes e práticas da inclusão). http://portal.
mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/const_escolasinclusivas.pdf. Acesso em 19/07/2016.
BRASIL. Ministério da Educação. Documento subsidiário à política de inclusão / Simone
Mainieri Paulon, Lia Beatriz de Lucca Freitas, Gerson Smiech Pinho. –Brasília : Ministério da
Educação, Secretaria de Educação Especial, 2005. http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/
docsubsidiariopoliticadeinclusao.pdf Acesso em 14/07/2016.
BRASIL. Ministério da Educação. Programa Escola Acessível. http://portal.mec.gov.br/secretaria-de-
educacao-continuada-alfabetizacao-diversidade-e-inclusao/programas-e-acoes?id=17428. Acesso em
14/07/2016.
DECLARAÇÃO de Salamanca. Sobre Princípios, Políticas e Práticas na Área das Necessidades
Educativas Especiais. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/salamanca.pdf>.
Acesso em: 16/dez./2014.
GOHN, Maria da Glória. Movimentos sociais na contemporaneidade. Revista Brasileira de
Educação v. 16 n. 47 maio-ago. 2011. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/rbedu/v16n47/
v16n47a05.pdf. Acesso em: 13/07/2016.
MANTOAN, Maria Teresa. O Desafio das Diferenças nas Escolas. 5 ed. – Petrópolis, RJ: Vozes,
2013.
PAÍN, Sara. Diagnóstico e Tratamento dos Problemas de Aprendizagem. Tradução Ana Maria
Netto Machado. – Porto Alegre: Artmed, 1985.
SEN, Amartya; KLIKSBERG, Bernardo. As pessoas em primeiro lugar – A ética do
desenvolvimento e os problemas do mundo globalizado. Tradução Bernardo Ajzemberg, Carlos
Eduardo Lins da Silva. – São Paulo: Companhia das Letras, 2010.
STAINBACK, Susan; STAINBACK, William. Inclusão: um guia para educadores. Tradução Magda
França Lopes. Porto Alegre: Artmed, 1999.](https://image.slidesharecdn.com/e-book-contradicoes-e-desafios-da-educacao-brasileira-3-191106203520/85/Contradicoes-e-Desafios-na-Educacao-Brasileira-3-186-320.jpg)

![Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 17 179
consideramos na formação de professores de arte tem como objetivo principal
envolver os futuros docentes numa prática que o aproxime de sua realidade.
Barbosa (2005,p.12) ao se referir a Freire e a Eisner ressalta que os dois educadores
consideram a educação “[...]mediatizada pelo mundo em que se vive, formatada
pela cultura, influenciada pelas linguagens, impactada por crenças, clarificada
pela necessidade, afetada por valores e moderada pela individualidade”. Portanto,
pesquisar em educação artística constitui um movimento que ao mesmo tempo é
composto por uma experiência (no sentido que lhe atribui Dewey), pois é ela que
apontará as “faltas”, as incompletudes”, “as inquietações” que a investigação intentará
responder. É ainda Eisner (1884,p.40) que nos orienta que uma pesquisa, para ser
realizada, não necessita ser nem empírica e nem quantitativa, pois constitui-se como
uma atividade intelectual cujo objetivo é desenvolver conceitos, modelos e paradigmas
que almejam compreender e assim explicar como funciona o mundo. Entrementes,
neste movimento é preciso ressaltar que o professor/pesquisador é aquele que inserido
em um determinado contexto(social, histórico, organizacional, institucional, espacial e
temporal) poderá intervir e propor práticas docentes em artes a partir de sua própria
inserção e olhar comprometido que o processo investigativo lhe permitiu construir.
DISCUSSÃO
Partindo das questões levantadas em torno da inserção da pesquisa na formação
de professores em artes visuais insistimos sobre a necessidade de uma discussão
que pondere concepções contemporâneas para o ensino de artes visuais, mas que
considere também o contexto das nossas experiências. Não estamos propondo uma
atitude xenófoba. Muito pelo contrário, entendemos a importância das trocas teóricas e
práticas entre diferentes contextos institucionais. Consideramos importante reforçar a
discussão sobre professor reflexivo e pesquisador; isto é, do professor que reflete sobre a
sua prática, que pensa, que elabora em cima dessa prática já em processo no Brasil desde
a década de 1990 (Nóvoa, 1987) e presente nos Parâmetros Curriculares Nacionais.
Mais recentemente, nos chega as concepções de ABR – Arts Based Researcher –, ou
IBA – Investigación Basada en las Artes –, e de artography, ou seja, a reunião do (a)
rtista, do (r)esearcher – pesquisador – e do teacher – professor. Este termo proposto
pela Dra. Rita Irwin almeja a "integração das artes, nesse caso especificamente as artes
visuais, com métodos de pesquisa educacional". Segundo a autora esse neologismo
foi criado para "identificar uma prática docente e uma escrita investigativa (“grafia”)
– o relatório de uma pesquisa, um texto monográfico, uma dissertação, uma tese –
fundamentadas na articulação entre “artist-researcher-teacher, integrando theoria,
práxis e poiesis, ou teoria/pesquisa, ensino/aprendizagem e arte/produção” (IRWIN,
2008, p. 88).](https://image.slidesharecdn.com/e-book-contradicoes-e-desafios-da-educacao-brasileira-3-191106203520/85/Contradicoes-e-Desafios-na-Educacao-Brasileira-3-188-320.jpg)







![Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 17 187
Visuais, diz que "Para informar que referenciais teóricos relacionam-se ao movimento
ação-reflexão-ação seria necessário investigar junto ao corpo docente suas bases
teóricas e metodológicas". Considerando a diversidade desse corpo docente na EAD,
no caso da FAV, podemos perguntar se essa diversidade importa ou não importa
no processo de formação dos nossos almejados professores/pesquisadores. Essa
concepção preconizada nas propostas curriculares (PPC) e em outros documentos
que regulamentam a produção de TCC e Estágio acontece por força do conjúro
dos nossos desejos aos ecrevermos esses documetos? Ou acontece de qualquer
maneira não importando a "concepção" de quem oriente os TCCS? Assim, considerar
o percurso formativo desse leque amplo de professores orientadores que atuam no
curso é talvez um outro desafio que se apresenta para pensarmos a questão da
formação de professores em artes visuais ...
No mesmo documento de normatização do TCC, encontramos o seguinte
detalhamento sobre a formação professor/pesquisador:
Essa formação está prevista no Projeto Político Pedagógico do Curso de Artes
Visuais
– Licenciatura, como um dos três eixos epistemológicos da formação do professor,
que deverá centrar-se em três núcleos: a) formação teórica e prática específica
em artes visuais; b) formação pedagógica centrada nas disciplinas de ensino e
nos estágio e c) pesquisa, que deverá ser contemplada através dos Projetos de
extensão (PROEC) e pesquisa (PIBIC, PIVIC, PROLICEM e FUNAP) e pelo TCC
(file:///C:/Users/Leda/Downloads/Normas_de_TCC%20(1).pdf
Nos parece que os centramentos propostos a), b) e c) colocam cada coisa "no seu
quadrado" e geram questionamentos bastante conhecidos entre nós, por exemplo: a
formação pedagógica (b) acontece em instâncias diferenciadas da formação específica
em artes visuais (a) e da formação para a pesquisa? Este documento de normatização
é da Licenciatura presencial, mas, como argumenta Sampaio (2012), ainda fazemos
EAD aos moldes da Licenciatura presencial. O documento de normatização de TCC
das Licenciaturas em Artes Visuais na modalidade a distância não está na página
oficial da FAV, mas pode ser acessado por professores e estudantes que tenham senha
na plataforma moodle, o Ambiente Virtual de Aprendizagem onde o curso acontece.
No AVA encontramos, no documento que normatiza o TCC da EAD, a proposição da
formação do professor/pesquisador
[...] como um dos quatro eixos epistemológicos da formação de professores
(indicados no PPC), que deverá centrar-se em quatro núcleos: a) formação em
ensino de arte; b) cultura, tecnologias e diálogos; c) arte, estética e contextualização
história d) cultura, tecnologias e diálogos; e a pesquisa, que deverá ser contemplada
através dos Projetos de Extensão (PROEC) e pesquisa (PIBIC, PIVIC, PROLICEM e
FUNAPE) e pelo Trabalho de Conclusão de Curso –
TCC. http://ead.fav.ufg.br/file.php/1/ArquivosDisciplinas/UAB_2/2013_1/TCC_I_-
2013_1_e_2/normas_TCC_UAB_PARFOR_eadfav_CD.pdf
Entendendo a nossa professora/coordenadora colaboradora como integrante,](https://image.slidesharecdn.com/e-book-contradicoes-e-desafios-da-educacao-brasileira-3-191106203520/85/Contradicoes-e-Desafios-na-Educacao-Brasileira-3-196-320.jpg)











![Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 18 199
estão muito presentes na diferença cultural e na criação de estereótipos na sociedade
xapuriense pós-moderna. A raça e a feminilidade também são discutidas por Butler
(2011). A autora defende a liberdade da mulher no seu próprio domínio das questões
corpóreas em que o corpo não é objeto do pensamento alheio. Ela critica a teorização
da materialidade do corpo do ser feminino. Para a autora,
[...] teorizar a partir das ruínas do Logos convida a se fazer a seguinte pergunta:
“E o que ocorre com a materialidade dos corpos?” Em realidade, num passado
recente, me formulei repetidamente esta pergunta do seguinte modo: “e o que
ocorre com a materialidade dos corpos, Judy?” Supus que o agregado de “Judy”
era um esforço para desalojar-me do mais formal “Judith” e recordar-me de que há
uma vida corporal que não pode estar ausente da teorização. Há certa exasperação
na pronúncia desse apelativo final em diminutivo, certa qualidade paternalista que
me (re)constituía como uma menina (em fase escolar), que devia ser obrigada a
retornar à tarefa, que haveria de reinstalar-se nesse ser corporal, o qual, depois
de tudo, se considera mais real, mais pressionado, mais inegável. Talvez fosse um
esforço por recordar-me de uma feminilidade aparentemente esvaziada (evacuated
femininity), a que se constituiu, lá na década de 1950, quando a figura de Judy
Garland produziu inadvertidamente uma série de “Judys” cujas apropriações e
liberações não poderiam se predizer então. (BUTLER, 2011, p.13).
A autora fala sobre a reconstrução de sua identidade na figura de uma menina
em idade escolar que, apesar de preconceitos, construiu sua autonomia. Em relação
à jovem estudante de Xapuri, de certa forma, ela lutou contra os preconceitos, não por
apresentar alterações em sua sexualidade, mas por ser uma menina cega, de classe
social menos privilegiada e de descendência híbrida ou de mistura racial. Entretanto,
encontrou acolhimento na escola para superar as dificuldades e resistências que a
vida lhe impunha, visando o seu desenvolvimento humano e social.
Para Vygotsky (1997) a inserção do sujeito ao meio social, visando a sua
humanização e o seu pleno desenvolvimento é permeado por meio da aquisição da
linguagem prevista ainda no jardim da infância. No entanto, o autor afirma que há
limitações do aluno cego por conta de conflitos por conta da falta da palavra escrita.
Essa, por sua vez, será um artifício a mais para o desenvolvimento do discente com
cegueira. Nessa perspectiva é que associamos a importância de utilizar o sistema
Braille com estratégia de aprendizagem e registro escrito. A unificação desse sistema
de escrita no Brasil foi marcada por várias instâncias internacionais. Cabe citar a União
Mundial dos Cegos (UMC) e a Organização Nacional de Cegos da Espanha (ONCE),
dentre outras. Houve assim, de unificar a simbologia nas disciplinas de matemática e
ciências.
Com a promulgação da Lei n. 11.161/2005 que prevê a oferta de língua espanhola
como componente disciplinar obrigatório no currículo do ensino médio a partir de 2010,
e a Lei 13.146/2015 que prioriza a inserção de pessoas com deficiência na escola,
houve a necessidade de se adaptar a escrita em Braile para os cegos. Essa assistência
é promovida pelas instituições escolares através da contratação de instrutores para
alunos com cegueira. No entanto, cabe ao professor participar de formação continuada](https://image.slidesharecdn.com/e-book-contradicoes-e-desafios-da-educacao-brasileira-3-191106203520/85/Contradicoes-e-Desafios-na-Educacao-Brasileira-3-208-320.jpg)

![Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 18 201
auxiliadas pela tecnologia e através de canções.
A partir do exposto, podemos entender que a aprendizagem é um processo de
desenvolvimento e amadurecimento do ser humano e que os meios para alcançá-la,
dependem, principalmente, da vontade e determinação do sujeito. Afinal o aprendiz
necessita de incentivos e esse é o ponto em que a presença do professor faz a diferença.
Torna-se imprescindível que o profissional tenha domínio de variadas formas de
linguagens para desenvolver o processo interativo com o estudante especial. Por isso,
fomentamos a propagação de formação continuada para professores de diferentes
áreas do conhecimento para que possam idealizar metodologias atrativas, inserindo os
saberes e práticas ao alcance dos alunos especiais.
REFERÊNCIAS
AMIRALIAN, M.L.T.M. A deficiência Redescoberta: A orientação de pais de crianças com
deficiência visual. Rev. Psicologia 2003, 20(62). P.107-15. Disponível em:< https://bit.ly/2AYiLgz>.
Acesso em mar de 2017.
BARALO, M. La Adquisición del español como lengua extranjera. Madrid. Arco Libros, 1999.
BRASIL, Ministério da Educação. Secretaria da Educação Média e Tecnologia. Parâmetros
Curriculares Nacionais: Ensino Médio. Brasília: MEC, 1999
BRASIL, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9394/96. Brasília, DF Disponível em
<https://bit.ly/1OgopZ0>. Acesso em: 14 de jun. de 2017.
BRASIL. Decreto 5.626 de 22 de dezembro de 2005. Brasília. D. F. 2005. Disponível em: <https://bit.
ly/2TdbBMo>. Acesso em: 14 jun. 2017.
BRASIL. Lei N 13.146, DE 6 DE JULHO DE 2015. Diaponível em <https://bit.ly/2numMRn >. Acesso
em: 4 jun. 2017.
BUTLER. J. Corpos que importam. Bodies that matter. On the Discursive Limits of “Sex”. New York:
Routledge, [1993], 2011. Sapere Aude – Belo Horizonte, v.6 - n.11, p.12-16 – 1º sem. 2015. ISSN:
2177-6342. Disponível em: <https://bit.ly/2U4LQ0U> Acesso em: 10 jun. 2017. Tradução de Magda
Guadalupe dos Santos; Sérgio Murilo Rodrigues.
BUTLER, J. Problemas de gênero. Feminismo e subversão da identidade. Tradução
de Renato Aguiar. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003.
GONSALVES, E. P. Iniciação à pesquisa científica. Campinas. S. P. Editora Alínea, 2003.
LIRA, M. C. F., & SCHLINDWEIN, L. M. (2008) A pessoa cega e a inclusão: um olhar a partir da
psicologia histórico-cultural. Caderno Cedes, 28(75), 171-190.
PELÚCIO, L. Subalterno quem, cara pálida? Apontamentos às margens sobre
póscolonialismos, feminismos e estudos queer. In: Contemporânea – Revista de Sociologia
da UFSCar. São Carlos, Departamento e Programa de Pós-Graduação em Sociologia, 2012, in:
Contemporânea ISSN: 2236-532X v. 2, n. 2 p. 395-418.
REILY, L. Escola inclusiva: Linguagem e mediação. Campinas, SP : Papirus, 2004.](https://image.slidesharecdn.com/e-book-contradicoes-e-desafios-da-educacao-brasileira-3-191106203520/85/Contradicoes-e-Desafios-na-Educacao-Brasileira-3-210-320.jpg)

















![Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 20 219
do educador acerca do momento de seu fazer educativo em que há a expressão
materializada desses conceitos? Seriam concebidas como educativas as práticas de
cuidado e vice-versa?
A diversidade das situações educativas no contexto da Educação Infantil é
especialmente interessante para a discussão acerca do educar e do cuidar e para
a entender a relação estreita entre ambos na formação discente. A partir de uma
realidade específica, a pesquisa contribui com a reflexão sobre a Educação Infantil
brasileira, ao possibilitar uma melhor compreensão da dimensão educativa em sua
totalidade, uma vez que fomenta o olhar sobre aspectos por vezes marginalizados e/ou
compreendidos parcialmente, o que ressalta a relevância da investigação. Considera-
se ainda a possibilidade de nesse processo pensar a figura docente.
2 | METODOLOGIA
Com a intenção de compreender a percepção do professor da Educação Infantil
acerca do cuidar e educar, de perceber as consequências dessa compreensão em
seu fazer docente, esta pesquisa se formou. Trata-se de uma discussão que, ao
desenvolver um aprofundamento sobre o cuidar e o educar, pode contribuir para a
reflexão dos profissionais da educação que atuam na Educação Infantil. Para realizar
este estudo, que surge como uma pesquisa descritiva quanto aos seus objetivos,
adotou-se uma metodologia de abordagem qualitativa, desenvolvida por meio de
trabalho de campo e tendo como coleta de dados a entrevista semiestruturada e a
aplicação de questionário.
Como defende Minayo (2013), a pesquisa qualitativa responde a questões muito
particulares, com foco em realidades que não podem ser quantificadas. Ela trabalha
com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes,
elementos que correspondem a um espaço mais profundo das relações, dos processos
e dos fenômenos, os quais não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis.
Já a pesquisa de campo se deu com o intuito de reunir informações sobre o tema a
partir de seu contexto. Acredita-se que um fato ou fenômeno pode muitas vezes ser
melhor entendido no meio em que ele ocorre e do qual faz parte.
A coleta de dados se deu a partir de entrevistas semiestruturadas e questionário.
O questionário, como mostram Marconi e Lakatos (2002, p. 98), proporciona “[...]
respostas mais rápidas e precisas, maior liberdade nas respostas, em razão do
anonimato, e menos risco de distorção, pela influência do pesquisador.” Já a entrevista
foi escolhida como maneira de receber informações mais elaboradas, concretas e
práticas sobre a atuação e o conceito dos docentes a respeito do educar e cuidar. Além
de todos esses passos, o trabalho se apoiou em uma bibliografia especializada sobre
a discussão do cuidar e do educar. A bibliografia assumiu formas de livros, artigos
e documentos oficiais (Referenciais Curriculares para a Educação Infantil; LDBEN,](https://image.slidesharecdn.com/e-book-contradicoes-e-desafios-da-educacao-brasileira-3-191106203520/85/Contradicoes-e-Desafios-na-Educacao-Brasileira-3-228-320.jpg)

![Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 20 221
produtoras da história, sujeitos que na (e da) realidade social que se apresenta.
No Brasil, como mostra Pereira (2011), anteriormente à Constituição de 1988, e
à LDBEN de 1996, as instituições de Educação Infantil eram meramente de caráter
assistencialista,deproteção,especialmenteporsetratardessenovocontextodamulher
no mercado de trabalho. Como mostra Pereira (2011), esse cuidado assistencialista
vinha para compensar a ausência da família, tornando-se o principal objetivo para a
sociedade.
Com o passar do tempo muda-se a concepção de educação, propiciando o
surgimento de novas propostas pedagógicas, incluindo todas as camadas da
sociedade, abolindo desta maneira a ideia de creches assistencialistas, enfatizando
a associação do cuidado com a educação da criança, assim surge a necessidade
da sociedade elaborar novas orientações, leis que favoreçam a educação formal e
completa da criança, tendo em vista o direito à educação infantil (PEREIRA, 2011,
p.580).
No entanto, apesar da mudança e da valorização do caráter pedagógico da
instituição infantil, o pensamento compensatório e assistencial vem arrastando-se até
os dias atuais, mantendo-se ainda bastante presente e forte (PEREIRA, 2011). No
trabalho pedagógico nas instituições de Educação Infantil, cuidar e educar precisam
ser integrados, atentando para a autonomia da criança e tendo os fazeres pedagógicos
planejados a partir de diferentes áreas e realidades observadas.
3.2 Cuidar e Educar na Educação Infantil brasileira contemporânea
Desde fins da década de 1990, é estabelecido por meio dos Referenciais
Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (RCNEIs) que o cuidar e o educar são
funções integradas. Assim, os profissionais de Educação Infantil devem estar atentos
para que esses elementos sejam incorporados dentro escola de forma articulada.
Dessa forma, o educar e o cuidar estão ligados a todo um conjunto de
exigências e atribuições que, buscando o desenvolvimento integral da criança, devem
continuamente permitir a constituição de um sujeito autônomo, protagonista de seu
desenvolver (BRASIL, 1998). Segundo o Referencial Curricular orienta, entende-se
que:
[...] cuidado na esfera da instituição da educação infantil significa compreendê-
lo como parte integrante da educação, embora possa exigir conhecimentos,
habilidades e instrumentos que extrapolam a dimensão pedagógica. Ou seja,
cuidar de uma criança em um contexto educativo demanda a integração de vários
campos de conhecimentos e a cooperação de profissionais de diferentes áreas.
(BRASIL, 1998, p.24).
Como apontam Bertolini e Oliveira (2009), infelizmente muitos dos profissionais/
educadores não estão interessados e/ou compromissados em desenvolver seu
trabalho de modo atento às necessidades apresentadas no espaço escolar, inclusive
no que se refere ao processo de adaptação das crianças.](https://image.slidesharecdn.com/e-book-contradicoes-e-desafios-da-educacao-brasileira-3-191106203520/85/Contradicoes-e-Desafios-na-Educacao-Brasileira-3-230-320.jpg)
![Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 20 222
Historicamente, o problema é que ambos foram vistos dissociadamente, em polos
distintos que os separavam e geravam hierarquias. Estas, como mostrou Tiriba (2005),
geraram consequências diretas (inclusive no processo de formação dos profissionais)
que ainda hoje são muito visíveis na Educação Infantil. No entanto, apesar desse
novo entendimento, como mostra Tiriba (2005), o binômio permanece e junto a ele
a hierarquia, a menor capacitação dos funcionários da educação que se dedicam ao
cuidar, ainda polarizado e assistencialista.
3.3 Educar e cuidar: hierarquização do binômio
Para entender melhor sobre a problemática do educar e do cuidar é preciso rever
em qual momento se deu a divisão "corpo e mente". A partir dessa compreensão é
que surge o binômio, a polarização educativa que ainda hoje traz grande dificuldade
às instituições, que educam e cuidam a partir da separação, causando dualidade/
desintegração onde deveria haver vinculação.
Para Tiriba (2005), o entendimento histórico acerca do corpo está arraigado a um
espaço sem privilégio, menor que aquele ocupado pela razão, pela mente; algo que
como ela diz está presente desde a Antiguidade. Dessa forma,
[...] nas propostas pedagógicas, nas práticas, assim como nas falas de profissionais
educadoras de creches, muitas vezes, mais que integração, o binômio expressa
dicotomia. Em razão de fatores socioculturais específicos de nossa sociedade,
esta dicotomia alimenta práticas distintas entre profissionais que atuam lado a lado
nas escolas de educação infantil, especialmente nas creches: as auxiliares cuidam
e as professoras realizam atividades pedagógicas. (TIRIBA, 2005, p. 70).
Para autora há ainda o fato que pode de algum modo explicar o binômio hoje
existente, a noção de que o cuidar está ligado à emoção; diferente do educar que
estaria ligado à razão. Nesse sentido, para se cuidar não seria necessário alguém
com grande capacidade e formação "o cuidar é desprestigiado por estar relacionado à
emoção, e não à razão; e, ademais, às mulheres, que seriam inferiores aos homens".
E desde os tempos de Platão, a emoção assume uma posição pouco produtiva e
de menor valor para construção do conhecimento. Por sua vez, a razão se torna
indispensável.(TIRIBA, 2005, p. 75). Assim, a cisão entre educar e cuidar seria também
"a expressão, no restrito campo da educação infantil, da cisão maior entre razão e
emoção" (p. 75), sendo essa uma das marcas fundamentais da sociedade ocidental.
Nesta lógica, o corpo assume o lugar secundário destinado aos prazeres, aos
desejosàinconsciência...Nele,acabeçaabrigaarazão,aconsciência,pensamento,
tomado por Descartes como a prova da nossa existência humana. Nesta lógica, o
corpo é simplesmente um portador do texto mental. (Tiriba, 2005, p. 76).
O educar tem assim o caráter de ajudar a trabalhar o raciocínio (ligado ao ensino,
à inteligência), e o cuidar é compreendido como preservar o corpo, algo que qualquer
profissional, segundo essa perspectiva, pode realizar; como discutem Tiriba (2005),](https://image.slidesharecdn.com/e-book-contradicoes-e-desafios-da-educacao-brasileira-3-191106203520/85/Contradicoes-e-Desafios-na-Educacao-Brasileira-3-231-320.jpg)


















![Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 22 241
organization competitiveness, impacting sustainable development and adding value to
companies and their stakeholders.
KEYWORDS:CorporateSocialResponsibility;Sustainability;SustainableDevelopment;
Competitive differential.
1 | INTRODUÇÃO
Partindo da premissa que os mercados estão cada vez mais exigentes bem
como seus consumidores, devido um grande avanço da globalização, é importante
salientar a prática da responsabilidade social, já que conduzir negócios de maneira
ética e responsável vai muito além de financiar projetos sociais, ou de apenas cumprir
a legislação vigente e atender a demanda por certas ações.
Neste sentido, Ashley (2002) afirma que a organização socialmente responsável
[...] assume obrigações de caráter moral, além das estabelecidas em lei, mas que
possam contribuir para o desenvolvimento sustentável dos povos. Sobre o mesmo
sentido, Ferrel, Fraedrich e Ferrel (2000), afirmam que a empresa tem a obrigação
de restituir a sociedade pelos benefícios dela recebidos, buscando minimizar os
problemas sociais, econômicos e ambientais.
Em um mercado onde os produtos e marcas são semelhantes em qualidade,
volume e características, a empresa que mostra um diferencial em seu trabalho
institucional pode se destacar. Seguindo assim as tendências de mercado. Ser
responsável socialmente se tornou um diferencial competitivo de mercado. Segundo
Silva (2000) quanto mais uma empresa for responsável socialmente, maiores serão
suas chances de manter e ampliar sua base de clientes.
Assim, propõe-se um estudo acadêmico motivado pela investigação da
seguinte questão: Qual a importância das práticas de Responsabilidade Social nas
organizações? O objetivo geral deste trabalho consiste em destacar a importância da
implantação da Responsabilidade Social, como diferencial competitivo. Os objetivos
específicos são:
• Apresentar o conceito de Responsabilidade Social Empresarial (RSE);
• Descrever as Diretrizes da Responsabilidade Social Empresarial;
• Relacionar as principais normas e certificações voltadas à Responsabilida-
de Social;
Trata-se de um estudo bibliográfico cuja trajetória metodológica a ser percorrida
se apoiou nas leituras exploratórias e seletivas. Segundo Gil (2010) a pesquisa
bibliográfica é elaborada com base em material já publicado. Tradicionalmente, esta
modalidade de pesquisa inclui material impresso como livros, revistas, jornais, teses,
dissertações e anais de eventos científicos. Michaliszyn e Tomasini (2008), afirmam
ainda que a pesquisa bibliográfica e documental é desenvolvida a partir de referências](https://image.slidesharecdn.com/e-book-contradicoes-e-desafios-da-educacao-brasileira-3-191106203520/85/Contradicoes-e-Desafios-na-Educacao-Brasileira-3-250-320.jpg)





















![Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 23 263
concepts, as suggested by a "Curriculum Director." In order to provide meaningful
learning, there is the need for the student to be able to relate the contents learned over
the school year. The practical and interactive practices are intended to elucidate
contents in which the student presents a greater difficulty of understanding, as well
as to demonstrate in a more dynamic way a relation of diverse subjects that may have
been interpreted wrongly by the students. Through a dynamic carried out in a state
college in the region of Guarapuava, Paraná, with students from the 6th grade, it was
hoped to demonstrate, through interactive activities, a relation with a sensorial system
of the human being and brain, trying to demonstrate that all the meanings correlate as
well as may be affected by the malfunctioning of another sense, a fact that the students
have demonstrated to have knowledge empirically. At the beginning of the activities,
a general explanation of the chosen theme will took place, taking up already learned
concepts, as well as a relation of the sensorial system with the central nervous
system and how a transmission of each organ responsible for the sense until the
same will happen, but with a scientific bias. Students in general have shown more
attention to using a different method to explain a concept that is presented in their daily
lives.
KEYWORDS: Science teaching, Sensorial System, Meaningful Learning
1 | INTRODUÇÃO
O conhecimento sobre ciências biológicas é introduzido aos alunos a partir
das séries iniciais, sendo apresentado de modo fragmentado e evolutivo. Sistemas
mais complexos serão lecionados somente após a introdução de conceitos básicos.
Segundo a Diretriz Curricular da Educação Básica (BRASIL, 2008) os professores
são responsáveis por realizar instrumentos para que os alunos obtenham uma
aprendizagem significativa sobre estes assuntos.
A abordagem desses conteúdos específicos deve contribuir para a formação de
conceitos científicos escolares no processo ensino-aprendizagem da disciplina de
Ciências e de seu objeto de estudo [...] levando em consideração que, para tal
formação conceitual, há necessidade de se valorizar as concepções alternativas
dos estudantes em sua zona cognitiva real e as relações substantivas que se
pretende com a mediação didática. (BRASIL, 2008, p. 84).
Nas séries iniciais o aluno aprende através de métodos em que ele possa
compreender de maneira clara envolvendo os conteúdos ensinados a seu cotidiano,
para que esta haja esta relação são realizadas explicações de maneira mais lúdica,
para facilitar que o entendimento independente de sua idade. Entretanto ao recorrer a
métodos alternativos o aluno pode interpretar algo abstrato a sua própria maneira, ou,
não conseguir conectar os diversos conteúdos entre si, criando assim uma concepção
alternativa sobre o assunto ensinado.
Estudos realizados na área de educação buscam investigar o conhecimento de](https://image.slidesharecdn.com/e-book-contradicoes-e-desafios-da-educacao-brasileira-3-191106203520/85/Contradicoes-e-Desafios-na-Educacao-Brasileira-3-272-320.jpg)






![Contradições e Desafios na Educação Brasileira 3 Capítulo 23 270
estudantes conseguem relacionar o que aprenderam com práticas, há mais chances
de que o conteúdo irá acompanhar o aluno durante sua vida acadêmica.
Permitir que o aluno tenha acesso a um ambiente informal de ensino, irá lhe dar
maior liberdade para levantar questionamentos, como se pode observar ao decorrer
das atividades propostas. Os alunos demonstraram ter esquecido alguns órgãos,
ou, definições já estudadas, porém quando estimulados houve o reconhecimento de
diversos conceitos ditos durantes as dinâmicas e as palestras, porém havia confusão,
ou, incerteza quando questionados sobre o tema.
Dentro do ambiente informal fornecido, os alunos se sentiram mais à vontade
para demonstrar suas dúvidas quanto aos temas dispostos. Assim como muitos, se
envolveram nas dinâmicas revelando o que sabiam sobre os assuntos, o que facilitou
na conversação e na explicação de conceitos em que eles apresentavam dúvidas.
5 | AGRADECIMENTOS
Os autores gostariam de agradecer aAssociação de Estudos, Pesquisas eAuxílio
às Pessoas com Alzheimer (AEPAPA), a Fundação Araucária, a Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoa de nível Superior (CAPES) e a Rede Nacional Leopoldo
de Meis de Educação e Ciências. (RNLMEC).
REFERÊNCIAS
BRASIL. Secretaria de Estado da Educação do Paraná. Diretrizes Curriculares da Educação
Básica. 2008.
BRASIL. Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Educação um
tesouro a descobrir: Relatório para a UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação para o
século XXI, Brasília, janeiro de 1998.
GUYTON, A. C, Et al. Tratado de Fisiologia Médica, 12.ed. [S.I]: Elsevier editora Ltda, 2011.
HENNING, Geor J. Metodologia do ensino de ciências, 3 ed. [S.I], Mercado Aberto Ltda,1998.
MARTIN, John H. Neuroanatomia: Texto e Atlas, 4. ed. [S.I],Porto Alegre, 2013.
O’NEILL, Daniela K; Chong, Selena C.F. Childen’s Difficulty Understanding the Types of
Information Obtained through the Five Senses, [S.I], v 72, p.1-5. Junho 2001. Disponível em: <
https://pdfs.semanticscholar.org/15d7/6d91b43bbd858f5169c0a17724b930ab2d06.pdf> Acesso em:
03 de maio de 2017.
PEDROSO, Ana Cláudia. Sistema Sensorial. 2010.25 slides. Apresentação em Power Point
KWEN,Boo Hong. Teacher’s Misconceptions of Biological Sciences Concepts as Revealed in
Science Examination Papers, [S.I]](https://image.slidesharecdn.com/e-book-contradicoes-e-desafios-da-educacao-brasileira-3-191106203520/85/Contradicoes-e-Desafios-na-Educacao-Brasileira-3-279-320.jpg)

