A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2
- 2. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Atena Editora 2019 Alan Mario Zuffo (Organizador)
- 3. 2019 by Atena Editora Copyright da Atena Editora Editora Chefe: Profª Drª Antonella Carvalho de Oliveira Diagramação e Edição de Arte: Lorena Prestes e Geraldo Alves Revisão: Os autores Conselho Editorial Prof. Dr. Alan Mario Zuffo – Universidade Federal de Mato Grosso do Sul Prof. Dr. Álvaro Augusto de Borba Barreto – Universidade Federal de Pelotas Prof. Dr. Antonio Carlos Frasson – Universidade Tecnológica Federal do Paraná Prof. Dr. Antonio Isidro-Filho – Universidade de Brasília Profª Drª Cristina Gaio – Universidade de Lisboa Prof. Dr. Constantino Ribeiro de Oliveira Junior – Universidade Estadual de Ponta Grossa Profª Drª Daiane Garabeli Trojan – Universidade Norte do Paraná Prof. Dr. Darllan Collins da Cunha e Silva – Universidade Estadual Paulista Profª Drª Deusilene Souza Vieira Dall’Acqua – Universidade Federal de Rondônia Prof. Dr. Eloi Rufato Junior – Universidade Tecnológica Federal do Paraná Prof. Dr. Fábio Steiner – Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul Prof. Dr. Gianfábio Pimentel Franco – Universidade Federal de Santa Maria Prof. Dr. Gilmei Fleck – Universidade Estadual do Oeste do Paraná Profª Drª Girlene Santos de Souza – Universidade Federal do Recôncavo da Bahia Profª Drª Ivone Goulart Lopes – Istituto Internazionele delle Figlie de Maria Ausiliatrice Profª Drª Juliane Sant’Ana Bento – Universidade Federal do Rio Grande do Sul Prof. Dr. Julio Candido de Meirelles Junior – Universidade Federal Fluminense Prof. Dr. Jorge González Aguilera – Universidade Federal de Mato Grosso do Sul Profª Drª Lina Maria Gonçalves – Universidade Federal do Tocantins Profª Drª Natiéli Piovesan – Instituto Federal do Rio Grande do Norte Profª Drª Paola Andressa Scortegagna – Universidade Estadual de Ponta Grossa Profª Drª Raissa Rachel Salustriano da Silva Matos – Universidade Federal do Maranhão Prof. Dr. Ronilson Freitas de Souza – Universidade do Estado do Pará Prof. Dr. Takeshy Tachizawa – Faculdade de Campo Limpo Paulista Prof. Dr. Urandi João Rodrigues Junior – Universidade Federal do Oeste do Pará Prof. Dr. Valdemar Antonio Paffaro Junior – Universidade Federal de Alfenas Profª Drª Vanessa Bordin Viera – Universidade Federal de Campina Grande Profª Drª Vanessa Lima Gonçalves – Universidade Estadual de Ponta Grossa Prof. Dr. Willian Douglas Guilherme – Universidade Federal do Tocantins Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) (eDOC BRASIL, Belo Horizonte/MG) P964 A produção do conhecimento nas ciências agrárias e ambientais 2 [recurso eletrônico] / Organizador Alan Mario Zuffo. – Ponta Grossa (PR): Atena Editora, 2019. – (A Produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais; v. 2) Formato: PDF Requisitos de sistema: Adobe Acrobat Reader Modo de acesso: World Wide Web Inclui bibliografia ISBN 978-85-7247-285-2 DOI 10.22533/at.ed.852192604 1. Agronomia – Pesquisa – Brasil. 2. Meio ambiente – Pesquisa – Brasil. I. Zuffo, Alan Mario. II. Série. CDD 630 Elaborado por Maurício Amormino Júnior – CRB6/2422 O conteúdo dos artigos e seus dados em sua forma, correção e confiabilidade são de responsabilidade exclusiva dos autores. 2019 Permitido o download da obra e o compartilhamento desde que sejam atribuídos créditos aos autores, mas sem a possibilidade de alterá-la de nenhuma forma ou utilizá-la para fins comerciais. www.atenaeditora.com.br
- 4. APRESENTAÇÃO A obra “A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais” aborda uma série de livros de publicação da Atena Editora, em seu II volume, apresenta, em seus 28 capítulos, com conhecimentos científicos nas áreas agrárias e ambientais. Os conhecimentos nas ciências estão em constante avanços. E, as áreas das ciências agrárias e ambientais são importantes para garantir a produtividade das culturas de forma sustentável. O desenvolvimento econômico sustentável é conseguido por meio de novos conhecimentos tecnológicos. Esses campos de conhecimento são importantes no âmbito das pesquisas científicas atuais, gerando uma crescente demanda por profissionais atuantes nessas áreas. Para alimentar as futuras gerações são necessários que aumente à quantidade da produção de alimentos, bem como a intensificação sustentável da produção de acordo como o uso mais eficiente dos recursos existentes na biodiversidade. Este volume dedicado às áreas de conhecimento nas ciências agrárias e ambientais. As transformações tecnológicas dessas áreas são possíveis devido o aprimoramento constante, com base na produção de novos conhecimentos científicos. Aos autores dos diversos capítulos, pela dedicação e esforços sem limites, que viabilizaram esta obra que retrata os recentes avanços científicos e tecnológicos, os agradecimentos do Organizador e da Atena Editora. Por fim, esperamos que este livro possa colaborar e instigar mais estudantes, pesquisadores e entusiastas na constante busca de novas tecnologias para as ciências agrárias e ambientais, assim, garantir perspectivas de solução para a produção de alimentos para as futuras gerações de forma sustentável. Alan Mario Zuffo
- 5. SUMÁRIO SUMÁRIO CAPÍTULO 1.................................................................................................................1 CARACTERIZAÇÃO MORFOAGRONÔMICA DE FEIJÃO-FAVA NAS CONDIÇÕES DO SEMIÁRIDO NORDESTINO José Tiago Barroso Chagas Richardson Sales Rocha Alexandre Gomes de Souza Helenilson de Oliveira Francelino Tâmara Rebecca Albuquerque de Oliveira Rafael Nunes de Almeida Derivaldo Pureza da Cruz Camila Queiroz da Silva Sanfim de Sant’anna Mario Euclides Pechara da Costa Jaeggi Maxwell Rodrigues Nascimento Paulo Ricardo dos Santos Marcelo Vivas Silvério de Paiva Freitas Júnior DOI 10.22533/at.ed.8521926041 CAPÍTULO 2.................................................................................................................9 CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA E AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE BIOLÓGICA DA FRAMBOESA (RUBUS IDAEUS L.). CONTRIBUIÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE UMA ALEGAÇÃO DE SAÚDE Madalena Bettencourt da Câmara João Pedro Borges Ferreira Ana Varela Coelho Rui Feliciano Andreia Bento da Silva Elsa Mecha Maria do Rosário Bronze Rosa Direito Bruno Sepodes Maria Eduardo Figueira João Pedro Fidalgo Rocha DOI 10.22533/at.ed.8521926042 CAPÍTULO 3...............................................................................................................22 COMPARAÇÃO DE CULTIVARES DE ARROZ SUBMETIDOS A INFLUÊNCIA DO ÁCIDO ACÉTICO Luiz Augusto Salles Das Neves Raquel Stefanello Kelen Haygert Lencina DOI 10.22533/at.ed.8521926043 CAPÍTULO 4...............................................................................................................27 COMPARAÇÃO DE DESEMPENHO DE FRANGOS DE CORTE COM BASE EM SEIS ÍNDICES ZOOTÉCNICOS NAS QUATRO ESTAÇÕES DO ANO Miliano De Bastiani Carla Adriana Pizarro Schmidt Glória Patrica López Sepulveda José Airton Azevedo dos Santos DOI 10.22533/at.ed.8521926044
- 6. SUMÁRIO CAPÍTULO 5...............................................................................................................33 COMPARAÇÃO ENTRE OS PRINCIPAIS MÉTODOS DE DIGESTÃO PARA A DETERMINAÇÃO DE METAIS PESADOS EM SOLOS E PLANTAS Júlio César Ribeiro Everaldo Zonta Nelson Moura Brasil do Amaral Sobrinho Fabiana Soares dos Santos DOI 10.22533/at.ed.8521926045 CAPÍTULO 6...............................................................................................................48 COMPARATIVO NA APLICAÇÃO DE ADUBO MINERAL E ORGANOMINERAL NA CULTURA DA ALFACE AMERICANA Maria Juliana Mossmann Emmanuel Zullo Godinho Laércio José Mossmann Bruna Amanda Mazzuco Vanessa Conejo Matter Fernando Caneppele Luís Fernando Soares Zuin DOI 10.22533/at.ed.8521926046 CAPÍTULO 7...............................................................................................................57 COMPORTAMENTO DE ESTACAS DE ALLAMANDA CATHARTICA L. TRATADAS COM ÁCIDO INDOLBUTÍRICO (AIB) Tadeu Augusto van Tol de Castro Rafael Gomes da Mota Gonçalves Igor Prata Terra de Rezende Lethicia de Souza Grechi da Silva Rafaela Silva Correa Carlos Alberto Bucher DOI 10.22533/at.ed.8521926047 CAPÍTULO 8...............................................................................................................66 COMPOSIÇÃO QUÍMICA E ATIVIDADE ANTIFÚNGICA IN VITRO DO ÓLEO ESSENCIAL DAS FOLHAS DE Hypts suaveolens Wendel Cruvinel de Sousa Adiel Fernandes Martins Dias Josemar Gonçalves Oliveira Filho Flávia Fernanda Alves da Silva Cassia Cristina Fernandes Alves Cristiane de Melo Cazal DOI 10.22533/at.ed.8521926048 CAPÍTULO 9...............................................................................................................71 COMUNIDADE DE COLEOPTEROS ASSOCIADA A SOLOS HIDROMÓRFICOS Jéssica Camile da Silva Dinéia Tessaro Ketrin Lohrayne Kubiak Luis Felipe Wille Zarzycki Bruno Mikael Bondezan Pinto Elisandra Pocojeski DOI 10.22533/at.ed.8521926049
- 7. SUMÁRIO CAPÍTULO 10.............................................................................................................83 CONTAMINAÇÃO DO SOLO E PLANTAS POR METAIS PESADOS ASSOCIADOS À ADUBAÇÃO ORGÂNICA Júlio César Ribeiro Everaldo Zonta Nelson Moura Brasil do Amaral Sobrinho Adriano Portz DOI 10.22533/at.ed.85219260410 CAPÍTULO 11.............................................................................................................98 CORRELAÇÃO ENTRE O VESS E OS ATRIBUTOS FÍSICOS DO SOLO E A MATÉRIA ORGÂNICA EM UMA TRANSEÇÃO NA SUB-BACIA MICAELA – RS Thais Palumbo Silva Gabriel Luís Schroeder Mateus Fonseca Rodrigues Cláudia Liane Rodrigues de Lima Maria Cândida Moitinho Nunes Mayara Torres Mendonça DOI 10.22533/at.ed.85219260411 CAPÍTULO 12...........................................................................................................106 DADOS LIDAR AEROTRANSPORTADO NA PREDIÇÃO DO VOLUME EM UM POVOAMENTO DE Eucalyptus sp Daniel Dantas Luiz Otávio Rodrigues Pinto Ana Carolina da Silva Cardoso Araújo Rafael Menali Oliveira Natalino Calegario Marcio Leles Romarco de Oliveira DOI 10.22533/at.ed.85219260412 CAPÍTULO 13........................................................................................................... 116 DECOMPOSIÇÃO DA TORTA DE FILTRO TRATADA COM ACELERADORES BIOLÓGICOS Pedro Henrique De Souza Rangel Mariana Magesto De Negreiros Guilherme Mendes Pio De Oliveira Robinson Osipe DOI 10.22533/at.ed.85219260413 CAPÍTULO 14...........................................................................................................121 DESEMPENHO E PRODUÇÃO DE OVOS DE GALINHAS POEDEIRAS CRIADAS EM SISTEMA DE BASE AGROECOLÓGICA Marize Bastos de Matos Michele de Oliveira Mendonça Kíssila França Lima Iago da Silva de Oliveira e Souza Wanderson Souza Rabello Fernanda Gomes Linhares Henri Cócaro Karoll Andrea Alfonso Torres-Cordido DOI 10.22533/at.ed.85219260414
- 8. SUMÁRIO CAPÍTULO 15...........................................................................................................126 DESEMPENHO PRODUTIVO DA CULTURA DO MILHO ADUBADO COM DOSES DE CAMA DE AVIÁRIO Alfredo José Alves Neto Leonardo Deliberaes Álvaro Guilherme Alves Leandro Rampim Jéssica Caroline Coppo Eloísa Lorenzetti DOI 10.22533/at.ed.85219260415 CAPÍTULO 16...........................................................................................................143 DESENVOLVIMENTO DE BETERRABA SUBMETIDA A NÍVEIS DE ÁGUA NO SOLO Guilherme Mendes Pio De Oliveira Mariana Magesto De Negreiros Pedro Henrique De Souza Rangel Stella Mendes Pio De Oliveira Hatiro Tashima DOI 10.22533/at.ed.85219260416 CAPÍTULO 17...........................................................................................................148 DESENVOLVIMENTO DE MUDAS DE CACAUEIRO GENÓTIPO COMUM BAHIA PRODUZIDOS NO OUTONO SOB DIFERENTES LÂMINAS DE IRRIGAÇÃO Robson Prucoli Posse Stefany Sampaio Silveira Sophia Machado Ferreira Francielly Valani Rafael Jaske Camilla Aparecida Corrêa Miranda Inês de Moura Trindade Sabrina Gobbi Scaldaferro DOI 10.22533/at.ed.85219260417 CAPÍTULO 18...........................................................................................................157 DESENVOLVIMENTO DE UM MICROPULVERIZADOR AUTOPROPELIDO PARA APLICAÇÃO EM ENTRELINHAS ESTREITAS Francisco Faggion Natália Patrícia Santos Nascimento Benevides Tiago Pereira Da Silva Correia DOI 10.22533/at.ed.85219260418 CAPÍTULO 19...........................................................................................................163 DESENVOLVIMENTO DE UMA BEBIDA DE AMENDOIM Gerônimo Goulart Reyes Barbosa Rosane da Silva Rodrigues Mirian Ribeiro Galvão Machado Josiane Freitas Chim Liane Slawski Soares Thauana Heberle DOI 10.22533/at.ed.85219260419
- 9. SUMÁRIO CAPÍTULO 20...........................................................................................................173 DESENVOLVIMENTO INICIAL DE MUDAS DE IPÊ-ROXO EM DIFERENTES SUBSTRATOS Jeniffer Narcisa-Oliveira Renata do Nascimento Santos Beatriz Santos Machado Juliane Gonçalves da Silva Raíra Andrade Pelvine Rudieli Machado da Silva Nathalia Pereira Ribeiro Lorene Tiburtino-Silva DOI 10.22533/at.ed.85219260420 CAPÍTULO 21...........................................................................................................181 DESENVOLVIMENTO INICIAL DE PLÂNTULAS DE DIFERENTES VARIEDADES DE FEIJÃO INOCULADAS COM AZOSPIRILLUM BRASILENSE Juliana Yuriko Habitzreuter Fujimoto Vanessa de Oliveira Faria Caroline Maria Maffini Bruna Caroline Schons Gabriele Larissa Hoelscher Bruna Thaina Bartzen Eloisa Lorenzetti Olivia Diulen Costa Brito DOI 10.22533/at.ed.85219260421 CAPÍTULO 22...........................................................................................................187 DETERMINAÇÃO DA CURVA DE UMIDADE DO GRÃO DE MILHO POR MEDIDA DE CAPACITÂNCIA Jorge Gonçalves Lopes Júnior Letícia Thália da Silva Machado Daiana Raniele Barbosa Silva Edinei Canuto Paiva Wagner da Cunha Siqueira Selma Alves Abrahão DOI 10.22533/at.ed.85219260422 CAPÍTULO 23...........................................................................................................193 DETERMINAÇÃO DA FOLHA MAIS ADEQUADA PARA A AVALIAÇÃO DO NITROGÊNIO NA PLANTA DE ARROZ Juliana Brito da Silva Teixeira Letícia Ramon de Medeiros Luis Osmar Braga Schuch Ariano Martins de Magalhaes Júnior Ledemar Carlos Vahl Matheus Walcholz Thiel Larissa Soria Milanesi DOI 10.22533/at.ed.85219260423
- 10. SUMÁRIO CAPÍTULO 24...........................................................................................................199 DETERMINAÇÃO DAS PROPRIEDADES FÍSICAS DE GRÃOS DE GIRASSOL BRS G57 Dhenny Costa da Mota Bruna Cecília Gonçalves Dhemerson da Silva Gonçalves Selma Alves Abrahão Wagner da Cunha Siqueira Antonio Fabio Silva Santos DOI 10.22533/at.ed.85219260424 CAPÍTULO 25...........................................................................................................205 DETERMINAÇÃO DE ALGUMAS PROPRIEDADES FÍSICAS DE GRÃOS DE QUINOA E AMARANTO EM FUNÇÃO DO TEOR DE ÁGUA Natasha Ohanny da Costa Monteiro Fabiana Carmanini Ribeiro Gervásio Fernando Alves Rios João Batista Soares Samuel Martin DOI 10.22533/at.ed.85219260425 CAPÍTULO 26...........................................................................................................217 DETERMINAÇÃO DE ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DO ARAÇÁ VERMELHO (Psidium cattleianum L.) Elisa dos Santos Pereira Taiane Mota Camargo Marjana Radünz Jardel Araujo Ribeiro Pâmela Inchauspe Corrêa Alves Marcia Vizzotto Eliezer Avila Gandra DOI 10.22533/at.ed.85219260426 CAPÍTULO 27...........................................................................................................227 DIGESTIBILIDADE IN VITRO DE SILAGEM DE BAGAÇO DE SORGO SACARINO Lucas Candiotto Angélica Caroline Zatta Cleiton Rafael Zanella Felipe Candiotto Jessica Maiara Nemirscki Angela Carolina Boaretto Rui Alberto Picolotto Junior Luryan Tairini Kagimura Ricardo Beffart Aiolfi Wilson Henrique Tatto Bruno Alcides Hammes Schumalz Márcia Mensor Anderson Camargo de Lima André Brugnara Soares Edison Antonio Pin Jean Carlo Possenti DOI 10.22533/at.ed.85219260427
- 11. SUMÁRIO CAPÍTULO 28...........................................................................................................233 DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DAS ESPÉCIES DE MOLUSCOS LÍMNICOS DO RIO PINTADO, BACIA HIDROGRÁFICA DO IGUAÇU Alcemar Rodrigues Martello Mateus Maurer DOI 10.22533/at.ed.85219260428 SOBRE O ORGANIZADOR......................................................................................241
- 12. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 1 1 CAPÍTULO 1 doi CARACTERIZAÇÃO MORFOAGRONÔMICA DE FEIJÃO-FAVA NAS CONDIÇÕES DO SEMIÁRIDO NORDESTINO José Tiago Barroso Chagas Universidade Estadual do Norte Fluminense Darçy Ribeiro - UENF, Avenida Alberto Lamego, 2911, Parque Califórnia - 28013-602, Campos dos Goytacazes – RJ, Brasil Richardson Sales Rocha Universidade Estadual do Norte Fluminense Darçy Ribeiro - UENF, Avenida Alberto Lamego, 2911, Parque Califórnia - 28013-602, Campos dos Goytacazes – RJ, Brasil Alexandre Gomes de Souza Universidade Estadual do Norte Fluminense Darçy Ribeiro - UENF, Avenida Alberto Lamego, 2911, Parque Califórnia - 28013-602, Campos dos Goytacazes – RJ, Brasil Helenilson de Oliveira Francelino Universidade Estadual do Norte Fluminense Darçy Ribeiro - UENF, Avenida Alberto Lamego, 2911, Parque Califórnia - 28013-602, Campos dos Goytacazes – RJ, Brasil Tâmara Rebecca Albuquerque de Oliveira Universidade Estadual do Norte Fluminense Darçy Ribeiro - UENF, Avenida Alberto Lamego, 2911, Parque Califórnia - 28013-602, Campos dos Goytacazes – RJ, Brasil Rafael Nunes de Almeida Universidade Estadual do Norte Fluminense Darçy Ribeiro - UENF, Avenida Alberto Lamego, 2911, Parque Califórnia - 28013-602, Campos dos Goytacazes – RJ, Brasil Derivaldo Pureza da Cruz Universidade Estadual do Norte Fluminense Darçy Ribeiro - UENF, Avenida Alberto Lamego, 2911, Parque Califórnia - 28013-602, Campos dos Goytacazes – RJ, Brasil Camila Queiroz da Silva Sanfim de Sant’anna Universidade Estadual do Norte Fluminense Darçy Ribeiro - UENF, Avenida Alberto Lamego, 2911, Parque Califórnia - 28013-602, Campos dos Goytacazes – RJ, Brasil Mario Euclides Pechara da Costa Jaeggi Universidade Estadual do Norte Fluminense Darçy Ribeiro - UENF, Avenida Alberto Lamego, 2911, Parque Califórnia - 28013-602, Campos dos Goytacazes – RJ, Brasil Maxwell Rodrigues Nascimento Universidade Estadual do Norte Fluminense Darçy Ribeiro - UENF, Avenida Alberto Lamego, 2911, Parque Califórnia - 28013-602, Campos dos Goytacazes – RJ, Brasil Paulo Ricardo dos Santos Universidade Estadual do Norte Fluminense Darçy Ribeiro - UENF, Avenida Alberto Lamego, 2911, Parque Califórnia - 28013-602, Campos dos Goytacazes – RJ, Brasil Marcelo Vivas Universidade Estadual do Norte Fluminense Darçy Ribeiro - UENF, Avenida Alberto Lamego, 2911, Parque Califórnia - 28013-602, Campos dos Goytacazes – RJ, Brasil Silvério de Paiva Freitas Júnior Universidade Federal do Cariri – UFCA, Rua Ícaro de Sousa Moreira, s/n, Barro Branco - 63130-025, Crato – CE, Brasil
- 13. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 1 2 RESUMO: O feijão-fava é bastante disseminado e conhecido no Brasil, especialmente na região Nordeste. O objetivo do presente trabalho consiste em caracterizar morfoagronomicamente 10 genótipos de feijão-fava disponíveis no banco de germoplasma da Universidade Federal do Cariri. O ensaio foi realizado em blocos casualizados com quatro repetições. Para estimativa da distância genética entre os genótipos, foram utilizadas sete características quantitativas e quatro qualitativas, com análise conjunta por meio do algoritmo de Gower. Os agrupamentos hierárquicos foram realizados por meio de análises simultânea e individual pelo método UPGMA (Unweighted Pair Group Method withAritmetic Mean). Os 10 genótipos foram agrupados em três grupos, sendo que o grupo I alocou os G109, G45, G06 e G40. O grupo II foi formado pelos genótipos G04, G16, G82, G49, G42 e o grupo III pelo G47. A maior distância genética, para o conjunto das características morfoagronomicas avaliadas, foi encontrada entre os genótipos G04 e G40 (0.62). PALAVRAS-CHAVE: Phaseolus lunatus L., Banco de germoplasma, Melhoramento de plantas. ABSTRACT: Lima bean is widely disseminated and known in Brazil, especially in the Northeast region. The objective of the present work is to characterize morfoagronomic 10 bean genotypes available at the germplasm bank of the Federal University of Cariri. The experiment was performed in a randomized block with four replicates. To estimate the genetic distance between the genotypes, seven quantitative and four qualitative characteristics were used, with joint analysis using the Gower algorithm. The hierarchical groupings were performed by means simultaneous, and individual analyzes by the UPGMA (Unweighted Pair Group Method with Arithmetic Mean) method. The 10 genotypes were grouped into three groups, and group I allocated G109, G45, G06 and G40. Group II was formed by genotypes G04, G16, G82, G49, G42 and group III by G47. The highest genetic distance for all the morphoagronomic characteristics evaluated was found among genotypes G04 and G40 (0.62). KEYWORDS: Phaseolus lunatus L., Germoplasm bank, Plant breeding. 1 | INTRODUÇÃO O gênero Phaseolus possui importância fundamental na alimentação e fornecimento de energia e proteína para as populações de áreas tropicais e subtropicais do mundo, principalmente nos países da África e da América do Sul. Dentre as cinco espécies cultivadas, pertencentes a este gênero, a Phaseolus Lunatus L. é a segunda mais cultivada no mundo (DELGADO-SALINAS et al., 1999; MARTÍNEZ-CASTILLO et al., 2004). Os maiores centros de variabilidade de Phaseolus Lunatus L. foram encontrados na península de Yucatan no México, caracterizada como centro de diversidade, o
- 14. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 1 3 pool gênico Mesoamericano, o pool gênico Andino e o pool gênico Mesoamericano, localizado entre a Guatemala e a Costa Rica (MARTÍNEZ-CASTILLO et al., 2008). Atualmente, a produção desta espécie, conhecida popularmente como feijão- fava, distribui-se por vários países de diferentes continentes, como a América do Norte, América do Sul, Europa, leste e oeste da África e sudeste da Ásia (Silva et al., 2010). No Brasil, a produção e consumo de feijão-fava são restritos às regiões específicas do cerrado, sertão nordestino, chapadas e serras. O Nordeste se destaca por apresentar uma área de 21,329 mil hectare plantados nos estados do Ceará, Paraíba, Pernambuco e Piauí, gerando emprego e renda para os agricultores dessas regiões (IBGE, 2015). Além disso, no Nordeste, esta cultura é bastante disseminada e conhecida sendo, majoritariamente, cultivada por pequenos agricultores em regime de sequeiro e sistemas de produção de baixo nível tecnológico, resultando em grande oscilação nos índices de produtividade em função da má distribuição das chuvas (OLIVEIRA et al., 2014).. Desta maneira, é evidente que esta região demanda por genótipos adaptados as condições edafoclimáticas e de cultivo a qual são submetidos, para obter maior produtividade e aumentar a renda do produtor. Os recursos genéticos são importantes ferramentas em programas de melhoramento, onde as coleções de germoplasmas representam a variabilidade genética disponível, apresentada na forma da variação morfológica das sementes. Desta forma, a avaliação destes recursos genéticos é importante para manuntenção da variabilidade genética do feijão-fava. Para tanto, são necessários estudos de caracterização do material utilizado pelos agricultores a fim de explorar ao máximo o potencial genético dessas cultivares. A caracterização consiste em identificar as diferenças morfológicas entre os genótipos, avaliar as características agrônomicas de produtividade, fitossanidade, período de florescimento e outras diferenças, por meio dos descritores botânicos (SINGH, 2001). Diante do exposto, o objetivo deste trabalho é caracterizar morfoagrônomicamente genótipos de feijão-fava do semiárido nordestino para estimação da distância genética. 2 | METODOLOGIA O experimento foi realizado, nos anos de 2015 e 2016, na área experimental pertencente do Centro de Ciências Agrárias e da Biodiversidade da Universidade Federal do Cariri - UFCA, no munícipio do Crato – CE, localizada à latitude -7,234056 e longitude -39,369500. Foram cultivados 10 genótipos de feijão-fava (G109, G45, G40, G42, G06, G47, G82, G04, G49 e G16) provenientes do banco ativo de germoplasma do Núcleo de Estudos em Fitotecnia e Melhoramento de Plantas da UFCA. O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados com quatro repetições e seis plantas por genótipo. O semeio foi realizado à profundidade de 0,3
- 15. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 1 4 a 0,5 cm, com espaçamento de 0,45 m a 1 m entre linhas e 0,23 m a 0,50 m entre plantas. Os genótipos foram colhidos separadamente e as avaliações foram realizadas utilizando todas as plantas das parcelas. Os caracteres morfoagronômicos avaliados foram divididos em 7 quantitativos e 4 qualitativos, sendo: a) comprimento de vagem (CMV); b) número lóculos por vagem (NLV); c) quantidade de sementes por vagem (QSV); d) largura de vagem (LRV); e) comprimento de sementes (CMS); f) largura de semente (LRS); g) peso de 100 sementes (P100S); h) formato do tegumento (FORT); i) cor de fundo (CORF); j) cor padrão (CORP); e k) segunda cor padrão (SCORP). O comprimento das vagens e sementes foi mensurado, em cm, utilizando régua. As características largura da vagem e largura da semente foram medidos em mm. e aferidas por meio de paquímetro digital. O peso de 100 sementes medido por balança de precisão. Já as características qualitativas foram baseadas em descritores. As análises das variáveis qualitativas foram realizadas utilizando os descritores de Phaseolus Lunatus L. do International Plant Genetic Resources Institute (IPGRI). Para análise conjunta dos descritores qualitativos e quantitativos, utilizou-se o algoritmo de Gower, expresso por: Onde K é o número de descritores (k= 1, 2, ...); p = número total de descritores avaliados; i e j são dois ecótipos quaisquer; Wijk é um peso dada a comparação ijk, atribuindo valor 1 para comparações válidas e valor 0 para comparações inválidas (quando o valor descrito está ausente em um ou ambos indivíduos); Sijk é a contrubuição do descritor k na similaridade entre os ecótipos i e j, possuindo valores entre 0 e 1 (GOWER, 1971). O dendrograma foi realizado pelo método de agrupamento hierarquicos das análises individuais e simultâneas Unweighted Pair Group Method with Aritmetic Mean (UPGMA), por meio do programa GENES (CRUZ et al., 2013). Os agrupamentos hierárquicos das análises individuais e simultâneas em função das matrizes das distâncias, sugeriram a formação de grupos em função das correlações e proximidade genética das características dos genótipos.(SOKAL e ROHFL, 1962). 3 | RESULTADOS E DISCUSSÃO A definição de grupos permite utilizar a magnitude de dissimilaridade e o potencial per se, na seleção de genitores contrastantes que apresentem características de intersse, para obtenção de híbridos superiores. Sendo assim, o método de Tocher permitiu agrupar os 10 genótipos de feijão-fava em três grupos, onde o grupo I alocou os genótipos G109, G45, G06, G40.
- 16. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 1 5 O grupo II reuniu o G04, G16, G82, G49, G42 e o grupo III, o genótipo G47. A formação deses grupos mostram que os genótipos apresentaram significativa divergência genética para as características qualitativas e quantitativas avaliadas. Adissimilaridade genética, estimada pelo algoritmo de Gower, e a análise conjunta dos descritores, mostraram que a menor distância encontrada foi entre os genótipos G109 e G45 (0,13). Desta forma, no caso de apresentarem alguma característica de interesse para o programa de melhoramento, estes genótipos só devem ser considerados para cruzamentos feitos separadamente, devido a alta similaridade existente. Silva et al. (2015), ao avaliarem 24 genótipos de feijão-fava no estado Piauí, afirmaram que os genótipos mais divergentes apresentam potenciais para fornecer variabilidade e uma combinação benéfica para as características de interesse. Sendo assim, os cruzamentos gerados entre os genótipos G04 e G40 podem ser responsáveis por maior disponibilização de variabilidade, uma vez que apresentaram a maior distância (0,56). Os genótipos G109 e G45, que exibiram menores distâncias genéticas, possuíram semelhança na característica peso de 100 sementes (Tabela 1). Já G40 e G04, que estiveram mais distantes, apresentaram formato do tegumento e cor de fundo tegumento contrastantes. Segundo Oliveira et al., (2011), as características importantes da cultura do feijão- fava são produtividade média, número de vagens por planta e demais características de vagens satisfatórias. Deste modo, é possível indicar os genótipos G109 e G06 por possuírem, dentre outras características, elevadas médias de semente por vagem e peso de 100 sementes. Nos programas de melhoramento estas poderiam ser utilizadas para incremento da produtividade como linhagens em programas de melhoramento da cultura. Genótipo CMV NLV QSV LRV CMS LRS P100S FORT CORF CORP SCORP G109 7.77 3.00 2.90 1.75 1.54 1.10 78.57 10.00 3.00 0.00 1.00 G45 7.12 3.00 2.75 1.77 1.49 1.06 71.10 10.00 2.00 0.00 3.00 G40 7.46 3.00 3.15 1.63 1.80 1.10 49.81 7.00 6.00 0.00 0.00 G42 6.17 2.00 2.35 1.61 1.32 0.99 33.62 11.00 7.00 3.00 1.00 G06 6.50 3.00 2.80 1.45 1.76 1.14 63.67 10.00 2.00 0.00 1.00 G47 5.12 3.00 2.70 1.47 1.15 0.73 28.92 5.00 7.00 0.00 0.00 G82 7.56 2.00 1.85 1.63 1.67 1.17 33.54 10.00 3.00 0.00 1.00 G04 4.67 2.00 2.20 1.22 0.98 0.69 27.08 9.00 2.00 0.00 1.00 G49 5.37 2.00 1.70 1.47 1.39 0.94 66.06 10.00 2.00 0.00 1.00 G16 4.27 2.00 1.50 1.43 1.12 0.79 36.19 11.00 2.00 0.00 1.00 D e s v i o Padrão 1.28 0.52 0.56 0.16 0.28 0.17 19.41 1.88 2.41 2.75 3.32 Tabela 1. Médias dos 10 acesos de feijão-fava considerando as características comprimento de vagem (CMV), número lóculos por vagem (NLV), quantidade de sementes por vagem (QSV),
- 17. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 1 6 largura de vagem (LRV), comprimento de sementes (CMS), largura de semente (LRS), peso de 100 sementes (P100S), formato do tegumento (FORT), cor de fundo (CORF), cor padrão (CORP) e segunda cor padrão (SCORP). Crato, Brasil, 2016. Para definir o ponto de corte e o número de grupos formados, foi utilizado o método de Mojena (1977) (Figura 1). Figura 1. Dendrograma da dissimillaridade genética entre os 10 genótipos de feijão-fava no banco ativo de germoplasma da UFCA criado por UPGMA com características quantitativas e qualitativas. As características quantitativas e qualitativas dos genótipos de feijão-fava foram analisadas de forma a mostra a distância genética, de maneira que, os genótipos mais semelhantes ficaram com distâncias menores que 0,13 e os mais divergêntes com distâncias maiores que 0,62 (Figura 1). O grupo I poderá ser utilizado na obtenção de genótipos superiores, vez que apresenta as maiores frequências de P100S e NSV dentre seus genótipos, podendo serem estimativas da produtividade. Peso de 100 sementes apresentou maior valor de desvio padrão (19,41) e intervalo entre de 27,08g (G04) e 78,57g (G109). Resultados semelhantes foram encontrados por Guimarães et al., (2007) que ao avaliarem 22 genótipos de feijão- fava, encontraram variação com grande intervalo. Outra característica quantitativa que apresentou maior magnitude de desvio padrão foi o comprimento de vagem, variando entre 4,27mm (G16) a 7,77mm (G109). López-Alcocer et al., (2016) ao avaliarem genótipos de Phaseolus Lunatus, com o método dos componentes principais de variância, observaram que dentre as características que apresentaram maior variabilidade estavam comprimento de vagem e peso de 100 sementes. Segundo Cruz et al., (2004), essas características são importantes, no entanto, apresentam pouca variação podendo ser dispensadas dos estudos de divergência, uma vez que pouco contribuem para as correlações e acabam se tornando redundantes com outras características avaliadas. Outros autores ainda relatam que devido aos escassos estudos com a cultura de feijão-fava, as coleções de germoplasma conservadas
- 18. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 1 7 ex-situ, devem manter o grau máximo de variabilidade para que futuramente estes possam receber abordagens de avaliação com marcadores moleculares (Silva et al., 2001; Camarena, 2005). 4 | CONCLUSÃO A maior distância genética para o conjunto das características morfoagronomicas avaliadas foi encontrada entre os genótipos G04 e G40 (0.62). O método UPGMA formou cinco diferentes grupos, mostrando a existência de divergência genética. O os genótipos do grupo I G06 e G109 poderão ser utilizados na obtenção de cultivares superiores por possuírem características superiores de peso de 100 sementes e número de sementes por vagem. 5 | AGRADECIMENTOS A Universidade Federal do Cariri pela área experimental disponibilizada. Também a Universidade Estadual do Norte Fluminese Darcy Ribeiro, pela parceria na analise dos resultados. Ao laboratório de engenharia agrícola (LEAG), e a CAPES pela disponibilização da bolsa. REFERÊNCIAS CAMARENA, F. Magnitud e impacto potencial de la liberación de los organismos genéticamente modificados y sus productos comerciales. Caso: leguminosas de grano. In: HIDALGO, O.; ROCA, W.; FERNÁNDEZNORTHCOTE, E.N. (eds.) Magnitud e impacto potencial de la liberación de organismos genéticamente modificados y sus produtos comerciales: casos algodón, leguminosas de grano, maíz y papa. Consejo Nacional del Ambiente, Lima, p. 19-40, 2005. CRUZ, C. D. Genes: a software package for analysis in experimental statistics and quantitative genetics. Acta Scientiarum Agronomy, Maringá, v. 35, n. 3, p. 271-276, 2013. CRUZ, C.D.; REGAZZI A.J.; CARNEIRO, P.C.S. Modelos biométricos aplicados ao melhoramento genético. Vol 1, Editora UFV, Viçosa, 480p, 2004. DELGADO-SALINAS, A.; TURLEY, T. ; RICHMAN, A.; LAVIN, M. Phylogenetic analysis of the cultivated and wild species of Phaseolus (Fabaceae). Systematic Botany 24:438-460, 1999. GOWER, J.C. A general coefficient of similarity and some of its properties. Biometrics , v,27, n.4, p,857-874, 1971. GUIMARÃES, W. N. R.; MARTINS, L. S. S.; SILVA, E. F., FERRAZ, G. M. G., OLIVEIRA, F. J. Caracterização morfológica e molecular de genótipo de feijão-fava (Phaseolus lunatus L.). R. Bras. Eng. Agríc. Ambiental, v.11, n.1, p.37–45, 2007. IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Banco de dados agregados: pesquisa: produção agrícola municipal, 2015. Disponível em: http://www.sidra.gov.br/>dbda/>. Acesso em: 18 Fev 2019.
- 19. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 1 8 LÓPEZ-ALCOCER, J. J.; LÉPIZ-ILDEFONSO, R.; GONZÁLEZ-EGUIARTE, D. R.; RODRÍGUEZ- MACÍAS, R.; LÓPEZ-ALCOCER, E. Morphological variability of wild Phaseolus lunatus L. from the western region of México. Revista Fitotecnia Mexicana. Vol. 39 (1): 49 – 58, 2016. MARTÍNEZ-CASTILLO, J.; COLUNGA-GARCÍAMARÍN, P.; ZIZUMBOVILLARREAL, D. Genetic erosion and in situ conservation of Lima bean (Phaseolus lunatus L.) landraces in its Mesoamerican diversity center. Genetic Resources and Crop Evolution 55:1065-1077, 2008. doi:10.1007/s10722-008-9314-1 MARTÍNEZ-CASTILLO, J.; ZIZUMBOVILLARREAL, D.; PERALES-RIVERA, H.; COLUNGA- GARCÍAMARÍN, P. Intraspecific diversity and morphophenological variation in Phaseolus lunatus L. from the Yucatan Peninsula, Mexico. Economic Botany, New York, v. 58, n. 3, p. 354-380, 2004. MOJENA, R. Hierárquical grouping method and stopping rules: an evaluation. Computer Journal, v. 20, p. 359-363, 1977. OLIVEIRA, A. E. S.; SIMEÃO, M.; MOUSINHO, F. E. P.; GOMES, R. L. F. Desenvolvimento do feijão-fava (Phaseulus lunatus L.) Sob déficit hídrico cultivado em ambiente protegido. HOLOS, n 30, v. 1, 2014. OLIVEIRA, F.N., TORRES, S.B., BEBEDITO, C.P. Caracterização botânica e agronômica de acessos de Feijão- Fava, em Mossoró, RN. Revista Caatinga, n. 24, v. 1, p.143–148, 2011. SILVA, D.J.H, MOURA, M.C.C.L; CASALI, V.W.D. Recursos genéticos do banco de germoplasma de hortaliças da UFV: histórico e expedições de coleta. Horticultura Brasileira 19: 108-114, 2001. SILVA, K. J. D., LOPES, A. C. A., GOMES, R. L. F., SOUSA, F. M., & ROCHA, M. M. (2010). Recursos genéticos. A cultura do feijão-fava no Meio-Norte do Brasil. Teresina: Editora da UFPI. SILVA, V. B.; GOMES, R. L. F.; LOPES, A. C. A.; DIAS, C. T. S.; SILVA, R. N. O. Diversidade genética e indicação de cruzamentos promissores entre genótipos de feijão-fava (Phaseolus lunatus L.). Semina: Ciências Agrárias, Londrina, v. 36, n. 2, p. 683-692, mar./abr, 2015. SINGH, S. P. Broadening the genetic base of common bean cultivars: a review. Crop Science, v. 41, n. 6, p. 1659-1675, 2001. SOKAL, R.R.; ROHLF, F.J. The comparison of dendrograms by objective methods. Taxon, v l 1, p.33-40, 1962.
- 20. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 2 9 CAPÍTULO 2 doi CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA E AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE BIOLÓGICA DA FRAMBOESA (RUBUS IDAEUS L.). CONTRIBUIÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE UMA ALEGAÇÃO DE SAÚDE Madalena Bettencourt da Câmara Centro de Investigação Interdisciplinar Egas Moniz, CiiEM, Egas Moniz Cooperativa de Ensino Superior CRL, Caparica, Portugal, mbcamara@ gmail.com João Pedro Borges Ferreira Pharmacology and Translational Research Group, iMED – Faculdade de Farmácia, Universidade de Lisboa, Portugal Ana Varela Coelho Instituto de Tecnologia Química e Biológica, ITQB, Portugal Rui Feliciano Grupo de investigação Reed, Universidade de Wisconsin-Madison, EUA Andreia Bento da Silva Instituto de Biológica Experimental e Tecnológica, IBET, Portugal Elsa Mecha Instituto de Biológica Experimental e Tecnológica, IBET, Portugal Maria do Rosário Bronze Pharmacology and Translational Research Group, iMED – Faculdade de Farmácia, Universidade de Lisboa, Portugal Rosa Direito Pharmacology and Translational Research Group, iMED – Faculdade de Farmácia, Universidade de Lisboa, Portugal Bruno Sepodes Pharmacology and Translational Research Group, iMED – Faculdade de Farmácia, Universidade de Lisboa, Portugal Maria Eduardo Figueira Pharmacology and Translational Research Group, iMED – Faculdade de Farmácia, Universidade de Lisboa, Portugal João Pedro Fidalgo Rocha Pharmacology and Translational Research Group, iMED – Faculdade de Farmácia, Universidade de Lisboa, Portugal RESUMO: As framboesas são uma fonte dietética de fibras, vitaminas, minerais e de compostos bioativos não-nutrientes, sobretudo compostos fenólicos. Os fitoquímicos destes frutos, sobretudo antocianinas e elagitaninos, têm demonstrado atividades biológicas, antioxidante, anti-inflamatória, antimicrobiana, antiproliferativa e anticancerígena, entre outras. No entanto, na sua maioria os trabalhos publicados são estudos in vitro pelo que não existem alegações de saúde autorizadas para estes não-nutrientes da framboesa. Assim, visando dar um contributo para o desenvolvimento de uma alegação de saúde para estes fitoquímicos, procedeu-se à: (1) caracterização da composição fenólica de um extrato de uma amostra de framboesas colhidas em 2010 e avaliação da atividade biológica (capacidade antioxidante e anti-inflamatórias) in vitro e in vivo em modelos celulares e animais; (2) caracterização química de amostras de
- 21. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 2 10 genótipos distintos de Rubus idaeus L., produzidos na região de Odemira entre 2011 e 2013; (3) realização de um estudo de intervenção nutricional em humanos (ENIH), com o objetivo de estudar o efeito do consumo de 150 g de framboesas do genótipo selecionado, diariamente, durante 3 semanas, no stresse pós-prandial metabólico, oxidativo e inflamatório, induzido por uma refeição hipercalórica rica em gordura e açúcar (RRGA), em voluntários saudáveis. Os resultados obtidos foram analisados e discutidos tendo em conta os requisitos legais vigentes e orientações da Autoridade Europeia de Segurança dos Alimentos respeitantes à fundamentação científica de alegações de saúde na UE. PALAVRAS-CHAVE: Compostos fenólicos, antocianinas, elagitaninos, atividade antioxidante, atividade anti-inflamatória CHEMICAL AND BIOLOGICAL EVALUATION OF RASPBERRY (RUBUS IDAEUS L.). CONTRIBUTION TO THE DEVELOPMENT OF A HEALTH CLAIM ABSTRACT: Raspberries are a source of dietary fiber, vitamins, minerals and nutrients non-bioactive compounds, mainly phenolic compounds. The phytochemicals of these fruits, especially ellagitannins and anthocyanins, have shown biological activities, antioxidant, anti-inflammatory, antimicrobial, anticancer and antiproliferative, among others. However, most of the published works are in vitro studies so there is no authorized health claims for these raspberry non-nutrients. Thus, aiming to contribute to the development of an health claim for these phytochemicals we proceeded to the: (1) characterization of the phenolic composition of an raspberry extract from a sample harvested in 2010 and evaluation of the biological activity (antioxidant capacity and anti-inflammatory) in vitro and in vivo, in cellular and animal models; (2) chemical characterization of samples of different genotypes of Rubus idaeus L. produced in Odemira region between 2011 and 2013; (3) realization of a nutritional intervention essay in humans (ENIH), in order to study the effect of consumption of 150 g raspberries (selected genotype) daily for 3 weeks, the metabolic, oxidative and inflammatory postprandial stress induced by a high calorie meal rich in fat and sugar (RRGA) in healthy volunteers. The results were analyzed and discussed taking into account the legal requirements and guidelines of the European Food Safety Authority concerning the scientific basis of health claims in the EU. KEYWORDS: Phenolic compounds, anthocyanins, ellagitannins, antioxidant activity, anti-inflammatory activity 1 | INTRODUÇÃO As doenças crónicas, atualmente a principal causa de morte em todo o mundo, têm aumentado dramaticamente consequência das modificações de estilos de vida, nomeadamente sedentarismo, níveis elevados de stresse e alterações na dieta. Segundo a OMS estas mortes prematuras podem ser prevenidas1 . Processos inflamatórios não infeciosos têm sido implicados na etiologia dessas patologias2 . A
- 22. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 2 11 promoção de hábitos alimentares saudáveis, tais como o aumento da ingestão de frutas e produtos hortícolas, a principal fonte de (poli)fenóis bioativos, constitui uma via para a proteção da saúde das populações1,3 . A framboesa (Rubus idaeus L.) é um fruto que apresenta diversos macro e micronutrientes com interesse farmacêutico, nomeadamente fibra, ácido ascórbico e não-nutrientes como compostos fenólicos4 . A composição fenólica da framboesa é dominada por antocianinas e elagitaninos e inclui em menor quantidade glicósidos de ácido elágico e conjugados de flavonóis5,6 . Na última década, estudos in vitro e in vivo revelaram que os compostos fenólicos da framboesa vermelha apresentam uma gama alargada de atividades biológicas: antioxidante, anti-inflamatória, antiproliferativa e anticancerígena, antimicrobiana e respeitantes a obesidade e à gestão do teor de glucose no sangue, entre outras7 . Os estudos científicos que fundamentam as alegações de saúde devem consistir principalmente em estudos no ser humano, intervencionais e/ou observacionais8 . Embora alguns estudos tenham começado a desvendar os efeitos anti-inflamatórios de extratos de framboesa vermelha in vitro e in vivo, estes são na sua maioria estudos preliminares que requerem uma maior elaboração de modo que uma abordagem translacional para a prática clínica é uma meta realista a considerar uma terapia adjuvante9 . A investigação que se descreve teve por objetivo a caracterização química e biológica de frutos de Rubus idaeus L. produzidos em território nacional visando dar um contributo para o desenvolvimento de uma alegação de saúde. Os objetivos específicos do trabalho experimental foram os seguintes: caracterização da composição fenólica de amostras de variedades de Rubus idaeus L. com expressão em território nacional ao longo de um ciclo produtivo e ao longo de 3 anos consecutivos; seleção de uma variedade de framboesa com base no estudo da composição fenólica de cultivares de Rubus idaeus L. com expressão em território nacional; avaliação in vitro de atividades antioxidantes e anti-inflamatórias de um extrato de framboesa; e avaliação in vivo, em modelos animais e em humanos, de atividades antioxidantes e anti-inflamatórias de extratos de framboesa e de framboesas. MATERIAL E MÉTODOS Reagentes e Padrões A água usada na preparação de reagentes e soluções era água era água desionizada (tipo I), obtida num sistema de purificação de água ultrapura Milli-Q® Reference/Millipore Direct Q3 UV System (Millipore, Bedfore, US) com uma condutividade ≤ 0,058 µS. Os reagentes usados apresentavam grau analítico ou HPLC. O ácido gálico (98%), ácido sulfúrico (95-97%) e o luminol foram adquiridos na Fluka (Seelze, Alemanha). O hidróxido de sódio (98%), cloreto de cálcio di-hidratado, sulfato de magnésio e o hidrogenocarbonato de sódio foram adquiridos à Merck (Darmstadt, Alemanha). O ácido clorídrico (0,1 M), etanol absoluto (99,9%), metanol (99,9%), ácido acético glacial (99%) e acetato de sódio anidro (99%) foram adquiridos
- 23. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 2 12 à Carlo Erba Reagentes (Rodano, Itália). A cianidina-3-O-glucósido foi adquirida à Extrasynthese (Lyon Nord, França). O ácido tânico foi comprado ao laboratório BDH (Poole, Inglaterra). ácido fosfórico p.a. (85%) e ácido ascórbico foram adquiridos à Panreac Química (Barcelona, Espanha). Acetonitrilo de grau HPLC foi adquirido à VWR® (Leuven, Bélgica). O cloreto de potássio foi obtido na Pronalab (Abrunheira, Portugal). Cloreto de sódio e sal de sódio de 2,6-diclorofenol indophenols (90%) foram comprados na Riedel-de Haën (Hannover, Alemanha). Todos os restantes reagentes foram adquiridos à Sigma-Aldrich (St. Louis, EUA). kits de ensaios imunoenzimáticos ELISA de fase sólida de alta sensibilidade Quantikine® da R&D Systems Inc. (Minneapolis, US), para o doseamento em humanos das citocinas TNF-α, IL-1β e IL-6. kits de ensaios imunoenzimáticos ELISA de fase sólida da Mercodia® (Uppsala, SE), para o doseamento em humanos da LDL oxidase (LDLox); kits comerciais Cobas c pack da Roche para a determinação dos parâmetros bioquímicos glucose, triglicéridos, colesterol total, HDL e LDL da Roche (Roche Portugal, Amadora, PT). Amostras Os frutos de Rubus idaeus L. utilizados neste trabalho eram frutos sãos, inteiros e maduros, produzidos no Alentejo Litoral, na região de Odemira entre 2010 e 2013, sobretudo na Herdade Experimental da Fataca7 . Himbo-top, Amira, Erika e Polka foram as cultivares consideradas na seleção da cultivar-alvo do estudo de intervenção nutricional em humanos. Preparação dos extratos de framboesa Foram produzidos dois extratos de framboesa ricos em compostos fenólicos, segundo adaptação dos procedimentos descritos por Mullen et al.5 e González-Barrio et al.10 apresentado em Correia7 . Métodos Caracterização química: os teores em vitamina C, fenóis totais, flavonóides totais, antocianinas totais, taninos condensados totais e taninos hidrolisados totais foram realizados pelos métodos espetrofotométricos descritos em Figueira et al.9 ; a análise individual dos compostos fenólicos foi efetuada pelos métodos cromatográficos e de espetrometria de massa descritos igualmente em Figueira et al.9 . Avaliação da atividade biológica do extrato de framboesa in vitro: atividade antioxidante potencial – métodos químicos ORAC e HORAC descritos por Serra et al.11 ; capacidade antioxidante celular (CAC) do extrato de frutos de Rubus idaeus L. avaliada em células da linhagem Caco-2 (Serra et al.11 ). O stress oxidativo celular foi induzido por um agente químico, o AAPH, originando radicais peroxilo; avaliação da capacidade dos compostos fenólicos do extrato para inibirem ativamente a resposta do oxidative burst realizada em neutrófilos humanos por quimioluminescência, segundo o método descrito por Freitas et al.12 .
- 24. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 2 13 Avaliação da atividade biológica do extrato de framboesa in vivo em modelos animais: (i) atividade anti-inflamatória aguda – modelo do edema da pata da λ-carragenina (34 ratos Wistar; 6 grupos – controlos negativo e positivo, framboesa administrada via oral (p.o.) e framboesa administrada via intraperitonial ( i.p.) na dose de 15 mg de fenóis totais (EAG)/Kg peso corporal, trolox e indometacina). O volume da pata posterior esquerda dos ratos foi medido através método do volume deslocado num pletismómetro; (ii) atividade anti-inflamatória crónica - modelo experimental de artrite reumatoide atividade anti-inflamatória crónica - um modelo experimental de artrite reumatóide (AR) induzida pelo colagénio no rato – (20 ratos Wistar, 4 grupos, controlos negativo e positivo, extrato de framboesa p.o., extrato de framboesa i.p., dose de extrato – 15 mg de fenóis totais (EAG)/Kg peso corporal/dia, protocolo - dias 1 e 21 indução de AR com 2 injeção de colagénio tipo II bovino (CII), injetando nos ratos adjuvante completo de Freund, dias 23-34 tratamento com extrato, dia 35- avaliação das patas, colheita de sangue e sacrifício). As patas foram removidas, radiografadas e conservadas em formalina para posterior exame histológico incluindo a análise histoquímica da atividade das enzimas iNOS e COX-2. Nos soros fez-se a determinação de alanina aminotransferase (ALT), aspartato aminotransferase (AST), creatina quinase (CK) ureia e creatinina foram avaliados por métodos enzimáticos colorimétricos num autoanalisador COBAS; e dos teores das citocinas TNF-α, IL-6 e IL-1 foi realizada por métodos imunoenzimáticos ELISA(Kits Quantikine HS Elisa para soro de rato, R&D Systems). Tratamento estatístico – análise ANOVA, seguida do teste post-hoc de Bonferroni ( p < 0,05). Estudo nutricional de intervenção em voluntários saudáveis: (n=12, 75% dos indivíduos recrutados; 8 mulheres e 4 homens), previamente aprovado pela Comissão de Ética da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa (05/06/2012). Todos os participantes preencheram um questionário médico e assinaram o consentimento informado. O estudo compreendeu as seguintes etapas: ensaio 1, antes da intervenção – (i) colheita de amostras de sangue em jejum > (ii) ingestão da refeição rica em gordura e açúcar (RRAG) [pequeno-almoço (1308 kcal; 38% gordura e 44% de açúcar – 1 iogurte grego (125 g) + 1 leite achocolatado UHT (200 mL) + 1 croissant folhado (140 g) com manteiga (10 g), 2 fatias de queijo (40g) e fiambre (20g)] > (iii) colheita de sangue 1h, 2h, 4h e 6h após a ingestão da refeição; intervenção nutricional – suplementação da dieta dos participantes com uma ingestão diária de 150 g de framboesas; ensaio 2, após da intervenção – repetição das etapas (i), (ii) e (iii) realizadas no ensaio 1. Os teores em glucose, triglicéridos, colesterol total, LDL e HDL foram avaliados por métodos enzimáticos colorimétricos num autoanalisador COBAS, a quantificação da LDL oxidada (oxLDL) e dos teores das citocinas TNF-α, IL-6 e IL-1 foi realizada por métodos imunoenzimático ELISA (kit Mercodia Oxidized LDL Elisa e Kits Quantikine HS Elisa, R&D Systems, respetivamente). Todos os resultados foram tratados estatisticamente pelo método ANOVA de medidas repetidas. As diferenças entre tratamentos para as diferentes variáveis foram realizadas com o teste t-Student
- 25. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 2 14 para amostras emparelhadas. Em ambos os casos considerou-se haver diferenças significativas para valores de p <0.05. Alegações de saúde sobre framboesas: pesquisa dos sítios eletrónicos da EUR-Lex, EFSA, DGAV e do ‘EU Register of Nutrition and Health Claims’. A descrição detalhada dos diferentes métodos pode ser consultada em Correia7 . RESULTADOS E DISCUSSÃO O quadro 1 apresenta um resumo da caracterização química das amostras de Rubus idaeus L. analisadas. Em termos globais, o teor em ácido ascórbico e a composição fenólica, qualitativa (predominância de antocianinas e elagitaninos) e quantitativa, encontrava-se dentro da gama de valores dos dados publicados na bibliografia para este pequeno fruto7 . Os estudos realizados permitiram escolher as melhores condições de preparação dos extratos de framboesa, utilizando uma solução extratante constituída por metanol:água:ácido fórmico (79,9:20:0,1 v/v/v). No estudo da caracterização das amostras das variedades de Rubus idaeus L. (Himbo-top, Amira, Erika e Polka), ao longo de um ciclo produtivo e de três anos consecutivos não se verificaram alterações significativas na sua composição fenólica em termos quantitativos mas observaram-se diferenças nos compostos individuais. As amostras usadas nos ensaios in vitro e animais e as do EINH apresentavam uma atividade antioxidante in vitro avaliada pelos métodos ORAC e HORAC7 . O extrato de Rubus idaeus L. selecionado mostrou igualmente atividade antioxidante elevada em ensaios que avaliam o mesmo efeito em meio celular como o CAC em células Caco-2 (78 µmol equivalentes de quercetina (EQ)/100g de framboesa) e na modulação do oxidative burst dos neutrófilos (figura 1). O elevado teor destes frutos em vitamina C e em compostos fenólicos terá igualmente ter contribuído para a elevada atividade antioxidante observada7 . Os dados dos estudos biológicos in vivo realizados em modelos experimentais encontram-se nas figuras 1 a 8. O extrato administrado [15 mg Fenóis Totais (EAG).Kg-1 ] quando usado no modelo de inflamação aguda de edema induzido pela carragenina, em rato, mostrou ter um elevado efeito anti-inflamatório mas só quando foi administrado via i.p. (figura 2). No modelo de inflamação crónica de AR induzida pelo colagénio II, o mesmo extrato administrado i.p. mas também por via oral (p.o.) mostrou ter uma potente atividade anti-inflamatória diminuindo o edema, os danos na cartilagem, o inchaço dos tecidos moles e a reabsorção óssea e reduzindo marcadamente a expressão de iNOS e de COX-2, demostrando uma proteção significativa na progressão daAR (figuras 3 a 8). No ENIH, pretendeu-se estudar o efeito do consumo de 150 g de framboesas, diariamente, durante 3 semanas, no stresse pós- prandial metabólico, oxidativo e inflamatório, induzido por uma refeição hipercalórica rica em gordura e açúcar (RRGA), em voluntários saudáveis. Os resultados mostraram que o consumo de framboesas evitou o decréscimo pronunciado dos níveis de HDL (figura 10), diminuiu significativamente os valores basais de LDLox dos voluntários
- 26. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 2 15 (figura 11) e atenuou o aumento de valor de TNF-α e de IL-6 provocados pela ingestão da mesma refeição (figuras 12 e 13). Os resultados das citocinas estão concordantes com o estudo de Gregersen et al.13 , em que tanto uma refeição rica em gordura como outra rica em açúcar foram responsáveis pelo incremento dos valores pós-prandiais de IL-6 e são semelhantes aos encontrados em outros estudos que usaram igualmente alimentos ricos em compostos fenólicos14,15 . Os nossos resultados sugerem que a framboesa e o seu extrato fenólico podem atenuar, em certa medida, o stresse metabólico, oxidativo e inflamatório e, como tal, ter um papel importante de proteção na saúde humana. Na UE, o uso de alegações de saúde realizadas em rótulos, na publicidade ou na promoção de alimentos, incluindo suplementos alimentares, carece da autorização prévia da Comissão Europeia e Estados-Membros, salvaguardando- se o cumprimento dos requisitos legais estabelecidos7 . Um pedido de autorização de uma alegação de saúde deve referir-se à relação entre um alimento e um único efeito alegado e constitui um processo independente que reúne todas as informações e dados científicos apresentados visando a autorização da alegação de saúde proposta16 . Os resultados obtidos, ainda que insuficientes para fundamentar uma alegação de saúde para a framboesa, constituem um alicerce capaz de possibilitar a prossecução dos trabalhos visando esse objetivo. CONCLUSÕES A caracterização química e a avaliação da atividade biológica de frutos e de extratos de frutos de Rubus idaeus L. nacionais realizados neste trabalho pode possibilitar um contributo efetivo para o desenvolvimento de uma alegação de saúde para a framboesa. Os estudos realizados indicaram/sugerem que: (1) as metodologias cromatográficas usadas na caracterização fenólica dos extratos de frutos de Rubus idaeus L. das cultivares em estudo mostraram-se adequadas para o fim visado; (2) o extrato de framboesa e a framboesa estudada apresentam propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. A identificação e caracterização da mistura fenólica-alvo, a prossecução de estudos para o desenvolvimento de uma alegação de saúde relativa à saúde das articulações para um extrato de framboesa e o estabelecimento de um efeito fisiológico benéfico específico para o fruto são perspetivas a explorar em trabalhos futuros. REFERÊNCIAS WHO/FAO. Report of a WHO/FAO Expert Consultation. Diet, Nutrition and the Prevention of Chronic Diseases. WHO Technical Report Series. 2003(TRS 916):1-160. Calder PC, Albers R, Antoine J-M, et al. Inflammatory disease process and interactions with nutrition. British J. Nutr. 2009;101:S1-S45. WHO. Global Status Report on noncommunicable diseases. WHO Press. 2014:1-298.
- 27. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 2 16 Rao AV, Snyder DM. Raspberries and Human Health: A Review. J. Agric. Food Chem. 2010; 58:3871– 3883. Mullen W, Stewart A, Lean M, Gardner P, Duthie G, Crozier A. Effect of freezing and storage on the phenolics, ellagitannins, flavonoids, and antioxidant capacity of red raspberries. J Agric Food Chem. Aug 2002;50(18):5197-5201. Borges G, Degeneve A, Mullen W, Crozier A. Identification of Flavonoid and Phenolic Antioxidants in Black Currants, Blueberries, Raspberries, Red Currants, and Cranberries. J Agric Food Chem. Dec 2010;58:3905-3909. Correia, M. Caracterização química e avaliação da atividade biológica da framboesa (Rubus idaeus L.). Contribuição para o desenvolvimento de uma alegação de saúde. Lisboa. Universidade de Lisboa, Faculdade de Farmácia, 2016. EFSA/NDA. General guidance for stakeholders on the evaluation of Article 13.1, 13.5 and 14 health claims. EFSA Journal. 2011;9(4)(2135):(acessível em Figueira ME, Câmara MB, Direito R, et al. Chemical characterization of a red raspberry fruit extract and evaluation of its pharmacological effects in experimental models of acute inflammation and collagen-induced arthritis. Food Funct. Dec 2014;5(12):3241-3251. González-Barrio R, Borges G, Mullen W, Crozier A. Bioavailability of Anthocyanins and Ellagitannins Following Consumption of Raspberries by Healthy Humans and Subjects with an Ileostomy. J. Agric. Food Chem. 2010; 58:3933-3939. Serra AT, Matias AA, Frade RF, et al. Characterization of traditional and exotic apple varieties from Portugal. Part 2- Antioxidant and antiproliferative activities. . J Functional Food 2010; 2:46-53. Freitas M, a GP, G., b JLFCLa, Eduarda Fernandes. Isolation and activation of human neutrophils in vitro. The importance of the anticoagulant used during blood collection. Clinical Biochemistry. 2008(41):570–575. Gregersen S, Samocha-Bonet D, Heilbronn L, Campbell L. Inflammatory and oxidative stress responses to high-carbohydrate and high-fat meals in healthy humans. J Nutr Metab. . 2012:2012:238056. Zhu Y, Ling W, Guo H, et al.Anti- inflammatory effect of purified dietary anthocyanin in adults with hypercholesterolemia: a randomized controlled trial. Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2013;23(9):843-849. Jeong H, Hong S, Lee T, et al. Effects of black raspberry on lipid profiles and vascular endothelial function in patients with metabolic syndrome. Phytother Res. . 2014;28(10):1492-1498. Comissão. Regulamento (CE) n° 353/2008 da Comissão, de 18 de Abril de 2008 , que estabelece normas de execução relativas aos pedidos de autorização de alegações de saúde, como previsto no artigo 15.° do Regulamento (CE) n° 1924/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho. JO L109 de. 2008; 19.4.2008:11-16.
- 28. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 2 17 QUADROS E FIGURAS Parâmetro Média ao longo De 1Outono De Produção 4 cv. (min – máx) Média de 3 Outonos de produção 4 cv. (min – máx) Média de 3 Outonos de produção (Amira) Testes in vitro e animais EINH (Amira) Ácido ascórbico (mg) 1 _ _ _ 16,8 ± 1,60 22,3 ± 1,50 FT (mg EAG)1 262,9 - 300,0 235,2 - 284,3 262,9 ±50,69 171,0 ± 4,17 226,4 ± 6,87 FLT (mg EC)1 29,6 - 37,2 49,7 - 58,3 53,5 ± 6,95 24,5 ± 1,44 46,6 ± 2,06 AT (mg EC3G)1 _ 44,1 - 60,3 53,8 ± 52,37 20,0 ± 2,76 51,6 ± 1,18 THT (mg EAT)1 365,1 - 439,3 347,1 - 377,3 374,2 ± 216,93 166,1 ± 0,19 367,4 ± 3,06 TCT (mg EC)1 _ 20,7 - 20,9 20,8 ± 0,29 17,7 ± 0,25 20,9 ± 0,04 FT (mg EAG)2 115,7 - 170,2 125,7 - 142,7 125,7 ±29,63 _ 120,2 ± 25,36 Ácido Gálhico (mg AG)2 <0,1(LD) <0,1(LD) <0,1(LD) 2,40 ± 0,10 2,40 ±0,10 AT (mg EC3G)2 46,3 - 81,6 73,4 - 89,4 83,9± 55,42 23,44 ± 0,85 85,1 ± 16,63 Cianidina-3-soforósido 26,7 - 62,9 38,6 - 89,4 55,2± 35,05 18,89 ± 0,60 55,0 ± 8,92 Cianidina-3- glucosilrutinósido <1,5(LQ) -19,4 <1,5(LQ) - 16,5 <1,5(LQ) - 4,7 <0,4(LD) <0,4(LD) Cianidina-3-glucósido 7,9 - 18,8 11,4 - 24,6 21,9 ± 18,13 2,44 ± 0,05 27,4 ± 6,52 Pelargonidina-3- glucosilrutinósido <0,4(LD) <0,4(LD) <0,4(LD) 0,06 ± 0,01 <0,4(LD) Pelargonidina-3-soforósido <0,4(LD) <0,4(LD) <0,4(LD) 1,04± 0,10 <0,4(LD) Cianidina-3-rutinósido <0,4(LD) – 4,7 <0,4(LD) – 11,6 <0,4(LD) 0,85 ± 0,08 2,7 ± 1,19 Pelargonidina-3-rutinósido <0,4(LD) <0,4(LD) <0,4(LD) 0,12 ± 0,006 <0,4(LD) Pelargonidina-3-glucósido <0,4(LD) <0,4(LD) <0,4(LD) 0,04 ± 0,008 <0,4(LD) Sanguiina H6 (mg EAG)2 _ 26,4 - 38,7 31,0 ± 8,41 _ 29,6 ± 7,87 ET (mg EAG)2 34,9 - 42,8 26,8 - 72,6 49,7 ± 24,6 _ 29,6 ± 7,87 AET (mg EAE)2 _ 1,65 - 2,62 1,56 ± 0,99 1,80 ± 0,01 1,90 ± 0,88 Quadro 1 – Resumo dos dados do teor em ácido ascórbico e da caracterização fenólica de extratos de Rubus idaeus L.(por 100 g /framboesa) AET – somatório do teor em ácido elágico e derivados; AT – antocianinas totais; DP – Desvio- padrão; EAG – equivalentes de ácido gálhico; EC – equivalentes de (+) – catequina; EC3G – equivalentes de cianidina-3-glucósido: EAT – equivalentes de ácido tânico; ET – elagitaninos totais; FT – fenóis totais; FLT – flavonóides totais; LD – limite de deteção; LQ – limite de quantificação; 1 método espetrofotométrico; 2 método de HPLC Figura 2 - Efeito inibitório de um extrato de Rubus idaeus L. no oxidative burst em neutrófilos humanos. *** p<0,001 quando comparado com o ensaio controlo . Os valores são apresentados como média ±DP
- 29. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 2 18 Figura 3 – Efeitos do extrato de framboesa vermelha (i.p. e p.o.) no aumento do volume da pata induzido pela carragenina. Os dados são apresentados como média ± erro padrão da média (EPM). * P <0,001 vs. grupo de controlo ; # P <0,001 vs. grupo carragenina. Figura 4 - Efeitos do extrato de frutos de framboesa vermelha (i.p. e p.o.) no aumento do volume da pata associado à CIA. CIA – Artrite induzida pelo colagénio; Os resultados são apresentados como média ± EPM. * P <0,001 vs. Grupo CIA. Figura 5 - Efeito do tratamento com extrato de framboesa (i.p. e p.o.) na pontuação dos danos histológicos (A) e na pontuação radiológica (B) em animais com artrite induzida pelo colagénio (CIA). Os valores apresentados são a média e o erro padrão da média. * p < 0,001 vs. tratados com veículo (CIA).
- 30. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 2 19 Figura 6 - Cortes histopatológicos (A) e ampliações dos mesmos (B) relativos aos efeitos do extrato de framboesa vermelha num modelo animal de CIA, em ratos. Os cortes histopatológicos de um rato controlo negativo, apresentam uma membrana sinovial normal, cartilagem não danificada, não evidenciando pannus ou reabsorção óssea na zona marginal. Os cortes histopatológicos de ratos controlo positivo em que a artrite foi induzida pelo colagénio (CIA), evidenciavam danos na cartilagem (seta grande), infiltração acentuada, pannus (seta pequena) e reabsorção óssea (cabeça da seta). Finalmente, os cortes histopatológicos de amostras provenientes de animais CIA, tratados com o extrato (i.p. ou p.o), exibem uma sinóvia normal, cartilagem com pequenos danos (seta grande), apresentando uma redução de pannus (seta pequena) ou de reabsorção óssea (cabeça de seta) na zona marginal. Ampliação = X100 original Figura 7 - Progressão radiográfica da CIA nas articulações tibiotársicas. (A) não existem evidências de alterações patológicas das articulações tibiotársicas de animais de controlo (normais). (B) As patas traseiras de ratos com CIA, no dia 35, demonstraram a reabsorção óssea e erosão conjunto bastante significativo. O tratamento com o extrato de framboesa fruta vermelha (15mg.kg-1 ), administrado tanto por p.o. (C) como por i.p. (D) suprimiu significativamente a patologia articular e o edema de partes moles na pata posterior. As imagens de raios - X são representativas de pelo menos três experiências realizadas em dias experimentais diferentes.
- 31. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 2 20 Figura 8 - Redução da ativação COX-2 no modelo CIA resultado da administração do extrato de framboesa vermelha. Os ratos foram tratados com o extrato (15 mg kg-1 , i.p. ou p.o., n = 5 por grupo) e as amostras imunocoradas para COX-2. Espécimes de um rato não tratado quase não exibem nenhuma expressão de COX-2, enquanto ratos artríticos tratados com veículo apresentaram uma produção maciça de COX-2, nomeadamente perto dos infiltrados (coloração castanha – seta grande). Os espécimes provenientes de animais tratados com o extrato de framboesa vermelha (15 mg.kg-1 ), administrado por ambas as vias, oral e i.p., evidenciavam infiltração reduzida e coloração COX-2 (ampliação original x 100). A barra de escala é igual a 500 µm. Figura 9 - Redução da ativação iNOS no modelo CIA resultado da administração do extrato de framboesa vermelha. Os ratos foram tratados com o extrato (15 mg kg-1 , i.p. ou p.o., n = 5 por grupo) e as amostras imunocoradas para iNOS. Espécimes de um rato não tratado quase não exibem quase nenhuma expressão de iNOS, enquanto ratos artríticos tratados com veículo apresentaram uma produção maciça de iNOS, nomeadamente perto dos infiltrados (coloração castanha – seta grande). Os espécimes provenientes de animais tratados com o extrato de framboesa vermelha (15 mg.kg-1 ), administrado tanto por via oral como por ip, evidenciavam infiltração reduzida e coloração iNOS (ampliação original x 100). A barra de escala é igual a 500 µm.
- 32. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 2 21 Antes da Intervenção Depois da intervenção Antes da Intervenção Depois da intervenção HDL-C (Figura 10), oxLDL (Figura 11), TNF-α (Figura 12) e IL-6 (Figura 13) níveis medidos em jejum (0h) e em tempos diferentes após a ingestão da RRAG, antes e depois da intervenção nutricional em voluntários adultos saudáveis *p < 0,05 vs. o valor basal no mesmo ensaio e # p < 0,05 vs. o valor no mesmo tempo no ensaio antes da intervenção;1 Os resultados foram expressos como Média ± DP; n=12.
- 33. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 3 22 CAPÍTULO 3 doi COMPARAÇÃO DE CULTIVARES DE ARROZ SUBMETIDOS A INFLUÊNCIA DO ÁCIDO ACÉTICO Luiz Augusto Salles Das Neves Universidade Federal de Santa Maria, Centro de Ciencias Naturais e Exatas, Departamento de Biologia, Santa Maria, Rio Grande do Sul Raquel Stefanello Universidade Federal de Santa Maria, Centro de Ciencias Naturais e Exatas, Departamento de Biologia, Santa Maria, Rio Grande do Sul Kelen Haygert Lencina Universidade Federal de Santa Maria, Centro de Ciencias Rurais, Departamento Fitotecnia, Santa Maria, Rio Grande do Sul RESUMO: Com o advento do plantio direto sem haver a remoção da palha das culturas anteriores e, principalmente com a presença de alta umidade no solo, como por exemplo, na cultura do arroz, ocorre a liberação de ácidos orgânicos que afetam o stand da cultura, principalmente o ácido acético prejudicando a produção final. Entretanto, nem todas as cultivares apresentam os mesmos resultados, haja vista sua composição genética. No presente artigo foram analisados os parâmetros fisiológicos de germinação em duas cultivares de arroz, a cultivar Puita INTA CL e o arroz híbrido AVAXI CL. Nas condições do presente experimento o ácido acético não afetou a gerninação, a primeira contagem da germinação e o IVG, assim como não afetou o comprimento e biomassa seca das plântulas de arroz híbrido AVAXI CL, entretanto a condutividade elétrica foi afetada pela ação do ácido acético sobre as sementes de arroz. PALAVRAS-CHAVE: ácido orgânico, Avaxi CL, Puitá Inta CL, germinação, IVG ABSTRACT: With the advent of no-till without the removal of straw from previous crops, and especially with the presence of high humidity in the soil, such as rice cultivation, the release of organic acids that affect the stand of the crop occurs, mainly the acetic acid harming the final production. However, not all cultivars show the same results, given their genetic composition. However, not all cultivars show the same results, given their genetic composition. In the present article the physiological parameters of germination in two rice cultivars, the Puita INTA CL cultivar and the hybrid rice AVAXI CL were analyzed. In the conditions of the present experiment acetic acid did not affect the germination, the first germination count and the IVG, as well as did not affect the length and dry biomass of the AVAXI CL hybrid rice seedlings, however the electrical conductivity was affected by the action of acetic acid on rice seeds. KEYWORDS: organic acid, Avaxi CL, Puitá INTA CL, germination, IVG
- 34. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 3 23 1 | INTRODUÇÃO O aproveitamento dos resíduos da cultura anterior tem sido a tônica da agricultura do Rio Grande do Sul. Entretanto, a técnica da semeadura direta ainda não tem encontrado ressonância nos solos de várzea, pois são solos com baixa drenagem onde a umidade permanece. Essa umidade associada a presença de resíduos vegetais produz, de forma anaeróbica, os denominados ácidos orgânicos alifáticos de cadeia curta (C1 a C4) (CAMARGO et al., 1995). Os principais ácidos orgânicos produzidos sob tais condições são, pela ordem e pela quantidade, o ácido acético, propiônico e butírico, seguindo uma relação 6:3:1 (SOUSA, 2001). O efeito fitotóxico dos ácidos orgânicos vêm sendo analisado de várias formas. Em estudos no próprio solo com a incorporação de palha de arroz (CAMARGO et al., 1993), na planta de arroz observando a esterilidade da panícula, a manifestação de sintomas visíveis da doença “bico de papagaio” e alterações na rizosfera com maior volume de raízes grosseiras e poucos pelos radiculares (BRANCHER et al., 1996), em cultivos hidropônicos para se selecionar genótipos sensíveis ao ácido butírico (KOPP et al., 2010) e na qualidade fisiológica das sementes (NEVES et al., 2007, 2010). Sob esse último aspecto, tem-se observado que os ácidos acético e propiônico reduzem principalmente a germinação das sementes, nos cultivares BR IRGA 409 e Epagri 111, devido a inibição provocada nas enzimas de germinação como a alfa- amilase e fosfatase ácida, (NEVES et al., 2005, 2006). O arroz híbrido vem crescendo em área semeada no Brasil, proporcionando acréscimos de cerca de 20% na produtividade das lavouras. Tendo surgido na China, na década de 1970, atualmente vem sendo plantado em todo mundo, respondendo por 20% da produção mundial total de 412 milhões de toneladas anuais, de acordo com a revista Planeta Arroz (2006). No Brasil a pesquisa com arroz híbrido na EMBRAPA teve início nos anos de 1995 e 1997, embora empresas particulares, como a RICETEC, já haviam lançado seus arrozes híbridos. Dada a importância que o arroz híbrido vem tomando na lavoura orizícola do Rio Grande do Sul assim como a introdução da cultivar de origem argentina Puitá INTA CL associada a falta de pesquisa com referência a sensibilidade da germinação aos ácidos orgânicos em genótipos de arroz, planejou-se o presente experimento, onde sementes de arroz híbrido AVAXI CL e PUITÁ INTA CL foram submetidas ao ácido acético e os parâmetros da qualidade fisiológica das sementes foram analisados. 2 | MATERIAL E MÉTODOS O experimento foi conduzido no Laboratório de Genética Vegetal, do Departamento de Biologia, da Universidade Federal de Santa Maria. Sementes de arroz do híbridoAVAXI CL, fornecida pela RICETEC, safra 2008/2009 foram embebidas
- 35. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 3 24 por 90 minutos em soluções de ácido acético nas concentrações zero,1, 2, 4 e 8 ml L-1 . Após as sementes foram submetidas ao teste de germinação. Foram utilizadas quatro repetições de 100 sementes, por tratamento, colocadas em papel germitest umedecido e postas em câmara de germinação a temperatura de 25ºC, pelo período de 14 dias (BRASIL, 1992). Os valores foram expressos em porcentagem de plântulas normais. Conjuntamente ao teste de germinação foi realizado o índice de velocidade de germinação – IVG. Para o teste de condutividade elétrica foram usados copos plásticos com 75 mL de água destilada e 100 sementes divididas em quatro amostras de 25 sementes, por tratamento, mantidas em temperatura de 25ºC (KRYZANOWSKI et al, 1991). As medidas da condutividade elétrica foram realizadas a 3 e 24 horas após final do tratamento das sementes. O delineamento utilizado foi o totalmente casualizado em 4 repetições por tratamento e as médias foram analisadas pelo teste de TuKey a 5%, constante no programa Statistica 6.0 3 | RESULTADOS E DISCUSSÃO A tabela 1 demonstra o efeito das diferentes concentrações do ácido acético sobre as sementes de arroz híbrido AVAXI CL e PUITÁ INTA CL. Observa-se que a germinação (G) e o IVG não se alteraram com o incremento da concentração do ácido para o híbrido AVAXI, porém nas concentrações maiores a cultivar PUITÁ INTA CL mostrou-se sensível ao ácido. Resultados semelhantes ainda não foram descritos com relação aos ácidos orgânicos, pois normalmente o aumento nas concentrações de ácidos como acético, propiônico e butírico reduzem os parâmetros de germinação de sementes, conforme descrito por Neves et al. (2007; 2010) e por Kopp et al. (2010). Com relação a não significância do efeito do aumento das concentrações do ácido acético, Tunes et al. (2008) relatam que o incremento dos ácidos orgânicos não afetaram a germinação de sementes de aveia. Concentração (mL L-1 ) G (%) G (%) IVG IVG AVAXI CL PUITÁ INTA CL AVAXI CL PUITÁ INTA CL 0 96a 95a 25a 25a 1 94a 95a 25a 25a 2 92a 89 b 29a 19 b 4 94a 86 b 25a 12 b 8 92a 78 c 27a 09 c Média 93,6 26,2 Tabela 1 – Germinação (G), primeira contagem da germinação (PCG) e IVG, de sementes de arroz híbrido AVAXI CL e PUITÁ INTA CL tratadas com ácido acético nas concentrações zero, 1, 2, 4 e 8 ml L-1 *Valores com a mesma letra não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey a 5%.
- 36. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 3 25 A figura 1 demonstra o efeito do ácido acético sobre a condutividade elétrica de sementes de arroz do híbrido AVAXI CL e PUITÁ INTA CL. Pode-se observar que nas concentrações 1 e 2 mL.L-1 reduzem significativamente a absorbância, enquanto que a concentração de 4 mL.L-1 não difere da testemunha e, por sua vez a concentração de 8 mL.L-1 é a que mais provoca liberação de eletrólitos para a água de incubação. A redução observada nas concentrações menores se deve a possível proteção que o ácido acético promoveu nos eletrólitos da semente, preservando-os, enquanto que os valores maiores demonstram efeito fitotóxico do ácido permitindo a liberação de maior quantidade de eletrólitos para a água. A redução da absorbância ainda não tinha sido observada sob tais condições, mas o aumento é comum devido a concentração de 8 mL.L-1 , nesse caso, do ácido acético tornar-se fitotóxica. Os resultados aqui apresentados com referência ao arroz hibrido, provavelmente deva-se a heterose que os híbridos possuem. Portanto, novos estudos devem ser feitos para se estabelecer uma curva-resposta de sementes híbridas de arroz com relação aos efeitos dos ácidos orgânicos. CE(3horas)= 2,9286x2 - 14,271x + 27,4 R2 = 0,943 CE(24horas)= 4,3571x2 - 24,643x + 50,6 R2 = 0,86 0 5 10 15 20 25 30 35 40 0 1 2 4 8 Concentração do ácido acético (mL L-1 ) Absorbância(mScm-1 g-1 ) Figura 1 – Efeito na condutividade elétrica de sementes de arroz híbrido AVAXI CL submetidas as concentrações 0, 1, 2, 4, 8 mL L-1 de ácido acético. Santa Maria, RS, 2011. 4 | CONCLUSÃO Nas condições do presente experimento o ácido acético não afeta a gerninação, a primeira contagem da germinação e o IVG, assim como não afeta o comprimento e biomassa seca das plântulas de arroz híbrido AVAXI CL A condutividade elétrica é afetada pela ação do ácido acético sobre as sementes de arroz. REFERÊNCIAS BRANCHER, A.; CAMARGO, F.A.O.; SANTOS, G.A. Occurrence of physiological disease in flooded rice fields. Ciência Rural. Santa Maria, v.26, n.1, p.149-151, 1996. CAMARGO, F.A.O.; SANTOS, G.A.; ROSSIELLO, R.O.P.; ZONTA, E. Acúmulo de nutrientes pelo
- 37. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 3 26 arroz influenciado pela incorporação de palha em gleissolo. Revista Brasileira de Ciência do Solo. Campinas, v.19, n.2, p.243-247, 1995. CAMARGO, F.A.O.; SANTOS. G.A.; ROSSIELLO, R.O.P. FERREIRA, A.B.B. Produção de ácidos orgânicos voláteis com a adição de palha de arroz em glei sob condições anaeróbicas. Revista Brasileira de Ciência do Solo. Campinas, v.17, n.3, p.337-342, 1993. KOPP, M.; LUZ, V. K.; MAIA, L.C.; COIMBRA, J.L.M.; SOUSA, R.O.; CARVALHO, F.I.F.; OLIVEIRA, A.C. Avaliação de genótios de arroz sob efeito do ácido butírico. Acta Botânica Brasílica, Brasília, v.24, n.2, p.578-584, 2010. LUZ, V.K.; KOPP, M.M.; MAIA, L.C.; SOUSA, R.O.; CARVALHO, F.I.F.; OLIVEIRA, A.C. Avaliação de cultivares de arroz submetidas ao efeito fitotóxico conjunto dos ácidos acético, propiônico e butírico. In: CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 2007, Pelotas, Anais... CD-rom. NEVES, L. A. S.; MORAES, D.M. Atividade total da alfa-amilase em sementes de arroz tratadas com ácido acético. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ARROZ IRRIGADO,IV., 2005, Santa Maria. Resumos... SantaMaria, 2005. p. 320.2005. NEVES, L.A.S.; MORAES, D.M; LOPES, N.F.; ABREU, C.M. Vigor de sementes e atividade bioquímica em plântulas de arroz submetidas a ácidos orgânicos. Pesquisa Agropecuária Gaúcha. Porto Alegre, v.13, n.1-2, p.79-88, 2007. NEVES, L.A.S.; BASTOS, C.; GOULART, E.P.L.; HOFFMANN, C.E.F. Qualidade fisiológica de sementes de arroz irrigado submetidas a ácidos orgânicos. Revista de Ciências Agroveterinárias. Lages, v.9, n.2, p.169-177, 2010. PLANETA ARROZ. Arroz híbrido. N.16 2006. Disponível online em <http://www.planetaarroz.com.br>. Acessado em 15/04/2011. SOUSA, R.O. Oxirredução em solos alagados afetada por resíduos vegetais. Porto Alegre. 2001. 164p. Tese (Doutorado em Ciências do Solo) – Faculdade de Agronomia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. TUNES, L.M.; OLIVO, F.; BADINELLI, P.G.; CANTOS, A.; BARROS, A.C.S.A. Aspectos fisiológicos da toxidez de ácidos orgânicos em sementes de aveia. Biotemas, Florianópolis, v.24, n.4, p.21-28, 2008.
- 38. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 4 27 CAPÍTULO 4 doi COMPARAÇÃO DE DESEMPENHO DE FRANGOS DE CORTE COM BASE EM SEIS ÍNDICES ZOOTÉCNICOS NAS QUATRO ESTAÇÕES DO ANO Miliano De Bastiani Gerente de Suporte, Mestre em Tecnologias Computacionais Para o Agronegócio UTFPR, Medianeira – PR Carla Adriana Pizarro Schmidt Engenheira Agrônoma Dra. Agronomia, Professora da UTFPR, Medianeira-PR Glória Patrica López Sepulveda Engenheira da Computação, Dra. Engenharia Elétrica, UNESP, Ilha Solteira-SP José Airton Azevedo dos Santos Engenheiro Eletricista, Dr. Engenharia Elétrica, Professor da UTFPR, Medianeira-PR RESUMO: O objetivo do presente estudo foi a avaliação e comparação estatística de seis índices zootécnicos controlados por uma agroindústria de produção e abate de aves localizada no Oeste do Paraná nas quatro estações do ano. As análises estatísticas foram realizadas com auxílio do software Assistat; utilizou-se ANOVA em delineamento inteiramente ao acaso com 4 tratamentos (estações do ano) e 301 repetições para cada um dos seis índices zootécnicos e teste deTukey ao nível de 5%. A conversão alimentar situou-se entre 1,63 e 1,70 e foi estatisticamente diferente no verão. Não houve diferença estatisticamente significativa entre a mortalidade média ao longo das estações do ano. O peso médio dos frangos ficou na faixa de 2,76 a 2,93 Kg e foi superior no inverno. O ganho de peso diário das aves oscilou entre 60,53 e 63,78 g sendo superior no inverno e inferior no verão. O custo do frango no aviário foi maior nos períodos de outono e verão e menor nos demais. A idade média ficou entre 44,71 a 46,06 dias e apresentou diferença estatisticamente significativa entre as estações do ano. Concluiu-se que para cinco dos seis índices zootécnicos avaliados houve influência das estações do ano. PALAVRAS–CHAVE: Agroindústria; Análise Estatística de Dados; Ferramentas Computacionais. ABSTRACT: The objective of the present study was the statistical evaluation and comparison of six zoo-technical indices controlled by a poultry production and slaughtering agro- industry located in the west of Paraná in the four seasons of the year. Statistical analyses were performed using the Assistat software; ANOVA was used in a completely randomized design with 4 treatments (seasons of the year) and 301 replicates for each of the six zoo-technical indexes and Tukey test at the 5% level. Feed conversion ratio was between 1.63 and 1.70 and was statistically different in summer. There was no statistically significant difference between the mortality rate over the seasons. The mean weight of chickens was in the range of 2.76 to
- 39. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 4 28 2.93 kg and was higher in winter. The daily weight gain of the birds varied from 60.53 to 63.78 g, being higher in winter and lower in summer. The cost of chicken in the poultry house was higher in the fall and summer, and lower in the other seasons. The average age was between 44.71 and 46.06 days and showed a statistically significant difference between the seasons. It was concluded that for five of the six zoo-technical indices evaluated there was an influence of the seasons. KEYWORDS: Agroindustry; Statistical Analysis of Data; Computational Tools. 1 | INTRODUÇÃO Nos últimos 30 anos, a avicultura brasileira passou a conquistar o mercado, com elevada qualidade e produção em larga escala, a partir da década de 70 o Brasil passou a ser reconhecido mundialmente como um dos maiores produtores e exportadores de carne de frango (Júnior et al., 2006). A crescente evolução no mercado mundial de carne de frangos tem se caracterizado pelo aumento do consumo e crescimento da demanda, gerando aumento da produtividade e redução dos preços ao longo do tempo (ABPA, 2015). O desenvolvimento de linhagens mais robustas, com maiores ganhos de peso em menor tempo e as tecnologias em equipamentos, vêm corroborando para o crescimento da produção para atender essa demanda (Fernandes & Queiroz, 2003). A manutenção térmica na granja é necessária para o bem-estar animal (Bueno & Rossi, 2006), porém Boone & Hughes, (1971), explicam que o aumento da temperatura corporal das aves está diretamente relacionado à elevação da temperatura ambiente. Para avaliar e acompanhar o progresso na produção da avicultura brasileira até chegar ao patamar internacional, foi necessário considerar a utilização de índices zootécnicos, os quais segundo a Associação Paranaense de Avicultura (APAVI, 2017), têm a sua definição relacionada ao padrão de desenvolvimento da produção na granja, servem como indicadores paramétricos para que a metas sejam atingidas, servem para avaliar a eficiência na produção, se torando um referencial na exploração das aves. Diante desse contexto, o presente trabalho teve por objetivo realizar a avaliação e comparação estatística de seis índices zootécnicos obtidos nas quatro estações do ano. 2 | MATERIAL E MÉTODOS Os dados utilizados foram obtidos diretamente do banco de dados de uma agroindústrialocalizadanooestedoestadodoParaná.Foramcoletadosdadoshistóricos referentes a produção de frangos de corte nas fases de alojamento até abate entre os anos de 2014 a 2016. A seguir, escolheu-se de forma aleatória 301 médias de lotes de aves, ocorridas em cada uma das quatro estações do ano, do montante de 9000 dados totais disponibilizados para o estudo. Para realizar as análises estatísticas tais como ANOVA e teste de comparação de médias de Tukey, utilizou-se o software Assistat
- 40. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 4 29 7.6 versão beta (Silva, 2016). As análises seguiram um delineamento inteiramente ao acaso com 4 tratamentos (estações do ano) e 301 repetições dos dados para cada um dos seis índices zootécnicos de avaliação dos frangos acompanhados a saber: 1) a conversão alimentar que se refere ao consumo total de ração divido peso total do lote de aves; 2) a taxa de mortalidade das aves que consiste no valor de aves mortas com base no total de aves do lote abatido; 3) o peso médio da ave em Kg ao realizar o abate; 4) o ganho de peso diário em Kg que a ave obteve durante todo o período de confinamento; 5) o custo do frango para manter o mesmo no aviário em reais e 6) a idade ao realizar o abate em dias. O clima é um dos fatores que pode afetar a criação de frangos e também os índices zootécnicos. Dessa forma identificou-se a temperatura média da região com base nos dados meteorológicos disponibilizados para fins acadêmicos pelo site Climatempo, com vistas a verificar as diferenças que podem ser observadas ao longo das estações do ano. 3 | RESULTADOS E DISCUSSÃO Com base nos levantamentos climáticos observou-se que a região oeste do estado do Paraná apresenta temperaturas médias distintas ao longo das 4 estações do ano sendo estas de aproximadamente 21º graus no outono, 19º graus no inverno, 24º graus na primavera e 26 graus no verão. Segundo Abreu & Abreu (2011), as aves são animais homeotérmicos capazes de regular a temperatura corporal, mas cerca de 80% da energia ingerida é utilizada nesse processo enquanto apenas 20% é utilizada para produção, sendo que a temperatura do núcleo corporal das aves é igual a 41,7o C, isso explica a importância da temperatura do ambiente para esse animal e a possibilidade de interferência da mesma nos índices de desempenho das aves. É também sabido que a maior parte dos aviários mais modernos possuem climatização, mas mesmo assim ocorre algumas alterações no ambiente influenciadas pelas mudanças externas, principalmente em dias de temperaturas excessivamente elevadas ou reduzidas, onde mesmo com a climatização se torna muito difícil a manutenção das condições ideias que segundo Curtis (1983), varia entre 18 e 28o C para aves adultas e é de 35ºC para recém-nascidos. Os resultados obtidos relacionados a conversão alimentar comprovam que foi estatisticamente diferente no verão em relação às demais estações do ano, porém os valores foram próximos situando-se entre 1,63 e 1,70 como são apresentados na Tabela 1. Referente a taxa de mortalidade, não houve diferença estatisticamente significativa entre a mortalidade média ao longo das estações do ano, tal fato é decorrente da elevada variação entre as mortalidades de um lote para outro o que pode ser observado com base no coeficiente de variação global encontrado para os dados que foi de 104,81% que pode ser considerado excessivamente elevado, esse fato ocorreu por conta de um lote que apresentou mortalidade superior a 80% e que ocorreu no verão. Esse valor, está relacionado ao percentual significativo desse
- 41. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 4 30 exclusivamente desse lote por estar relacionado ao percentual elevado de doenças como dermatoses e papo cheio. Porém a média de mortalidade encontrada foi superior no verão provavelmente deslocada pelo fato da mortalidade excessiva daquele único lote discrepante e inferior no outono sendo que a média global de mortalidade foi de 3,48% (Tabela 1). Medidas Estatísticas CONVERSAO ALIMENTAR (Adimensional) Outono Inverno Primavera Verão Média ± Desvio Padrão 1,63b ± 0,23 1,64b ± 0,05 1,63b ± 0,05 1,70a ± 0,37 CV (%) 14,10 2,88 3,04 21,86 MORTALIDADE (%) Outono Inverno Primavera Verão Média ± Desvio Padrão 3,32a ± 2,96 3,49ª ± 1,78 3,45ª ± 1,83 3,65ª ± 6,15 CV 89,23 51,05 53,18 168,59 PESO MÉDIO (Kg) Outono Inverno Primavera Verão Média ± Desvio Padrão 2,82b ± 0,15 2,93ª ± 0,16 2,79c ± 0,14 2,76c ± 0,14 CV (%) 5,46 5,57 5,10 4,96 GANHO DE PESO DIARIO (g) Outono Inverno Primavera Verão Média ± Desvio Padrão 61,25c ± 2,94 63,78ª ± 2,77 62,35b ± 2,36 60,53d ± 2,76 CV (%) 4,79 4,34 3,78 4,56 CUSTO FRANGO NO AVIARIO (R$) Outono Inverno Primavera Verão Média ± Desvio Padrão 2,42ª ± 0,99 1,82b ± 0,06 1,77b ± 0,06 2,42ª ± 0,52 CV (%) 3,83 3,04 3,18 21,44 IDADE (DIAS) Outono Inverno Primavera Verão Média ± Desvio Padrão 46,06ª ± 1,08 46,00a ± 1,19 44,71c ± 1,29 45,66b ± 0,84 CV (%) 0,02 0,03 0,03 0,02 Tabela 1. Tabela de resultados médios, desvio padrão e coeficiente de variação para os seis índices zootécnicos acompanhados ao longo das quatro estações do ano. Houve diferença significativa entre o peso médio dos frangos obtido nas diferentes estações do ano sendo que o peso médio dos frangos foi superior no inverno, intermediário no outono e inferior na primavera e verão. Os valores de peso médio encontrados para os frangos situaram-se em média entre as estações do ano na faixa de 2,76 Kg e 2,93 Kg, de onde se pode notar que os frangos chegaram a pesos superiores no inverno (Tabela 1). O ganho de peso diário das aves variou entre 60,53 g e 63,78 g e foi estatisticamente diferente ao nível de 5% de significância, mostrando
- 42. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 4 31 que existiu muita diferença entre os valores médios de ganhos de peso ao longo das estações do ano, sendo que no inverno os frangos apresentaram ganho de peso diário superior e no verão o inferior, isso pode ter relação com o consumo de ração do animal. Resultados semelhantes foram encontrados por Lana et. al. (2000), que no caso de as temperaturas serem mais elevadas, as aves passam a consumir uma quantidade menor de ração, e por isso apresentam um ganho de peso reduzido em função do menor consumo (Tabela 1). Observou-se diferença estatisticamente significativa entre o custo de produção dos frangos no aviário ao longo das estações do ano sendo que as estações de inverno e primavera diferiram das estações de outono e verão. Os valores médios encontrados para as estações do ano acompanhadas variaram entre R$ 1,77 e R$ 2,42 por cabeça ou por Kg. O custo do frango no aviário foi superior nos períodos de outono e verão sendo que não houve diferença estatística entre essas épocas do ano e inferior nos períodos de inverno e primavera não tendo diferença entre essas estações também (Tabela 1). Os dias de idade para o abate variaram em média entre as estações do ano de 44,71 a 46,06 dias. Percebeu-se diferença estatisticamente significativa entre a idade de abate das aves entre as estações do ano, sendo que as idades mais elevadas foram encontradas nas estações de outono e inverno não diferindo entre si e as idades inferiores na época da primavera as quais diferiram das demais (Tabela 1). 4 | CONCLUSÕES A avaliação com base nos seis índices zootécnicos, permite concluir que a variação da estação do ano influenciou na evolução das etapas do processo de criação dos frangos de corte, de modo a ter valores diferenciados em cada um dos índices analisados. REFERÊNCIAS ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PROTEÍNA ANIMAL (ABPA). Relatório Anual Completo. Disponível em: <http://abpa-br.com.br/files/RelatorioAnual_UBABEF_2015_DIGITAL.pdf>. Acesso em: 12/12/2016. ABREU; V. M. N.; ABREU, P. G. Os desafios da ambiência sobre os sistemas de aves no Brasil. R. Bras. Zootec., v.40, p.1-14, 2011 (Supl. Especial). APAVI. Administração de Granjas: Índices Zootécnicos, 2017. Disponível em: <http://www.apavi. com.br/index.php?pag=conteudo&id_conteudo=3178&idmenu=165> Acesso em: 01/05/2017. BOONE, M.A.; HUGHES, B.L. Wind velocity as it affects body temperature, water consumption during heat stress of roosters. Poultry Science, v.50, p.1535-1537, 1971. BUENO, L.; ROSSI, L. A. Comparação entre tecnologias de climatização para criação de frangos quanto a energia, ambiência e produtividade. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, v. 10, n. 2, p. 497–504, 2006.
- 43. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 4 32 CURTIS, S. E. Environmental management in animal agriculture. Ames: Iowa State University Press, 1983. 650p. FERNANDES FILHO, J.; QUEIROZ, A.M. Transformações recentes na avicultura de corte brasileira: o caso do modelo de integração, 2003. 13p. JÚNIOR, P. A. V.; LIMA, D. de; BELIK, W.; Agentes e instituições da cadeia produtiva do frango de corte. Associación Latinoamericana de Sociología Rural, 2006. Disponível em: <http://www.alasru. org/cdalasru2006/28%20GT20Vieira%20Junior%20Belik.pdf> Acesso em: 27/04/2017. LANA, G. R. Q. et al. Efeito da temperatura ambiente e da restrição alimentar sobre o desempenho e a composição da carcaça de frangos de corte. Rev. Bras. Zootec., Viçosa , v.29, n. 4, p. 1117-1123, 2000. SILVA, F. A. S.; AZEVEDO, C. A.V. The Assistat Software Version 7.7 and its use in the analysis of experimental data, 2016.
- 44. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 5 33 CAPÍTULO 5 doi COMPARAÇÃO ENTRE OS PRINCIPAIS MÉTODOS DE DIGESTÃO PARA A DETERMINAÇÃO DE METAIS PESADOS EM SOLOS E PLANTAS Júlio César Ribeiro Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), Departamento de Solos, Seropédica - RJ Everaldo Zonta Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), Departamento de Solos, Seropédica - RJ Nelson Moura Brasil do Amaral Sobrinho Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), Departamento de Solos, Seropédica - RJ Fabiana Soares dos Santos Universidade Federal Fluminense (UFF), Departamento de Engenharia de Agronegócios, Campus Volta Redonda - RJ RESUMO: Diversas metodologias analíticas têm sido desenvolvidas nas últimas décadas visando promover a determinação de metais pesados em plantas e no solo. Objetivou- se neste trabalho através de uma revisão de literatura comparar os principais métodos de digestão para a determinação de metais pesados em solos e plantas. Os métodos mais comuns para a abertura de amostras têm utilizado combinações de diferentes ácidos inorgânicos a temperaturas elevadas por meio de sistemas abertos em blocos digestores (ISO 11466; USEPA 3050; USEPA 3050B; Nitroperclórica e Sulfúrica) ou por meio de métodos de digestão em sistema fechado sob pressão em fornos microondas (ISO 12914; USEPA 3051; USEPA 3051A; USEPA 3052). Não existe unanimidade em relação ao uso de soluções extratoras e ao tipo de abertura de amostras mais adequados para determinação de metais pesados em solos e plantas, devendo a escolha do método a ser utilizado, levar em consideração as condições específicas de cada material, como seu tipo e origem. A abertura de amostras nos quais envolvam métodos com misturas ácidas menos agressivas, assim como sistemas fechados devem ser preferidos, em função da maior segurança operacional, menor susceptibilidade a contaminação e a perda de elementos voláteis. PALAVRAS-CHAVE: extratores químicos, aberturas de amostras, digestão total, digestão pseudototal. ABSTRACT: Several analytical methodologies have been developed in recent decades aiming to promote the determination of heavy metals in plants and soil. The objective of this work was to compare the main digestion methods for the determination of heavy metals in soils and plants. The most common methods for the opening of samples have used combinations of different inorganic acids at elevated temperatures by means of open systems in digestion blocks (ISO 11466; USEPA 3050; USEPA 3050B;
- 45. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 5 34 Nitroperchloric and Sulfuric) or by digestion methods in system under pressure in microwave ovens (ISO 12914; USEPA 3051; USEPA 3051A; USEPA 3052). There is no unanimity regarding the use of extractive solutions and the type of opening of samples more suitable for the determination of heavy metals in soils and plants, and the choice of method to be used must take into account the specific conditions of each material, such as type and origin. The opening of samples involving methods with less aggressive acidic mixtures as well as closed systems should be preferred due to the higher operational safety, less susceptibility to contamination and loss of volatile elements. KEYWORDS: chemical extractors, sample openings, total digestion, pseudototal digestion. 1 | INTRODUÇÃO O conhecimento do comportamento adsortivo de nutrientes e metais nos solos é de extrema relevância em diversos tipos de estudos ambientais, em consequência dos efeitos desfavoráveis relacionados à habilidade dos substratos na adsorção desses elementos. O termo “metal pesado” é geralmente empregado para identificar um grupo de elementos químicos, inorgânicos, com número atômico maior que vinte e/ou densidade atômica maior que 6g cm-3 . Esse termo abrange não somente metais, mas também os semi-metais e ametais como o selênio, porém há uma grande controvérsia na comunidade científica a respeito, sendo em muitas vezes utilizados os termos “metal- traço” ou “elemento-traço” como sinônimo. Entretanto, não são apropriados, visto que na química analítica quantitativa, o termo “traço” caracteriza concentrações ou teores não detectáveis de qualquer elemento pelo método empregado na sua determinação. O termo “metais tóxicos” também pode ser encontrado na literatura em casos envolvendo elementos não essenciais (ALLOWAY, 1995; COSTA et al., 2010). Os metais pesados normalmente são encontrados em baixas concentrações em ambientes sem antropização, sendo naturalmente provenientes do processo de intemperismo sobre a rocha matriz, como também pela decomposição e mineralização de restos vegetais, animais e de microorganismos (COSTA et al., 2010). O intenso processo de antropização, principalmente em áreas favoráveis a agricultura, tem se destacado pelo grande potencial de contaminação do ecossistema como um todo. A aplicação de diversos agroquímicos no processo produtivo agrícola tornou-se uma prática rotineira, visando à correção da acidez do solo, o suprimento de nutrientes, além da prevenção e controle de pragas e doenças, principalmente em solos de regiões tropicais sujeitos ao intenso processo de lixiviação. Geralmente os agroquímicos utilizados na produção agrícola possuem impurezas como metais pesados, em decorrência de não serem suficientemente purificados no
- 46. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 5 35 processo de manufatura por questões econômicas, podendo levar a contaminação não somente do solo, como também das plantas (AMARAL SOBRINHO et al., 1992; AMARAL SOBRINHO et al., 1997). Áreas industriais, com grande utilização de produtos químicos no processo produtivo, também podem acarretar na produção de resíduos contaminados com metais pesados, os quais se não manejados e dispostos corretamente poderão levar a contaminação de diversos níveis de cadeia trófica.Assim, torna-se fundamental um constante monitoramento do solo e consequentemente das plantas de regiões potencialmente com a presença de metais pesados, para que se possa efetuar um manejo adequado. Desta forma, objetivou-se realizar uma revisão de literatura sobre os principais métodos de digestão para a determinação de metais pesados em solos e plantas de modo a promover uma comparação entre os principais métodos, indicando os mais adequados à análise. 2 | METODOLOGIA A metodologia utilizada no presente trabalho foi a revisão de literatura com base em publicações nacionais e internacionais sobre os principais métodos de digestão para a determinação de metais pesados em solos e plantas. Para que se pudesse comparar os diferentes métodos, foram avaliados trabalhos sobre o assunto em questão, que abordavam palavras-chave como: metais pesados, elementos-traço, poluição de solo, contaminação de plantas, métodos extratores, digestão por microondas, extratores químicos, extração ácida, abertura de amostras sólidas, digestão total, digestão pseudototal, índice de recuperação de metais e controle de qualidade de análises químicas. 3 | RESULTADOS E DISCUSSÃO Segundo Alloway (1995), Sharamel (2000) e Costa et al. (2010), os metais pesados de origem litogênica ou aportados pelas atividades antrópicas ao solo, podem apresentar diferentes formas, dentre elas, as principais são: i) Solúveis - na solução do solo encontram-se em formas mais disponíveis, como íons livres, complexos solúveis com ânions inorgânicos, podendo serem facilmente absorvidos pelas plantas e/ou lixiviados no perfil do solo. ii) Trocáveis-nafasesólida,osmetaisestãoadsorvidosporforçaseletrostáticas em sítios carregados negativamente da matéria orgânica; ou em minerais por meio de complexos de esfera externa. Normalmente ocorre uma troca rápida com a fração presente na solução do solo devido à baixa energia de ligação. iii) Adsorvidos especificamente (Quimiossorvidos) - nesse caso, os metais são liberados de forma mais lenta que as formas trocáveis, pois estão adsorvidos
- 47. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 5 36 em complexos de esfera interna por meio de ligação covalente a matéria orgânica, óxidos e sítios específicos de filossilicatos. iv) Ligados a materiais orgânicos insolúveis - os metais encontram-se complexados em materiais orgânicos resistentes à degradação microbiológica. v) Precipitados - metais podem constituir precipitados com ânions formando carbonatos, fosfatos, sulfatos e hidróxidos, ou ainda serem co-precipitados com elementos pouco solúveis de Ca, Mg, Fe e Al (oclusos). Em virtude das diferentes formas em que os metais pesados podem assumir no solo, várias metodologias analíticas para remoção e determinação de suas frações têm sido desenvolvidas nas últimas décadas, visando estabelecer associações dos metais com fases específicas. Os metais presentes no solo e em plantas normalmente são extraídos a partir da abertura das amostras utilizando essencialmente uma solução aquosa composta por algum extrator químico mineral associado a uma fonte constante de aquecimento, e quantificados por meio de espectrofotometria de absorção atômica e/ ou espectrofotometria de emissão óptica em plasma induzido (SODRÉ et al., 2004). Os extratores ácidos mais utilizados na dissolução de amostras de solos e plantas são o ácido nítrico (HNO3 ), ácido clorídrico (HCl), ácido perclórico (HClO4 ), ácido sulfúrico (H2 SO4 ), e ácido fluorídrico (HF), além do peróxido de hidrogênio (H2 O2 ), considerado forte agente oxidante (ALLOWAY, 1995; TEDESCO et al., 1995; ABREU et al., 2002; SALDANHA et al., 1997). O teor de metais pesados em solos pode ser determinado por meio de extração sequencial ou seletiva, digestão pseudototal (total recuperável ou digestão parcial), e digestão total, utilizando-se diferentes misturas ácidas no processo de solubilização de elementos no solo. A fração trocável desses elementos no solo proporciona a absorção pelas plantas e pode ser entendida como uma forma mais direta de efeitos prejudiciais ao ambiente. Já o conteúdo total do elemento fornece o conhecimento da sua reserva no solo, o qual não se encontra diretamente em condições de absorção pelas plantas (CAMARGO et al., 2000; TEÓDULO et al., 2003). O entendimento do comportamento dos elementos no sistema solo-planta é essencial para a definição do método extrator mais eficiente, devido à complexidade dos processos de adsorção envolvidos (GOMES, 1996). Uma metodologia com técnicas de análises de solo e plantas adequadas envolvem requisitos como baixo custo, reprodutibilidade e facilidade de adaptação dos procedimentos laboratoriais apresentando uma alta correlação entre o teor de metal extraído e o absorvido pela planta (ROCA; POMARES, 1991). Assim cada método de extração deve apresentar um conjunto de reagentes específicos que ataquem a forma na qual o elemento ou metal se encontre. A distinta capacidade de solubilizar a fração orgânica e mineral de um solo resulta em diferentes teores extraídos, isso devido às particularidades de cada método extrator,
- 48. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 5 37 como, por exemplo, as diferentes soluções solubilizadoras, a concentração, tempo de reação, temperatura e relação solo:solução (PELOZATO et al., 2011), parâmetros importantes para determinar o maior ou menor potencial de extração do elemento. Os metais no solo desde a forma mais lábil até a forma mais oclusa podem ser determinados por métodos de extração total, os quais geralmente utilizam diferentes misturasdeácidosconcentrados,comoHClO4 ,HCl,HNO3 eHF.Taismisturaspromovem a remoção para a solução dos elementos químicos associados às frações adsorvidas, trocáveis, oxidáveis, reduzidas, as quais correspondem às frações potencialmente lábeis, além da fração residual, associada à estrutura cristalina (silicatada) dos minerais secundários e primários, sendo possível quantifica-las (SHARAMEL, 2000; SASTRE et al., 2002). Métodos que utilizam HClO4 e HF são muito eficientes na solubilização da matriz a ser avaliada, porém o uso de HF é extremamente perigoso, pois quando em contato com a pele, pode causar queimaduras, requerendo muita segurança em seu manuseio, uso e descarte, além de danificar os instrumentos analíticos; enquanto o HClO4 possui grande perigo de explosão devido ao seu elevado poder oxidante (ALLOWAY, 1995). Os solos tropicais altamente intemperizados, geralmente são pobres em reserva mineral junto à fração silicatada, o que pouco contribui com teores totais de metais pesados. Isso associado ao elevado risco operacional apresentado pelo HClO4 e HF, torna a utilização desses ácidos inviáveis, de modo que misturas ácidas menos agressivas e eficientes devem ser buscadas (SASTRE et al., 2002; LENARDÃO et al., 2003). Uma alternativa ao uso de misturas ácidas fluorídricas que conseguem extrair totalmente os metais da matriz, é a utilização de misturas ácidas envolvendo a presença de ácidos fortes como HCl, HNO3 , além de H2 O2 , reagentes estes que se utilizados de forma conjunta variada promovem remoção parcial dos metais ligados a alguns silicatos não passíveis de troca no solo, recuperando entre 70 a 90% do conteúdo total, razão pela qual esse tipo de mistura é denominada de extração pseudototal (SHARAMEL, 2000; SOUZA et al., 2015). A comparação das concentrações de metais obtidas por diferentes métodos de extração, permite estimar qual o procedimento mais adequado à análise de determinado metal em cada ambiente (TEÓDULO et al., 2003) em função de sua disponibilidade, mobilidade além de uma possível transferência do solo para a cadeia alimentar (RAURET, 1998). Os metais extraídos de forma pseudototal auxiliam na avaliação do grau de poluição ambiental, visto que nessa fração os metais encontram-se ligados aos minerais do solo, mostrando-se normalmente indisponíveis as plantas e animais (PEREIRA et al., 2007). Os métodos mais citados na literatura científica para a abertura de amostras são a digestão nitroperclórica, sulfúrica, a extração com água régia (ISO 11464, ISO 12914), e os métodos preconizados pela USEPA (3050, 3050B, 3051, 3051A e 3052)
- 49. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 5 38 (Tabela 1). Método Extrator Sistema ISO 11466 (1995) HCl + HNO3 (3:1) Aberto ISO 12914 (2012) HCl + HNO3 Fechado USEPA 3050 (2008) HNO3 + H2 O2 Aberto USEPA 3050B (1996) HNO3 + H2 O2 + HCl Aberto USEPA 3051 (2007) HNO3 Fechado USEPA 3051A (2007) HCl + HNO3 (1:3) Fechado USEPA 3052 (1996) HF (+ HNO3 ou HCl ou H2 O2 ) Fechado NITROPERCLÓRICA (1995) HNO3 + HCLO4 Aberto SULFÚRICA (1995) H2 SO4 + H2 O2 + mistura catalisadora Aberto Tabela 1 - Principais métodos de digestão de amostras de solo e plantas para a determinação de metais pesados. Diversos países desenvolvidos do mundo, especialmente na Europa e nos Estados Unidos vem há anos desenvolvendo pesquisas para conhecer a dinâmica dos contaminantes no solo e assim desenvolver métodos e técnicas para a proteção do mesmo e consequentemente proteção da saúde humana. Assim, agências ambientais internacionais tem recomendado a utilização de diferentes métodos analíticos entre si, existindo uma tendência de preferência para métodos de extração de teores pseudototais de metais pesados. Na comunidade Européia, a solução dissolutora água régia (mistura ácida envolvendo HCl e HNO3 ) é o principal extrator empregado para determinação de metais pesados em solos contaminados (URE, 1990). A Organização Internacional de Normatização - ISO (International Organization for Standardization) apresenta e recomenda alguns principais métodos de extração de metais pesados de solos e materiais similares, como por exemplo, a ISO 11466 (1995) recomenda para a determinação de metais pesados nos solos em sistema aberto sob bloco digestor com a utilização de HCl e HNO3 ; e a ISO 12914 (2012) recomendada para extração e quantificação de metais pesados em solos em sistema fechado sob pressão com utilização de fornos microondas. Notas postuladas na ISO 11466 (1995) salientam que a solução extratora água régia não dissolve totalmente a matriz dos solos e materiais similares, e a eficiência de extração para elementos particulares difere de elemento para elemento. Essa eficiência também pode diferir para o mesmo elemento em diferentes matrizes. Os elementos extraíveis por este método não podem, portanto, ser descritos como “totais”; inversamente, não podem ser considerados como a fração “biodisponível”, uma vez que o processo de extração é demasiadamente vigoroso para representar qualquer processo biológico (ISO 11466, 1995). Segundo Chen; Ma (2001) e Melo; Silva (2008), a digestão realizada em sistema fechado sob pressão em fornos microondas reduz os riscos associados à contaminação e perda dos elementos químicos voláteis além da redução de tempo
- 50. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 5 39 de preparação comparados aos métodos clássicos realizados por sistemas abertos. Porém o forno de microondas possui elevado custo para aquisição e manutenção, necessitando de profissionais altamente capacitados devido à operação complexa de seu sistema (SILVA et al., 2007). Entretanto, Sastre et al. (2002), ressaltam que métodos de digestão abertos realizados em blocos digestores facilitam a evaporação do ácido e a secagem dos extratos digeridos, além de permitirem a análise simultânea de um maior número de amostras, e reduzirem possíveis problemas analíticos em etapas subsequentes a digestão. O HNO3 concentrado adicionado a solução dissolutora água régia, promove a oxidação do HCl concentrado, originando por exemplo, o cloro molecular e o cloreto de nitrosila (3HCl + HNO3 2H2 O + NOCl + Cl2 ) (CHEN; MA, 2001). A presença de do íon cloreto, associado ao grande poder oxidante dos ácidos empregados, torna a solução água régia extremamente eficaz na extração de metais pesados constituintes da fração mineral dos silicatos (AGUIAR et al., 2007; COSTA et al., 2010). Pérez et al. (2013), avaliando três metodologias de extração de metais pesados de solos do Mato Grosso do Sul em condições de digestão fechada sob pressão em forno microondas; a água régia (ISO, 12914), água régia invertida (USEPA, 3051A) e nítrica (USEPA, 3051), verificaram que nenhum dos métodos utilizados apresentaram extração estatisticamente similar, sendo o método água régia (ISO, 12914) o qual apresentou maior valor de metais pesados extraídos. Nos Estados Unidos, a Agência de Proteção Ambiental - USEPA (United States Environmental Protection Agency) apresenta e recomenda para a determinação de metais pesados em sedimentos, lamas e solos os métodos 3050 (USEPA, 1994) atualizado em 2008, e 3050B (USEPA, 1996a) para procedimentos em sistema aberto sob bloco digestor; e os métodos 3051 (USEPA,1994), 3051A (USEPA, 2007) e 3052 (USEPA, 1996) para procedimentos em sistema fechado sob pressão em fornos microondas. Os métodos 3050 e 3050B dissolverão a maior parte os elementos que poderiam tornar-se disponíveis ambientalmente. Não serão dissolvidos os elementos ligados em estruturas de silicatos, uma vez que geralmente não são móveis no ambiente, sendo considerados métodos de extração pseudototal (USEPA, 1996a; USEPA, 2008). Segundo Abreu (2002), as diferentes quantidades extraídas por soluções extratoras estão intimamente ligadas à composição e concentração dos reagentes que compõem a solução extratora, ao tempo e a temperatura de extração, dentre outros fatores. O método 3050 (USEPA, 2008) fornece procedimentos para a digestão de solo, sendo também muito utilizado para digestão de material vegetal, devido ao fato de além do HNO3 , ser empregado o H2 O2 , um forte oxidante que auxilia na oxidação do material orgânico, solubilizando os metais (USEPA, 2008). Neste método, são utilizados sistemas abertos de digestão a temperatura de aproximadamente 95°C ± 5°C.
- 51. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 5 40 O método 3050B (USEPA, 1996a) consiste em um procedimento de abertura de amostras também sob sistemas abertos, à temperatura aproximada de 95°C ± 5°C, sendo considerado um procedimento específico para digestão de solo e outros materiais como, por exemplo, fertilizantes fosfatados, visto que além do HNO3 e o H2 O2 , utiliza o HCl, um poderoso dissolutor (CAMPOS et al., 2005). O método 3051 (USEPA, 1994) proporciona a oxidação do material orgânico pela ação do HNO3 , sob alta temperatura e pressão em sistema fechado de forno microondas, podendo ser utilizado para solos e plantas. O método 3051A (USEPA, 2007) fornece procedimentos para a digestão de solo, sedimentos, lamas e óleos, sendo este uma readequação do método 3051 (USEPA, 1994) pela adição de HCl concentrado para melhorar a recuperação dos elementos Ag, Fe, Al, e Sb. O método 3051A não se destina a realizar a decomposição total da amostra devido não atacar a sílica, sendo classificado como um método de extração pseudototal de metais executado sob sistema fechado em equipamento microondas (USEPA, 2007). Tal método é considerado como água régia invertida, devido utilizar os ácidos HNO3 e HCl concentrados em proporções inversas, ou seja, três partes de HNO3 para uma parte de HCl (proporção 3:1 - HNO3 :HCl), porém realizado em sistema fechado em equipamento microondas. Nos métodos de abertura de amostras 3050 (USEPA, 2008), 3050B (USEPA, 1996a), 3051 (USEPA, 1994) e 3051A(USEPA, 2007), a extração somente se aproxima do total, visto que tais métodos são capazes somente de solubilizar metais ligados aos constituintes orgânicos e não dissolver silicatos. Para que se possa promover a dissolução total dos metais constituintes dos silicatos a USEPA prescreve o método 3052 (USEPA, 1996). O método 3052 é realizado sob pressão em sistema fechado de digestão por microondas, aplicável a matrizes silicatadas, orgânicas e outras matrizes complexas. Por utilizar HF em seu procedimento, é considerado um método de extração total de elementos, proporcionando uma solubilização completa de toda a sílica presente em amostras de solos analisadas (USEPA, 1996). No entanto, em sistemas fechados de digestão (microondas) podem ser formados fluoretos insolúveis com precipitação (Al, Ca, Fe e Mg) e co-precipitação (Rb, Sr, Y, Cs, Ba, Pb, Th e U) de alguns elementos pela reação do HF utilizado, impedindo a recuperação quantitativa dos mesmos (VIEIRA et al., 2005). Geralmente nesse método, são adicionados à amostra o HNO3 e o HF concentrado, sendo em seguida submetidas à irradiação no equipamento microondas em programação de tempo e pressão específicos ao tipo de material a ser digerido, ácidos empregados e o modelo do equipamento utilizado. Outras combinações de ácidos alternativos e reagentes adicionais incluindo o HCL e H2 O2 podem ser utilizadas de acordo com a matriz a ser digerida (USEPA, 1996). Embasado em metodologias propostas pela Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, o Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA sob a resolução
- 52. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 5 41 n° 420/2009 em seu item 3 do Anexo I, estabelece os métodos USEPA 3050 ou 3051, e suas atualizações, como métodos padrões para a obtenção dos teores pseudototais de metais em solos brasileiros, a fim de promover o monitoramento e controle da poluição (CONAMA, 2009). Entretanto o teor pseudototal de metais presentes no solo determinados por esses métodos não é um parâmetro que expresse sua disponibilidade imediata para as plantas e sim um conhecimento de sua reserva no solo (CAMARGO et al., 2000; TEÓDULO et al., 2003). Outros métodos ainda são propostos na literatura científica para a abertura de amostras de solos, plantas e resíduos orgânicos, como os postulados por Tedesco et al. (1995),quesugeremparaadeterminaçãodemacronutrientes(N,P,CaeMg)autilização de ácido H2 SO4 concentrado e H2 O2 associados a uma mistura digestora composta por sulfato de sódio (Na2 SO4 ), Sulfato de Cobre II Pentahidratado (CuSO4 .5H2 O) e selênio em pó, proporcionando uma oxidação parcial de compostos orgânicos, o que evita a formação de espuma e perda de material no início do processo de digestão, o qual atinge temperaturas finais de até 350-370°C (TEDESCO et al., 1995). A metodologia envolvendo a utilização de HNO3 e HClO4 , conhecida como nitroperclórica, também proposta por Tedesco et al. (1995) sob sistema aberto à temperaturas de até 180°C, promove a digestão de amostras de tecido vegetal e outros materiais orgânicos para a determinação de micronutrientes (Zn, Cu, Mn e Fe), S e Na, sendo também possível determinar outros elementos no extrato, como metais pesados (Pb, Ni, Cd, Cr etc) e macronutrientes (P, K, Ca e Mg) (TEDESCO et al., 1995). Ambos os ácidos (HNO3 e HCLO4 ) são oxidantes, tendo o HNO3 a função de moderar a forte ação oxidante do HClO4 (ABREU et al., 2002). Tal método deve ser empregado com muito cuidado, visto que o HClO4 possui elevado poder oxidante podendo causar explosão (ALLOWAY, 1995). O método nitroperclórico não proporciona a adsorção de elementos metálicos na sílica, o que se observa na queima a 500 - 600°C; também não apresenta perda de elementos por volatilização, com exceção de B e Cl, devido à temperatura não ultrapassar o ponto de ebulição do HClO4 (203°C) (TEDESCO et al., 1995). Em extração simultânea de diferentes metais, o H2 SO4 não é recomendado devido à formação de sais de sulfato, o que ocorre principalmente em amostras de solo ricas de metais alcalinos terrosos. A utilização de HCl nem sempre evita a formação de sais insolúveis durante e após a digestão. Já a utilização de HNO3 garante que não ocorra a formação de sais insolúveis, podendo-se assim detectar maior quantidade do elemento avaliado (COSTA et al., 2010). São encontrados na literatura diversos trabalhos envolvendo vários métodos de extração de metais no solo e plantas, porém são poucos os quais fazem um estudo de comparação entre si (o mesmo método utilizado), provavelmente decorrente dos diferentes extratores utilizados nas diversas metodologias empregadas o que pode explicar a variação de resultados obtidos em relação à capacidade de alguns extratores químicos em quantificar a disponibilidade de metais pesados (GOMES, 1996).
- 53. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 5 42 Objetivando comparar a eficiência entre a metodologia de digestão total e pseudototal e se esses diferentes procedimentos analíticos alteram a interpretação geoquímica de metais em sedimentos marinhos da plataforma continental Nordeste oriental brasileira, Aguiar et al., (2007) avaliaram as concentrações de Al, Cr, Cu, Ba, Fe, Mn, Ni, Pb, V e Zn. Para a abertura das amostras através do método de digestão total foi utilizada uma mistura nítrico-fluorídrica (HNO3 /HF) e para o procedimento de digestão pseudototal foi utilizado a mistura água régia (50%). Os autores observaram que as concentrações dos metais obtidas pelo procedimento de digestão total foram superiores aos resultados determinados pelo procedimento de digestão pseudototal, visto que a mistura ácida utilizada na digestão total solubiliza os metais nas frações lábeis e refratárias. Entretanto os resultados obtidos por meio de ambos os procedimentos de abertura das amostras (total e pseudototal) não alteram a interpretação geoquímica dos metais nos sedimentos, podendo ambos serem utilizados para tal finalidade. Porém a digestão pseudototal por apresentar melhor sensibilidade analítica, demonstrou melhor a partição de metais em relação aos carreadores geoquímicos avaliados: Alumínio, carbonatos e matéria orgânica. Já o processo de digestão total, mostrou pequenas diferenças entre alguns analitos, sendo mais eficiente para uma determinação individualizada dos elementos, como por exemplo, para Alumínio. De forma geral os resultados obtidos mostraram que a digestão pseudototal com água-régia a 50% além de diminuir o tempo de análise e a descarga de efluente laboratorial perigoso muito reativo e ácido, permitiu caracterizar a geoquímica de metais analisados em sedimentos marinhos carbonáticos, de forma semelhante à digestão total dos sedimentos. Comparando diferentes metodologias analíticas na abertura de amostras de solo catarinense de diferentes materiais de origem (basalto e granito-migmatito), Pelozato et al., (2011) promoveram a determinação dos teores de Cd, Cu e Zn de solos sem contaminação antrópica intencional. Foram utilizadas as metodologias 3050B (USEPA, 2008), Tedesco et al. (1995) (sulfúrica: H2 SO4 + H2 O2 ) e água régia modificado por Pierangelli (1999), ambas caracterizadas como extração pseudototal. Os autores verificaram que o método USEPA 3050B extraiu em média 45% e 36% a mais de Cu do que o método água régia modificado e do que o método postulado por Tedesco et al., (1995) (sulfúrica), respectivamente. A maior extração apresentada pelo método USEPA 3050B, segundo os autores, se deve ao fato do uso combinado de ácidos fortes (HCl e HNO3 ) associados ao H2 O2 um poderoso oxidante, além do maior tempo de digestão. A utilização de HNO3 na abertura de amostras realizadas por esse método garante que não ocorra a formação de sais insolúveis durante e após a digestão, o que nem sempre ocorre com os ácidos utilizados nas demais metodologias avaliadas (H2 SO4 e HCl). Já o método água régia extraiu menor teor dos metais analisados em relação ao método proposto por Tedesco et al. (1995). Isso de acordo com os autores ocorreu devido ao menor tempo e temperatura empregado em bloco digestor, permanecendo apenas 2 horas a 90°C, conforme postulado pelo protocolo de Ure
- 54. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 5 43 (1990) modificado por Pierangelli (1999). A pesquisa revelou ainda a interação entre as metodologias de digestão e o material de origem do solo, mostrando que o método USEPA 3050B extraiu maior teor de Cu no solo de origem basáltica, enquanto que para o solo de origem granítica/migmatito não ocorreu diferença significativa entre métodos utilizados. O Zn também apresentou teor superior quando extraído pelo método USEPA 3050B, tanto para solos de origem basáltica como de origem granítica/ migmatito. Assim como para o Cu e Zn, os maiores teores de Cd foram encontrados pelo método USEPA 3050B, sendo superior o teor no material de origem basáltico. De modo geral, dentre os protocolos avaliados, o método USEPA 3050B, mostrou-se mais eficiente na extração dos elementos analisados, solubilizando diferentes frações minerais, até mesmo silicatadas, como caulinita e parte dos feldspatos das amostras de solos derivadas de basalto. Lima et al. (2015) avaliaram três métodos de digestão pseudototal com relação à capacidade de solubilização dos elementos Zn, Mn, Fe, Cu, Ni, Pb, Cr e Ba presentes em organossolos de diferentes regiões edafoclimáticas do Brasil. Os métodos avaliados foram a água régia (ISO 12914, 2012) na proporção 3:1 (HCl:HNO3 ); USEPA 3051 (USEPA, 1994) considerado o método da água régia invertido, na proporção 1:3 (HCl:HNO3 ) e USEPA 3051A (USEPA, 2007) utilizando somente HNO3 , ambos realizados em sistema fechado, através do equipamento microondas. Os resultados mostraram que para os elementos Fe, Mn e Cu não houve diferenças estatísticas entre os três métodos de digestão. Para os elementos Zn, Ni, Pb e Cr, houve diferença significativa entre os métodos comparados, sendo a água régia o método que extraiu os teores mais elevados. Para o Ba, verificou-se que a digestão nítrica (USEPA 3051) apresentou capacidade de solubilização superior aos demais métodos de digestão, sendo o mais eficiente na extração. O comportamento oposto do Ba aos outros metais analisados pelos métodos que utilizam acido clorídrico, segundo os autores ocorreu devido uma possível formação de precipitados de BaCl2 . Em geral, observou-se com a avaliação dos métodos de digestão pseudototal, que o método que empregou-se maior quantidade de HCl, possibilitou a dissolução de grande parte dos metais analisados nas amostras de organossolos. De modo geral, diferentes métodos de digestão para a determinação do teor de metais pesados em solos e plantas tem sido mencionados na literatura científica, tendo os mais comuns utilizado combinações de diferentes ácidos inorgânicos a quente por meio de sistemas abertos em blocos digestores, os quais apresentam menor custo operacional e uma considerável recuperação do elemento, ou seja, bom custo x benefício. Também tem sido empregados métodos de digestão em sistema fechado sob pressão por meio de fornos microondas, em virtude da agilidade e segurança do procedimento de digestão, apresentando menor suscetibilidade de contaminação e de perda de metais voláteis. Contudo, ainda é considerado um método restrito, pelo elevado custo de aquisição dos equipamentos e suas respectivas manutenções. O método de digestão utilizado poderá influenciar na concentração dos metais
- 55. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 5 44 pesados analisados, podendo os resultados de uma mesma amostra ser discrepantes entre métodos. As diferentes soluções extratoras aliadas às diversas condições de tempo e temperatura, que muitas vezes são adaptadas no processo de digestão de solos e plantas acabam tornando difícil a comparação de resultados experimentais. Ainda não existe unanimidade em relação ao uso de soluções extratoras e ao tipo de abertura de amostras mais adequados para determinação de metais pesados em solos e plantas. No entanto, grandes organizações como a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos e a Organização Internacional para Padronização da comunidade Européia desenvolveram e validaram os principais métodos analíticos de extração pseudototal de metais para solos e plantas a fim de padronizá-los, tornando- os reconhecidos mundialmente. 4 | CONCLUSÃO Os métodos mais comuns para a abertura de amostras têm utilizado combinações de diferentes ácidos inorgânicos à quente por meio de sistemas abertos em blocos digestores (ISO 11466; USEPA 3050; USEPA 3050B; Nitroperclórica e Sulfúrica) ou por meio de métodos de digestão em sistema fechado sob pressão em fornos microondas (ISO 12914; USEPA 3051; USEPA 3051A; USEPA 3052). Ainda não existe unanimidade em relação ao uso de soluções extratoras e ao tipo de abertura de amostras mais adequados para determinação de metais pesados em solos e plantas, devendo a escolha do método a ser utilizado, levar em consideração as condições específicas de cada material, como seu tipo e origem. A abertura de amostras nos quais envolvam métodos com misturas ácidas menos agressivas, assim como sistemas fechados devem ser preferidos, em função da maior segurança operacional, menor susceptibilidade a contaminação e a perda de elementos voláteis. Contudo, a disponibilidade de equipamentos e reagentes, além da relação custo x benefício dos procedimentos analíticos devem ser considerados em cada laboratório. REFERÊNCIAS ABREU, C., A.; ABREU, M., F.; BERTON, R., S. Análise química de solo para metais pesados. In: Sociedade Brasileira de Ciência do Solo. (Org.). Tópicos em Ciência do Solo. 1 ed. Viçosa: Sociedade Brasileira deCiênciadoSolo,v.2,p.645-692.2002. ALLOWAY, B., J. Heavy metals in soils. 2a ed. Glasgow: Blackie Academic, 364 p. 1995. AGUIAR, J., E.; MARINS, R., V.; ALMEIDA, M., D. Comparação de metodologias de digestão de sedimentos marinhos para caracterização da geoquímica de metais traço na plataforma continental nordeste oriental brasileira. Geochimica Brasiliensis, 21(3)304 - 323. 2007. AMARAL SOBRINHO, N., M., B.; VELLOSO, A., C., X.; OLIVEIRA, C. Solubilidade de metais pesados em solo tratado com resíduo siderúrgico. Revista Brasileira de Ciência do Solo, v.21, p. 9-16. 1997.
- 56. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 5 45 AMARAL SOBRINHO, N., M., B.; COSTA, L., M.; OLIVEIRA, C.; VELLOSO, A., C., X. Metais pesados em alguns fertilizantes e corretivos. R. Bras. Ci. Solo, v.16, p.271-276. 1992. CAMARGO, M., S.; ANJOS, A., R., M.; ROSSI, C.; MALAVOLTA, E. Adubação fosfatada e metais pesados em latossolo cultivado com arroz. Scientia Agricola, v.57, n.3, p.513-518. 2000. CAMPOS, M., L.; SILVA, F., N.; FURTANI NETO, A., E.; GUILHERME, L., R., G.; MARQUES, J., J.; ANTUNES, A., S. Determinação de cádmio, cobre, cromo, níquel, chumbo e zinco em fosfatos de rocha. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v.40, n.4, p.361-367. 2005. CONSELHO NACIONAL DE MEIO AMBIENTE. Resolução CONAMA n. 420, de 28 de janeiro de 2009. Brasília, 16 p. 2009. COSTA, C., N.; MEURER, E., J.; BISSANI, C., A.; SELBACH, P., A. Contaminantes e poluentes do solo e do ambiente. In: MEURER, E., J. Fundamentos de química do solo, Porto Alegre: Evangraf. 2010. CHEN, M,; MA, L,, Q. Comparison of three aqua regia digestion methods for twenty Florida soils. Soil Sci. Soc. Am. J. 65:491-499. 2001. GOMES, P., C. Fracionamento e biodisponibilidade de metais pesados influenciados por calagem e concentrações de metais em Latossolo Vermelho-Amarelo. Viçosa. 161p. Tese (Doutorado) - Universidade Federal de Viçosa. 1996. ISO - International Standard: Soil quality. Extraction of trace elements soluble in aqua regia. ISO 11466. 1995. ISO - International Standard: Soil quality. Microwave-assisted extraction of the aqua regia soluble fraction for the determination of elements. ISO 12914. 2012. LENARDÃO, E., J.; FREITAG, R., A.; DABDOUB, M., J.; BATISTA, A., C., F.; SILVEIRA, C., C. “Green chemistry”: os 12 princípios da química verde e sua inserção nas atividades de ensino e pesquisa. Química Nova, 26:123-129. 2003. LIMA, E., S., A.; AMARAL SOBRINHO, N., M., B.; PÉREZ, V., D.; COUTINHO, I., B. Comparing Methods for Extracting Heavy Metals from Histosols for Establishing Quality Reference Values. Revista Bras. Ciência do Solo. 2015. MELO, L., C., A.; SILVA, C., A. Influencia de métodos de digestão e massa de amostra na recuperação de nutrientes em resíduos orgânicos. Química Nova, v. 31, n°. 3, p.556-561. 2008. PELOZATO, M.; HUGEN, C.; CAMPOS, M.. L.; ALMEIDA, J., A.; SILVEIRA, C., B.; MIQUELLUTI, D., J.; SOUZA, M., C. Comparison among methods of extraction of cadmium, copper and zinc in soils derived of basalt and granite-migmatite in Santa Catarina, Brazil. Revista de Ciências Agroveterinárias. Lages, v.10, n.1, p. 54-61. 2011. PÉREZ, D., V.; SANTOS, F., A.; SANTOS, F., T.; ESCALEIRA, V.; BIANCHI, S.; PEREIRA, N., R. Comparação de métodos de digestão para determinação de metais em amostras de solos provenientes do Estado do Mato Grosso do Sul. Química Analítica e Qualidade de Vida. Belo Horizonte. 2013. PEREIRA, J., C.; GUIMARÃES SILVA, A., K.; NALINI JÚNIOR, H., A.; PACHECO SILVA, E.; LENA, J., C. Distribuição, fracionamento e mobilidade de elementos traço em sedimentos superficiais. Quim. Nova, v. 30, n. 5, p.1249-1255. 2007. PIERANGELI, M., A., P. Chumbo em Latossolos Brasileiros: adsorção e dessorção sob efeito de pH e força iônica. 108p. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Lavras. 1999.
- 57. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 5 46 RAURET, G. Extraction procedures for the determination of heavy metals in contaminated soil and sediment. Talanta, Amsterdam, v. 46, n. 3, p.449-455. 1998. ROCA, J.; POMARES, F. Prediction of available heavy metals by six chemical extractants in a sewage sludge-amended soil. Communications in Soil Science and Plant Analysis, v.22, p.2119- 2136. 1991. SALDANHA, M., F., C.; PEREZ, D., V.; MENEGUELLI, N., A.; MOREIRA, J., C.; VAITSMAN, D., S. Avaliação de cinco tipos de abertura para determinação dos teores de ferro, manganês e zinco em alguns solos brasileiros. EMBRAPA – CNPS, n.1, p.1-10. 1997. SASTRE, J.; SAHUQUILLO, A.; VIDAL, M.; RAURET, G. Determination of Cd, Cu, Pb and Zn in environmental samples: microwave assisted total digestion versus aqua regia and nitric acid extraction. Analytica Chimica Acta, v. 462, p. 59-72. 2002. SHARAMEL, O.; MICHALKE, B.; KETTRUP, A. Study of the copper distribution in contaminated soils of hop fields by single and sequential extraction procedures. Sci. Total Environ., v. 263, p. 11-22. 2000. SILVA, F., C.; NETO, J., W.; ZANFELICI, M., R. Comparação metodológica para abertura de resíduos sólidos orgânicos urbanos na determinação dos teores totais de metais pesados. International Conference on Engineering and Computer Education, Sao Paulo, p. 501-504. 2007. SODRÉ, F., F.; PERALTA ZAMORA, P., G.; GRASSI, M., T. Digestão fotoquímica, assistida por microondas, de águas naturais: aplicação em estudos de partição e especiação do cobre. Quim. Nova, Vol. 27, No. 5, 695-700. 2004. SOUZA, V., L., B.; LIMA, V.; HAZIN, C., A.; FONSECA, C., K., L.; SANTOS, S., O. Biodisponibilidade de metais traço em sedimentos: uma revisão. Brazilian Journal of Radiation Sciences. International Joint Conference Radio, Brazil. Sociedade Brasileira de Proteção Radiológica - SBPR, Gramado, RS. P. 26-29. 2015. TEDESCO, M., J.; GIANELLO, C.; BISSANI, C., A.; BOHNEN, H.; VOLKWEISS, S., J. Análises de solo, plantas e outros materiais. Boletim Técnico nº 5 - Departamento de Solos - UFRGS. 174 p. 1995. TEÓDULO M., J., R.; LIMA, E., S.; NEUMANN, V., H., M., L.; LEITE, P., R., B.; SANTOS, M., L., F. Comparação de métodos de extração parcial de metais traço em solos e sedimentos de um estuário tropical sob a influência de um complexo industrial portuário, Pernambuco Brasil. Estudos Geológicos v. 13: 23-34. 2003. URE, A., M. Methods of analysis of heavy metals in soils. In: Alloway, B., J. Heavy metals in soils. New York: John Wiley, 368p. 1990. USEPA - United States Environmental Protection Agency. Acid digestion of sediments, sludges, and soils. EPA method 3050b. 12p. 1996a. USEPA - United States Environmental Protection Agency. Acid extraction of sediments, sludges, and soils. EPA method 3050. 14p. 2008. USEPA - United States Environmental Protection Agency. Microwave assisted acid digestion of sediments, sludges, soils, and soils. EPA method 3051. 14p. 1994. USEPA - United States Environmental Protection Agency. Microwave assisted acid digestion of sediments, sludges, soils, and soils. EPA method 3051A. 30p. 2007. USEPA - United States Environmental Protection Agency. Microwave assisted acid digestion of
- 58. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 5 47 siliceous and organically based matrices. EPA method 3052. 20p. 1996. VIEIRA, E., C.; KAMOGAWA, M., Y.; LEMOS, S., G.; NÓBREGA, J., A.; NOGUEIRA, A., R., A. Decomposição de amostras de solos assistida por radiação microondas: estratégia para evitar a formação de fluoretos insolúveis. R. Bras. Ci. Solo, 29:547-553. 2005.
- 59. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 6 48 CAPÍTULO 6 doi COMPARATIVO NA APLICAÇÃO DE ADUBO MINERAL E ORGANOMINERAL NA CULTURA DA ALFACE AMERICANA Maria Juliana Mossmann Colégio Agrícola de Toledo, Departamento de Olericultura Toledo - Paraná Emmanuel Zullo Godinho Colégio Agrícola de Toledo, Departamento de Olericultura Toledo - Paraná Eng. Agrônomo. Laércio José Mossmann Pesquisador e Desenvolvedor de Mercado na Empresa GreenCrops Fertilizantes Toledo - Paraná Bruna Amanda Mazzuco Colégio Agrícola de Toledo, Departamento de Olericultura Toledo - Paraná Vanessa Conejo Matter Colégio Agrícola de Toledo, Departamento de Olericultura Toledo - Paraná Fernando Caneppele USP - Universidade de São Paulo FZEA - Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos - Departamento de Engenharia de Biossistemas Luís Fernando Soares Zuin USP - Universidade de São Paulo FZEA - Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos - Departamento de Engenharia de Biossistemas RESUMO: O mundo está em fase de mudanças no uso de fertilizantes, para que o solo e o meio ambiente possam não sofrer com o aumento de nutrientes que possam impactar lençol freático, mas as respostas são positivas em diversas olerícolas, principalmente a alface. No presente trabalho avaliou-se a produção comercial de alface, variedade americana, em função da aplicação dos fertilizantes, mineral e organomineral,ambosnadosagemde50kgha-1 , de abril de 2018 a junho de 2018. O experimento foi feito diretamente à campo na área do Colégio Agrícola de Toledo, no Departamento de Olericultura. Analisou-se o número de folhas por planta, altura de planta diâmetro de copa. Foi empregado o fertilizante mineral 10-10-10 e o organomineral 10-10-10+esterco de boi. O experimento utilizado foi o delineamento inteiramente casualizado com 3 repetições. O rendimento final no crescimento da planta com a aplicação do adubo organomineral foi superior em relação ao mineral, tendo em vista que a matéria orgânica em sua constituição pode ter aumentado a liberação de outros nutrientes do solo. PALAVRAS-CHAVE: Alface, Crescimento, Produção ABSTRACT: The world is in the phase of changes in the use of fertilizers, so that the soil and the environment may not suffer with the increase of nutrients that can impact groundwater, but the answers are positive in several olerícolas, mainly the lettuce. The
- 60. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 6 49 commercial production of lettuce, American variety, as a function of the application of fertilizers, mineral and organomineral, both in the dosage of 50 kg ha-1, from April 2018 to June 2018, was evaluated. The experiment was done directly to the field in the area of the Agricultural College of Toledo, in the Department of Olericultura. The number of leaves per plant, height of plant diameter of canopy was analyzed. Mineral fertilizer 10-10-10 and 10-10-10 organomineral + ox manure were used. The experiment was a completely randomized design with 3 replicates. The final yield in the growth of the plant with the application of the organomineral fertilizer was superior in relation to the mineral, considering that the organic matter in its constitution may have increased the release of other nutrients from the soil. KEYWORDS: Lettuce, Growth, Production 1 | INTRODUÇÃO A alface (Lactuca sativa L.) é uma hortaliça folhosa, da família Asteraceae, autógama, anual ou bienal, com sistema radicular pivotante ramificado concentrado a 0,35 m de profundidade, com folhas sésseis alternadas em forma de roseta e caule curto sem ramificações (ARAUJO et al, 2011). Originária de espécies silvestres encontradas em regiões de clima temperado, no sul da Europa e na Ásia Ocidental, se adaptando a diversos climas, floresce principalmente sob dias longos e temperaturas altas, sendo a etapa vegetativa do ciclo, favorecida por dias curtos e temperaturas amenas (FILGUEIRA, 2000). O ciclo desta hortaliça tão consumida é dividido em quatro fases, germinação, transplante, fase vegetativa ou formação da cabeça e fase reprodutiva, cuja duração de cada fase se dá principalmente pelos fatores ambientais, radiação solar e temperatura. Comercialmente a alface é cultivada até a terceira fase do ciclo (ARAUJO et al., 2011), onde o ponto de colheita se situa antes do crescimento máximo da planta durante a fase vegetativa, pois ultrapassando esta fase deixa de agregar valores comerciais. O cultivo da alface é feito a partir de sementes botânicas que geralmente são semeadas em sementeiras e transplantadas após a formação de cinco folhas, sendo seu ciclo, determinado em dias após transplante (KANO et al., 2006) o ciclo varia em duração em dias em função da época de cultivo, outono-inverno, inverno-primavera e primavera e verão, decrescendo em duração, nesta ordem (SANCHÉZ, 2008). A faixa de temperatura ideal para o desenvolvimento da alface é entre 15,5 e 18,3ºC, podendo tolerar temperaturas entre 26,6 a 29,4ºC por alguns dias, desde que as temperaturas noturnas sejam baixas (SANDERS, 2012). A faixa de temperatura ideal para alface Americana está em torno de 23ºC e 7ºC durante o dia e noite, respectivamente (TURINI et al., 1995). A planta de alface apresenta ciclo curto de desenvolvimento, necessitando maior demanda por nutrientes em curtos períodos (ZINK E YAMAGUCHI, 1963). A maior
- 61. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 6 50 taxa de acúmulo de nutrientes ocorre na fase próxima a ser comercializada que seria a vegetativa ou de formação da cabeça, onde são observados os maiores teores de N, P, K, Mg e Ca, sendo o nível dos nutrientes acumulados da seguinte ordem: K> N> P>Mg>Ca (GARCIA & SALGADO, 1981). A produção de mudas vigorosas de alface é estratégica para obtenção de alto rendimento e da qualidade final do produto. Segundo Sousa & Resende (2003), 60% do sucesso de uma cultura está no plantio de mudas de boa qualidade. O sistema de bandejas multicelulares é o mais utilizado na produção de mudas de hortaliças. Mudas de tomate, alface, repolho, couve-flor, pimentão e berinjela são atualmente produzidas neste sistema, utilizando substratos comerciais ou elaborados pelo próprio produtor, a partir de compostagem de resíduos orgânicos. Diminuindo os custos de produção e contribuindo na melhoria da qualidade dos produtos vegetais, estão diversas tecnologias, mas entre elas podemos citar a fertirrigação e a fertilização foliar. Ambas têm a função de complementar e corrigir possíveisfalhasdafertilizaçãoviasolo,alémdeestimularfisiologicamentedeterminadas fases da cultura. Considerando o contexto da agricultura global, que busca o aumento da produção e a redução de custos devido a um mercado cada vez mais competitivo, a adubação foliar é um dos meios mais eficientes para solucionar deficiências nutricionais específicas (Lopes & Guidolin, 1989). A interação entre os fatores de ambiente e disponibilidade de nutrientes proporcionam condições de melhor desenvolvimento das raízes e consequentemente da parte aérea, implicando em aumento significativo da produção, que é obtida através da produção de cabeças com maior circunferência, compacidade, peso fresco e número de folhas livres de doenças e anomalias, sendo assim melhor visto pelos consumidores (YURI et al., 2004 b). A atuação conjunta desse e de inúmeros outros efeitos resulta, em muitos casos, em produtividades de alface que podem superar as obtidas com adubos minerais (Hartrath, 1986). No cultivo da alface é comum a utilização de doses altas de adubos orgânicos e minerais para atender à demanda rápida de nutrientes. Por isso, pesquisas que estudem a interação entre doses e fontes são essenciais para o desenvolvimento (orgânicas e minerais) podem eliminar desperdícios e evitar efeitos fitotóxicos, pois sabe-se que doses muito altas de adubos desbalanceiam as relações entre nutrientes e salinizam o solo ao invés de melhor (Valente, 1985). A alface geralmente apresenta boa resposta à adubação orgânica, no entanto, pode varia de acordo com a cultivar e a fonte de adubo utilizada. Ricci et al. (1995), estudando composto orgânico (tradicional) e vermicomposto na produção de alface, verificaram que a adubação com composto e vermicomposto proporcionou teores de P, Ca, Mg e S significativamente iguais à testemunha com adubação mineral. Muitos produtos comerciais contendo substâncias húmicas estão, cada vez mais,
- 62. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 6 51 sendo ofertados no mercado de insumos agrícolas. Em geral, esses produtos são derivados de minerais, como a lignita e carvão, turfas e resíduos orgânicos humificados. Poucos estudos de laboratório e de campo, com esses produtos comerciais, têm sido conduzidos. Dessa forma, há um requerimento por dados de pesquisa sobre essas substâncias orgânicas (CHEN et al., 2004), para nortear o uso de produtos comercias e de estercos e outros resíduos orgânicos, e avaliar a influência desses materiais na dinâmica das diferentes frações orgânicas do solo. Diante do exposto, o objetivo do trabalho é avaliar os índices de crescimento e desenvolvimento da cultura da alface comparando o adubo mineral 10-10-10 com o adubo organomineral 10-10-10+esterco de boi e o tratamento controle. 2 | MATERIAIS E MÉTODOS O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente casualidado a campo no Colégio Agrícola de Toledo, de Latitude Sul 24° 47’ 16” e Longitude Oeste 53° 43’ 29”. As mudas foram compradas em uma casa agropecuária de Toledo, onde foram adquiridas 90 plantas de alface da variedade americana. O experimento teve como tratamentos a aplicação do adubo 10-10-10 no tratamento minera, no tratamento organomineral foi aplicado o adubo 10-10-10+esterco de boi, ambos na mesma quantidade 50 kg ha-1 e o tratamento-controle não foi feito nenhuma adubação, os tratamentos possuíam 30 plantas cada, o experimento foi feito em triplicata, as adubações foram feitas 25 dias antes do plantio utilizando uma enxada para remover o solo e ao mesmo tempo incorporar o adubo no canteiro definitivo. As parcelas experimentais constituíram-se de canteiros com quatro linhas de 2,1 m de comprimento, com espaçamento entre linhas de 0,30 m e entre plantas de 0,35 m. As linhas centrais formaram a área útil. O solo do local conforme dados a seguir mostra que o solo não necessitou de correções com calcário e/ou com uma adubação especifica, com as seguintes características: K = 1,06 cmolc dm-3 ; Ca = 10,81 cmolc dm-3 ; Mg = 2,10 cmolc dm-3 ; P = 49,40 mg dm-3 pelo extrator de mehlich-1 ; Al = 0,2 cmolc dm-3 ; H + Al = 3,71 cmolc dm-3 ; pH em H2 O = 5,54 e saturação de bases = 76,06%. Os canteiros (tratamentos e tratamento-controle) foram cobertos com maravalha afim de controlar as ervas daninhas e manter o solo hidratado. A metodologia usada neste trabalho foi descrita e adaptada por Resende et al. (2003), avaliando número de folhas por planta (também foi contabilizado na mesma amostra de dez plantas, através da contagem do número de folhas maiores que 1 cm de comprimento, partindo-se das folhas basais até a última folha aberta; altura de plantas (mensurada numa amostra de dez plantas, retiradas aleatoriamente da área útil, obtida com auxílio de um paquímetro, a partir do nível do solo até a extremidade das folhas mais altas, e que foi expressa em centímetros) e o diâmetro copa ou diâmetro de planta (medindo da ponta de uma folha para a ponta de outra).
- 63. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 6 52 Os dados foram submetidos a análise de variância e comparados pelo teste de Tukey ao nível de 5% com auxílio do programa estatístico ActionTM . 3 | RESULTADOS E DISCUSSÃO Os resultados estão sendo apresentados na Tabela 1. Tratamento FP ALTP (cm) DC (cm) Tratamento1 4,5a 6,5a 11,7a Tratamento2 4,0ab 6,5a 11,5a Controle 3,0b 3,5b 9,0b Média Geral 3,8 5,5 11,6 p-valor 0,005 0,0000003 0,00000001 CV (%) 23,9 18,3 6,3 Tabela 1: Folhas por planta, Altura de planta e diâmetro da copa de alface (variedade americana), no tratamento1 com adubo organomineral 10-10-10+esterco de boi, no tratamento2 com adubo mineral 10-10-10, ambos na dosagem de 50 kg ha-1 , no tratamento-controle não foi feito adubação. Toledo, 2018. Tratamento1 : adubação organomineral; Tratamento2 : adubação mineral. FP: folhas por planta; ALT: altura de plantas; DC: Diâmetro de copa CV: Coeficiente de variação A Tabela 1 mostra os resultados folhas por plantas, altura de plantas e o diâmetro da copa, em ambos os resultados o p-valor foi abaixo dos 5% de probabilidade pelo teste de Tukey. O coeficiente de variação para o DC ficou abaixo dos 15%, conforme Ferreira (2018), quando o CV for menor ou igual a 15%, o resultado teve baixa dispersão, ou seja, os dados são homogêneos. Nos três ensaios analisados folhas por planta, altura de planta e diâmetro da copa resultaram em um aumento significativo na planta no geral, mostrando uma média geral de 3,8 para folhas por planta, 5,5 para altura de planta e 11,6 para diâmetro da copa. Em geral, a adubação orgânica dificilmente prescinde da adubação química para que produções satisfatórias sejam alcançadas (Resende et al., 2009). Por outro lado, quando utilizaram fertilizantes orgânico e mineral para a adubação da alface, cultivar Kaesar, Teixeira et al. (2004) obtiveram uma produção média de 1,0 kg plantas-1 , mostrando que a associação da adubação orgânica com a adubação mineral pode ser rentável, além de possibilitar economia de fertilizantes. De acordo com YURI et al. (2003) a área foliar reflete a capacidade fotossintética das plantas e, juntamente com os dados de altura de planta, número de folhas, massa fresca e massa seca, mostra como a planta se desenvolveu. Concordando com esses autores e mediante os dados expostos neste trabalho, tem-se que as plantas submetidas às doses crescentes de manipueira se desenvolveram melhor, uma vez que apresentaram maior índice de área foliar e demais parâmetros fenológicos analisados.
- 64. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 6 53 As Figuras 1.a (número de folhas por planta); 1.b (altura de planta) e 1.c (diâmetro de copa), mostram os gráficos dos efeitos individuais com a aplicação do adubo mineral e o adubo organomineral na interação dos tratamentos com o tratamento-controle. As Figuras 1.a, 1.b e 1.c demonstram que ao usar aplicar o adubo mineral e o organomineral dosagens especificadas do experimento, tiveram um aumento significativo nos indicadores analisados, como número de folhas por planta, altura de planta e diâmetro de copa. A Figura 2, apresenta os gráficos de resíduos, sendo o histograma geral (a), o QQ-plot (b), resíduos x valores ajustados (c) e resíduos padronizados versus ordem de coleta (d), para número de folhas por planta. Nos gráficos de resíduos na Figura 2.c observa-se a distribuição aleatória dos resíduos em torno do zero bem como na ordem de coleta dos ensaios na Figura 2.d. Verifica-se também que no gráfico da probabilidade normal dos resíduos, já na Figura 2.b não há a presença de outliers e que os resíduos aderem a uma distribuição normal, com p-valor = 0,39 (> 0,10) determinado pelo teste de normalidade deAnderson-Darling (AD). Essas observações quanto aos resíduos na ANOVA satisfazem a premissa da Estatística paramétrica e permite uma análise mais aprofundada dos dados. A Figura 3, apresenta os gráficos de resíduos, sendo o histograma geral (a), o QQ-plot (b), resíduos x valores ajustados (c) e resíduos padronizados versus ordem
- 65. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 6 54 de coleta (d), para altura de planta. Nos gráficos de resíduos na Figura 3.c observa-se a distribuição aleatória dos resíduos em torno do zero bem como na ordem de coleta dos ensaios na Figura 3.d. Verifica-se também que no gráfico da probabilidade normal dos resíduos, já na Figura 3.b não há a presença de outliers e que os resíduos aderem a uma distribuição normal, com p-valor = 0,39 (> 0,10) determinado pelo teste de normalidade deAnderson-Darling (AD). Essas observações quanto aos resíduos na ANOVA satisfazem a premissa da Estatística paramétrica e permite uma análise mais aprofundada dos dados. A Figura 4, apresenta os gráficos de resíduos, sendo o histograma geral (a), o QQ-plot (b), resíduos x valores ajustados (c) e resíduos padronizados versus ordem de coleta (d), para altura de planta. Nos gráficos de resíduos na Figura 4.c observa-se a distribuição aleatória dos resíduos em torno do zero bem como na ordem de coleta dos ensaios na Figura 4.d. Verifica-se também que no gráfico da probabilidade normal dos resíduos, já na Figura 4.b não há a presença de outliers e que os resíduos aderem a uma distribuição normal, com p-valor = 0,66 (> 0,10) determinado pelo teste de normalidade deAnderson-Darling (AD). Essas observações quanto aos resíduos na ANOVA satisfazem a premissa da Estatística paramétrica e permite uma análise mais aprofundada dos dados. (a) (a)
- 66. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 6 55 O maior rendimento de folhas de alface com uso de adubos orgânicos, foi atribuído por Resende (2004) aos efeitos proporcionados por esses resíduos sobre as propriedades químicas, físicas e biológicas do solo uma vez que eles atuam como condicionadores e aumentam a capacidade do solo em armazenar nutrientes necessários para o desenvolvimento das plantas. YURI et al. (2003) verificaram decréscimo de área foliar quando estudaram a aplicação de doses crescentes de potássio na cultura do maracujá, sendo que as doses adequadas deveriam ser menores que 300 mg dm-3 . 4 | CONCLUSÃO Com base nestes resultados apresentados pode-se concluir que: O adubo organomineral são todos aqueles produtos com a junção do NPK e de resíduos de origem vegetal, urbano ou industrial e animal, que possuam altos teores de componentes orgânicos, neste sentido os resultados de numero de folhas e diâmetro de copa, foram superiores em comparação ao adubo mineral e ao tratamento-controle. Além do ganho econômico para o produtor, pois ao aumentar número de folhas por planta e diâmetro de copa, o aumento na área fotossintética pode ser maior, para o solo há muitas vantagens melhorando as propriedades físicas, químicas e biológicas, onde as absorção dos nutrientes pelas plantas irão melhorar significativamente, pois reduz o impacto no meio ambiente e não compromete a estrutura física do solo e a anatomia das plantas. REFERÊNCIAS ALVAREZ, V. V. H. (eds.) Recomendações para o uso de corretivos e fertilizantes em Minas Gerais: 5ª Aproximação. Viçosa: CFSEMG, 1999. p. 99-110. AQUINO, L. A.; PUIATTI, M.; ABAURRE, M. E. O.; CECON, P. R.; PEREIRA, P. R. G.; PEREIRA, F. H. F.; CASTRO, M. R. S. Produção de biomassa, acúmulo de nitrato, teores e exportação de macronutrientes da alface sob sombreamento. Horticultura Brasileira, Brasília, v. 25, n. 3, p 381-386, 2007. ARAÚJO, W. F.; SOUSA, K. T. S.; VIANA, T. V. A.; AZEVEDO, B. M.; BARROS, M. M.; MARCOLINO, E. Resposta da alface a adubação nitrogenada. Revista Agro@mbiente, Boa Vista, v. 5, p. 12-17, 2011. BARBOSA, J. C.; MALDONADO JÚNIOR, W. Software AgroEstat – Sistema de análises estatísticas de ensaios agronômicos. Jaboticabal, Universidade Estadual Paulista, 2011 CHEN, Y.; NOBILI, M. de; AVIAD, T. Stimulatory effects of humic substances on plant growth. In: MAGDOFF, F.; WEIL, R. R. (Eds.). Soil organic matter in sustainable agriculture. London: [s.n.], 2004. p. 103-129. FILGUEIRA, F. A. R. Novo Manual de Olericultura: agrotecnologia moderna na produção e comercialização de hortaliças. Viçosa: UFV, 2000. 402p. FONTES, R. R.; LIMA, J. A.; TORRES, A. C.; CARRIJO, O. A. Efeito da aplicação de Mg, B, Zn e Mo
- 67. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 6 56 na produção de alface. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v. 17, n. 2, p. 171-175, fev. 1982. GARCIA, A. W. R. & SALGADO, A. R. Absorção do zinco pelo cafeeiro através de sais e misturas quelatizadas. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PESQUISAS CAFEEIRAS, 9, São Lourenço, 1981. Resumos, São Lourenço, MIC/IBC, 1981. P.39 - 47. GOMES, L. A. A.; SILVA, E. C.; FAQUIN, V. Recomendações de adubação para cultivos em ambiente protegido. In: RIBEIRO, A.C.; GUIMARÃES, P.T.; GREWAL, H. S.; ZHONGGU, L.; GRANHAN, R. D. Influence of subsoil zinc on dry matter production, seed yield and distribution of zinc in oilseed rape genotypes differing in zinc efficiency. Plant and Soil, Dordrecht, v.192, n.2, p.181-189, 1997. HARTRATH, H. Manuring of butterhead lettuce. Horticultural Abstract, v. 56, p. 7739, 1986. KANO, C. et al. Doses de potássio na produção e qualidade de sementes de alface. Horticultura Brasileira, Brasília, DF, v. 24, n. 3, p. 356-359, 2006. LOPES, A. S.; GUIDOLIN, J. A. 1989. Adubação Foliar. Campinas: IAC. 145p. RESENDE, G. M. Características produtivas, qualidade pós-colheita e teor de nutrientes em alface americana (Lactuca sativa L.) sob doses de nitrogênio e molibdênio, em cultivo de verão e de inverno. 2004. 139 p. Tese (Doutorado) – Universidade Federal de Lavras, Lavras. RESENDE, G. M.; YURI, J. E.; MOTA, J. H.; SOUZA, R. J.; FREITAS, S. A. C.; RODRIGUES JÚNIOR, J. C. Efeitos de tipos de bandejas e idade de transplantio de mudas sobre o desenvolvimento e produtividade de alface americana. Horticultura Brasileira, Brasília, v. 21, n. 3, p. 562-567, julho/ setembro 2003. RICCI, M. S. F.; CASALI, V. W.; CARDOSO, A. A.; RUIZ, H. A. Teores de nutrientes em duas cultivares de alface adubadas com composto orgânico. Pesquisa Agropecuária Brasileira, 30: 1035-1039, 1995. SANCHÉZ, L. F. R. La fertirrigacion de la letchuga. México: Mundi Prensa, 2008. 260 p. SANDERS, D. C. Lettuce production. Horticulture Information Leaflet, 11. North Carolina State University, 2001. Disponível em: <http://www.ces.ncsu.edu/depts/hort/hil/hil-11.html>. Acesso em: 15 jan. 2019. SOUSA, J. L; RESENDE, P. Manual de Horticultura Orgânica. Viçosa: Aprenda Fácil. 560p, 2003. TEIXEIRA, N. T.; de PAULA, E. L.; FÁVARI, D. B.; ALMEIDA, F.; GUARNIERI. V. Adubação orgânica e organomineral e algas marinhas na produção de alface. Revista Ecossistemas, v.29, p.19-22, 2004. TURINI, T. et al. Iceberg lettuce production in California. 2011. Disponível em: <http://www.ucanr.org/ freepubs/docs/7215.pdf>. Acesso em: 15 jan. 2019. YURI, J. E.; SOUZA, R. J. de; FREITAS, S. A. C. de; RODRIGUES JÚNIOR, J. C.; MOTA, J. H. Comportamento de cultivares de alface tipo americana em Boa Esperança. Horticultura Brasileira, Brasília, v.20, n.2, p. 229-232, jun. 2004. VALENTE, C.F. Efeito do biofertilizante, em diferentes níveis de adubação química, sobre o solo e sobre a produção do feijão cultivado em casa de vegetação. Viçosa, UFV, Impr. Univ., 1985. 48 p. (Tese mestrado.). VIDIGAL, S. M. et al. Resposta da alface (Lectuca sativa L.) ao efeito residual da adubação orgânica: I. Ensaio de campo. Revista Ceres, Viçosa, MG, v. 42, n. 239, p. 80-88, 1995.
- 68. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 7 57 CAPÍTULO 7 doi COMPORTAMENTO DE ESTACAS DE ALLAMANDA CATHARTICA L. TRATADAS COM ÁCIDO INDOLBUTÍRICO (AIB) Tadeu Augusto van Tol de Castro Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Instituto de Agronomia, Rodovia BR 465 km 7, 23890-000, Seropédica - RJ Rafael Gomes da Mota Gonçalves Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Instituto de Agronomia, Rodovia BR 465 km 7, 23890-000, Seropédica - RJ Igor Prata Terra de Rezende Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Instituto de Agronomia, Rodovia BR 465 km 7, 23890-000, Seropédica - RJ Lethicia de Souza Grechi da Silva Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Instituto de Agronomia, Rodovia BR 465 km 7, 23890-000, Seropédica - RJ Rafaela Silva Correa Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Instituto de Agronomia, Rodovia BR 465 km 7, 23890-000, Seropédica - RJ Carlos Alberto Bucher Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Instituto de Agronomia, Rodovia BR 465 km 7, 23890-000, Seropédica - RJ RESUMO: A prática da estaquia é comumente utilizada como forma de clonagem vegetal. É usual a aplicação exógena de fitoreguladores nesta técnica de propagação, tal como o ácido indolbutírico (AIB), visando estimular um melhor enraizamento das estacas. Desta maneira, este trabalho teve como objetivo avaliar o efeito de três concentrações de ácido indolbultírico na formação e desenvolvimento do sistema radicular e brotações foliares em três classes de estacas caulinares de alamanda. O experimento foi realizado no setor de Horticultura da UFRRJ. Os ramos de alamanda foram coletados e separados em herbáceos, semilenhosos e lenhosos. O tamanho das estacas foi padronizado em 20 cm de comprimento e suas extremidades basais foram cortadas em bisel. As estacas foram desinfestadas em solução de hipoclorito à 1% e submetidas aos tratamentos com AIB nas concentrações de 0, 1000 e 2000 ppm. Utilizou-se esquema fatorial 3x3 (concentração x tipo de estaca) e três repetições, para a implantação do experimento e o delineamento foi inteiramente casualizado. Após 63 dias foram avaliadas as taxas de sobrevivência das estacas, de enraizamento e de brotações foliares, além do número médio de raízes e o comprimento médio da maior raiz. As concentrações de 1000 e 2000 ppm de AIB aumentaram as taxas de sobrevivência, enraizamento e brotações em estacas semilenhosas e lenhosas em comparação com as estacas herbáceas. O número de raízes e comprimento da maior raiz por estaca mostrou aumento nos tratamentos com AIB, sendo os melhores resultados observados em estacas lenhosas tratadas com doses de 1000 ppm.
- 69. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 7 58 PALAVRAS-CHAVE: Alamanda, Propagação, Estaquia, Fitoregulador. ABSTRACT: The practice of cutting is commonly used as a form of plant cloning. It is usual the exogenous application of phytoregulators in this propagation technique, such as indolebutyric acid (IBA), in order to stimulate a better rooting of the cuttings. Thus, the objective of this work was to evaluate the effect of three concentrations of indolebutyric acid on the formation and development of the root system and leaf sprouts in three classes of stem cuttings of alamanda. The experiment was carried out in the horticulture sector of UFRRJ. The branches of alamanda were collected and separated in herbaceous, semi-woody and woody. The size of the cuttings was standardized at 20 cm in length and their basal ends were bevel cut. The cuttings were disinfested in 1% hypochlorite solution and submitted to IBA treatments at concentrations of 0, 1000 and 2000 ppm. A 3x3x3 factorial scheme (concentration x type of cutting x replicates) was used for the implementation of the experiment and the design was completely randomized. After 63 days the survival rates of cuttings, rooting and leaf shoots were evaluated, besides the mean number of roots and the average length of the largest root. The concentrations of 1000 and 2000 ppm of IBA increased survival, rooting and sprouting rates on woody and semi-woody cuttings compared to herbaceous cuttings. The number of roots and length of the highest root per cutting showed an increase in IBA treatments, with the best results observed in woody cuttings treated with 1000 ppm doses. KEYWORDS: Alamanda, Propagation, Stake, Phytoregulator. INTRODUÇÃO A comercialização e produção de plantas ornamentais vêm crescendo notoriamente nas últimas décadas, visando suprir o aumento da demanda por espécies implantadas no paisagismo de ambientes (ANGELIS & ANGELIS, 1999; FERRIANI et al., 2006). A prática de paisagismo no Brasil iniciou-se de forma tardia, quando comparado ao Oriente, sendo introduzida aproximadamente no século XVIII. No período pós-guerra ocorreu o grande marco do paisagismo no país, que sob forte influência nacionalista assumiu uma identidade própria, passando a se espelhar principalmente nos jardins tropicais (SILVEIRA et al., 2005; SILVA, 2006). A propagação de plantas ornamentais por sementes apresenta como resultados desfavoráveis a grande variedade entre as mudas e na produção, além do florescimento e frutificação mais tardio, quando comparado a plantas propagadas vegetativamente (FRANZON, ANTUNES & RASEIRA, 2004). Dentre as formas de clonagem vegetal destaca-se a técnica de estaquia, que possibilita uniformidade dos propágulos, elevada quantidade de mudas geradas a partir de uma planta matriz e redução do período juvenil, antecipando assim o florescimento (HARTMANN et al., 2002; FERRIANI et al., 2006). As estacas são classificadas quanto ao estágio de desenvolvimento em herbáceas, lenhosas e semi-lenhosas (SOUZA, 1977).
- 70. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 7 59 A Alamanda (Allamanda cathartica L.) pertence à família Apocynaceae, sendo uma trepadeira comumente utilizada em paisagismos no Brasil. Apresenta flores amarelo-ouro durante quase todo o ano e ciclo perene.Além do uso ornamental também é utilizada para destacar detalhes arquitetônicos, cobrir muros e paredes, formar pergolados ou caramanchões, e separar um ambiente do outro. É uma espécie de crescimento moderado que se adapta a qualquer região do país, porém se desenvolve melhor em climas quentes (LORENZI & SOUZA, 2001; LOSS et al., 2008). Para estimular o enraizamento, e viabilizar a produção de mudas por meio de estaquia, é comum a utilização de reguladores de crescimento (FACHINELLO et al., 1995). Se faz necessário um balanço hormonal adequado para que ocorra o processo de iniciação radicular, devendo haver equilíbrio entre inibidores e promotores de crescimento, principalmente entre auxinas, citocininas e giberelinas (PASQUAL, 2001; TAIZ et al., 2017). Um dos meios mais utilizados para adequar o balanço hormonal visando o enraizamento se dá pela aplicação exógena de fitoreguladores, tais como o ácido indolbutírico (AIB). O AIB corresponde a uma auxina sintética, de maior estabilidade e menor solubilidade que a auxina endógena (ácido indolacético), sendo considerado um dos melhores estimuladores de enraizamento (HINOJOSA, 2000; PASQUAL et al., 2001; FERRIANI et al., 2006; PEREIRA et al., 2012). Neste contexto, objetivou-se com esse trabalho avaliar o efeito de três concentrações de ácido indolbultírico (0, 1000 e 2000 ppm) na formação e desenvolvimento do sistema radicular e brotações foliares em três classes de estacas caulinares (herbáceas, semilenhosas e lenhosas) de alamanda (Allamanda catharctica L.). MATERIAL E MÉTODOS O experimento foi realizado na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) em Seropédica-RJ, no setor de Horticultura, próximo ao Instituto deAgronomia (IA), situado na latitude 22º 45’ 54,33”S, longitude 43º 41’ 53”O, e altitude de 33 m (Figura 1A), sendo o clima classificado como do tipo Aw na classificação de Köppen. Os ramos de alamanda foram coletados no início do outono a partir de plantas matrizes com aproximadamente 14 anos de idade, situadas em jardim próximo ao acesso principal do campus da UFRRJ (Figura 1B). Os ramos coletados foram segmentados em três níveis classificatórios distintos, considerando o grau de lignificação: herbáceo, semi-lenhoso e lenhoso.
- 71. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 7 60 A B Figura 1. A- Localização do experimento; B- Plantas matrizes. Para obtenção das estacas nas três classes, objetivou-se padronizar seus tamanhos em torno de 20 cm de comprimento, retirou-se as folhas, e em seguida cortou-se em bisel a extremidade basal de cada estaca.As estacas foram desinfestadas imergindo-as em solução de hipoclorito à 1% por um minuto e posteriormente suas extremidades inferiores foram submetidas aos tratamentos com soluções de ácido indolbutírico (AIB) nas concentrações de 0, 1000 e 2000 ppm, durante dez segundos. As soluções foram preparadas a partir da dissolução de ácido indolbutírico em etanol 50% para obtenção das concentrações de AIB. Após submetidas aos tratamentos as estacas foram levadas ao propagador, onde foram estaqueadas a cerca de 1/4 de seu comprimento, utilizando areia grossa lavada como substrato, ocupando uma área de 0,64 m2 . A irrigação foi realizada por meio de nebulização intermitente, mantendo-se a umidade em torno de 80%. As estacas permaneceram no propagador durante 63 dias, após esse período foram avaliadas a taxa de sobrevivência das estacas, a taxa de estacas enraizadas, a taxa de estacas com brotações, o número médio de raízes e o comprimento médio da maior raiz. Paraaimplantaçãodoexperimentoutilizou-seesquemafatorial3x3(concentração x tipo de estaca) e três repetições, o delineamento foi inteiramente casualizado. Para cada tratamento (concentração x tipo de estaca) utilizou-se 30 estacas, totalizado 270 estacas para a realização do experimento. Os dados obtidos foram submetidos a análise de variância e os valores médios comparados entre si pelo teste de Tukey à 5% de probabilidade. RESULTADOS E DISCUSSÃO Ao analisar a Tabela 1, percebe-se que todos os tipos de estacas em que não houve tratamento com ácido indolbutírico não diferiram significativamente nas taxas de sobrevivência, enraizamento e brotações, quando comparadas entre si. No entanto, ao submeter os mesmos tipos de estacas à concentração de 1000 ppm observou-se que as estacas semilenhosas e lenhosas apresentaram aumento no
- 72. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 7 61 percentual de estacas vivas, enraizadas e com brotações em comparação a herbáceas (Tabela 1). A maior concentração (2000 ppm) também promoveu incremento nas taxas de estacas vivas e enraizadas em semilenhosas e lenhosas quando comparadas a estacas herbáceas. Já na taxa de brotações foliares, as estacas herbáceas apresentaram os menores resultados, enquanto as semilenhosas apresentaram os maiores, as estacas lenhosas não diferiram de nenhuma das outras (Tabela 1). AIB (ppm) Tipo de Estaca Estacas Vivas (%) Estacas Enraizadas (%) Estacas com Brotações (%) Herbácea 80,0 a 66,7 a 73,4 a 0 Semilenhosa 80,0 a 80,0 a 80,0 a Lenhosa 80,0 a 66,7 a 76,7 a Herbácea 60,0 b 60,0 b 60,0 b 1000 Semilenhosa 93,4 a 93,4 a 93,4 a Lenhosa 96,7 a 96,6 a 90,0 a Herbáceas 76,7 b 73,4 a 70,0 b 2000 Semilenhosa 96,7 a 93,4 a 96,7 a Lenhosa 93,4 a 93,4 a 86,7 ab Tabela 1. Efeito de diferentes doses de ácido indolbutírico (AIB) em diferentes tipos de estacas de Alamanda nos percentuais de estacas vivas, enraizadas e com brotações. * Médias na coluna, seguidas da mesma letra, não diferem entre si, pelo teste de Tuckey (p>0,05). Os resultados obtidos em relação ao número médio de raízes.estaca-1 e o comprimento médio da maior raiz demonstram que estacas semi-lenhosas e lenhosas não tratadas comAIB formaram mais raízes do que estacas herbáceas nessas mesmas condições. Os valores de comprimento médio da maior raiz não diferiram entre as classes de estacas quando não submetidas a aplicação de AIB (Tabela 2). Para a concentração de 1000 ppm de AIB, todos os tipos estacas diferiram em número médio de raízes entre si, sendo as menores quantidades de raízes observadas nas estacas herbáceas e as maiores observadas nas estacas lenhosas, as estacas semilenhosas apresentaram número de raízes com valores situados em posição mediana em relação aos outros. O comprimento médio da maior raiz (cm) na concentração de 1000 ppm em estacas lenhosas foi maior do que nas estacas herbáceas e semilenhosas, estas últimas não apresentando diferenças significativas (Tabela 2). As estacas semilenhosas e lenhosas, tratadas com AIB na dose de 2000 ppm, tiveram valores médios no número de raízes significativamente superiores ao de estacas herbáceas. Ainda na concentração de 2000 ppm de AIB, as estacas herbáceas apresentaram raízes menos compridas do que as de estacas lenhosas, enquanto o comprimento médio da maior raiz em estacas semilenhosas não diferiu significativamente das outras duas (Tabela 2).
- 73. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 7 62 AIB (ppm) Tipo de Estaca Número Médio de Raízes.Estaca-1 Comprimento Médio da Maior Raiz (cm) Herbácea 2,26 b 1,31 a 0 Semilenhosa 4,77 a 3,36 a Lenhosa 5,67 a 2,61 a Herbácea 2,57 c 1,94 b 1000 Semilenhosa 6,27 b 3,98 b Lenhosa 10,53 a 6,90 a Herbácea 3,60 b 2,33 b 2000 Semilenhosa 8,97 a 4,56 ab Lenhosa 10,50 a 5,81 a Tabela 2. Efeito de diferentes doses de ácido indolbutírico (AIB) em diferentes tipos de estacas de Alamanda no número médio de raízes.estaca-1 e no comprimento médio da maior raiz (cm). * Médias na coluna, seguidas da mesma letra, não diferem entre si, pelo teste de Tuckey (p>0,05). Analisando os efeitos das diferentes doses de AIB em estacas herbáceas, é possível notar que a dose 1000 ppm resultou em redução no percentual de estacas vivas quando comparada a estacas herbáceas sem tratamento com AIB, a concentração de 2000 ppm não resultou em diferenças neste parâmetro quando comparada as outras doses. A taxa de enraizamento e de brotações em estacas herbáceas não diferiram nas diferentes concentrações (Tabela 3). Em estacas semilenhosas não houve alterações nas taxas de sobrevivência, de enraizamento e de brotações foliares, nas diferentes concentrações de AIB utilizadas para os tratamentos (Tabela 3). Para estacas lenhosas, o percentual de estacas vivas e com brotações não diferiu entre as diferentes doses de AIB aplicadas. Já a taxa de enraizamento deste tipo de estaca foi superior quando tratadas com AIB em qualquer concentração, em comparação a dose de 0 ppm (Tabela 3). Tipo de Estaca AIB (ppm) Estacas Vivas (%) Estacas Enraizadas (%) Estacas com Brotações (%) 0 80,0 a 66,7 a 73,4 a Herbácea 1000 60,0 a 60,0 a 60,0 a 2000 76,7 a 73,4 a 70,0 a 0 80,0 a 80,0 a 80,0 a Semilenhosa 1000 93,4 a 93,4 a 93,4 a 2000 96,7 a 93,4 a 96,7 a 0 80,0 a 66,7 b 76,7 a Lenhosa 1000 96,7 a 96,6 a 90,0 a 2000 93,4 a 93,4 a 86,7 a Tabela 3. Efeito de diferentes tipos de estacas de Alamanda em diferentes doses de ácido indolbutírico (AIB) nos percentuais de estacas vivas, enraizadas e com brotações. * Médias na coluna, seguidas da mesma letra, não diferem entre si, pelo teste de Tuckey (p>0,05). As diferentes doses deAIB utilizadas não resultaram em diferenças na quantidade
- 74. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 7 63 média de raízes.estaca-1 e no comprimento médio da maior raiz (cm) em estacas herbáceas (Tabela 4). Para as estacas semilenhosas, a concentração de 2000 ppm resultou em aumento no número médio de raízes em relação às estacas deste mesmo tipo não tratadas com AIB, na concentração de 1000 ppm os parâmetros não diferiram do observado nas outras doses. Avaliando o efeito das doses no comprimento médio da maior raiz em estacas semilenhosas, não foram notadas diferenças significativas (Tabela 4). O número médio de raízes.estaca-1 e o comprimento médio da maior raiz apresentaram aumento em estacas lenhosas tratadas com AIB, diferindo das estacas desta classe sem tratamento, e não diferindo entre as doses de 1000 e 2000 ppm (Tabela 4). Tipo de Estaca AIB (ppm) Número Médio de Raízes.Estaca-1 Comprimento Médio da Maior Raiz 0 2,26 a 1,31 a Herbácea 1000 2,57 a 1,94 a 2000 3,6 a 2,33 a 0 4,77 b 3,36 a Semilenhosa 1000 6,27 ab 3,98 a 2000 8,97 a 4,56 a 0 5,67 b 2,61 b Lenhosa 1000 10,53 a 6,90 a 2000 10,50 a 5,81 a Tabela 4. Efeito de diferentes tipos de estacas de Alamanda em diferentes doses de ácido indolbutírico (AIB) no número médio de raízes.estaca-1 e no comprimento médio da maior raiz (cm). * Médias na coluna, seguidas da mesma letra, não diferem entre si, pelo teste de Tuckey (p>0,05). Em trabalho realizado por Loss et al. (2008), os autores observaram que os tratamentos de estacas de Allamanda cathartica L. com AIB nas concentrações de 4000 e 8000 ppm aumentaram significativamente o enraizamento e brotações quando comparado a testemunha. No entanto, apresentando percentuais de enraizamento bem inferiores aos observados neste trabalho. Os melhores resultados de enraizamento e brotações para estacas herbáceas, semilenhosas e lenhosas, tratadas com AIB, observados por Loss et al. (2008), corresponderam respectivamente a 23%, 50,6% e 63,3% para enraizamento e 20,2%, 58,7% e 82,5% para brotações, após 30 dias de condução. Já os melhores resultados encontrados no seguinte trabalho para enraizamento e brotações foliares de estacas herbáceas, semilhenhosas e lenhosas, tratadas com AIB, corresponderam respectivamente a 73,4%, 93,4% e 93,4% para enraizamento e 70%, 96,7% e 86,7% para brotações foliares, após 63 dias de condução experimental. Estas diferenças nos percentuais observados, provavelmente, poderiam ser
- 75. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 7 64 explicadas pela duração mais extensa do presente ensaio e/ou pela aplicação de doses menores de AIB (1000 e 2000 ppm), indicando que as doses de 4000 e 8000 ppm adotadas por Loss et al. (2008) podem ter resultado em um desbalanço hormonal, diminuindo o estímulo ao enraizamento das estacas em comparação com menores concentrações. CONCLUSÕES As concentrações de 1000 e 2000 ppm de AIB aumentaram as taxas de sobrevivência, enraizamento e brotações em estacas semilenhosas e lenhosas em comparação com as estacas herbáceas. O número de raízes e comprimento da maior raiz por estaca mostrou aumento nos tratamentos com AIB, sendo os melhores resultados observados em estacas lenhosas tratadas com doses de 1000 ppm. REFERÊNCIAS ANGELIS NETO, G.; ANGELIS, B. L. D. Plantas ornamentais: do paisagismo a outras aplicações. Revista Brasileira Horticultura Ornamental, Campinas, v.5, n.1, p.12-19, 1999. FACHINELLO, J.C.; HOFFMANN, A.; NACHTIGAL, J.C.; KERSTEN, E.; FORTES, G.R.L. 1995. Propagação de plantas frutíferas de clima temperado. 2. ed. UFPel, Pelotas, Brasil. 178p. FRANZON, R. C.; ANTUNES, L. E. C.; RASEIRA, M. C. B. Efeito do AIB e de diferentes tipos de estaca na propagação vegetativa da goiabeira-serrana (Acca sellowiana Berg). Revista Brasileira Agrociência, v. 10, n. 4, p. 515-518, out./dez. 2004. FERRIANI, A. P.; BORTOLINI, M. F.; ZUFFELLATO-RIBAS, K. C.; KOEHLER, H.S. Propagação vegetativa de estaquia de azaléia arbórea (Rhododendron thomsonii HOOK. f.). Semina: Ciências Agrárias, v. 27, n. 1, p. 35-42, 2006. HARTMANN, H. T.; KESTER, D. E.; DAVIS JÚNIOR, F. T; GENEVE, R. L. Plant propagation: principles and practices. 7 ed. New York: Englewood Clipps, 2002. HINOJOSA, G. F. Auxinas. In: CID, L. P. B. Introdução aos hormônios vegetais. Brasília, DF: Embrapa, 2000. p. 15-54. LORENZI, H.; SOUZA, H. M. Plantas ornamentais no Brasil: Arbustas, herbáceas e trepadeiras. Nova Odessa: Platanum. 3.ed. 2001. 1088p. LOSS, A.; TEIXEIRA, M. B.; ASSUNÇÃO, G. M.; HAIM, P. G.; LOUREIRO, D. C.; SOUZA, J. R. Enraizamento de estacas de Allamanda cathartica L. tratadas com ácido indolbutírico (AIB). Revista Brasileira de Ciências Agrárias, Recife, v. 3, n. 4, p. 313-316, out./dez. 2008. PEREIRA, G. H. A.; COUTINHO, F. S.; SILVA, R. A. C.; LOSS, A. Desenvolvimento de estacas de alamanda amarela sob diferentes concentrações de ácido indolbutírico. Comunicata Scientiae, v. 3, n. 1, p. 16-22, 2012. SILVA, A. T. Evolução Histórico-Cultural e Paisagística das Praças. Lavras, MG. 2006. 238p. Tese (Doutorado), Universidade Federal de Lavras/UFLA.
- 76. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 7 65 SILVEIRA, J. Q.; FILHO, J. A.; SIMANCA, J. C.; SALES, G. M.; MOTA, J. C. A. Efeito de concentrações de ácido indolbutírico no enraizamento de estacas de roseiras (Rosa sp) das variedades carola e salmone. 57ª Reunião Anual da SBPC, 57. Fortaleza, CE, 2005. Disponível em: <http://www.sbpcnet.org.br/livro/57ra/programas/senior/resumos/resumo-2595.html.> Acesso em: 02 fev. 2019. TAIZ, L.; ZEIGER, E.; MOLLER, I. A.; MURPHY, A. Fisiologia e Desenvolvimento Vegetal. 6 ed. Porto Alegre, RS: Artmed, 2017. 585 e 586 p.
- 77. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 8 66 CAPÍTULO 8 doi COMPOSIÇÃO QUÍMICA E ATIVIDADE ANTIFÚNGICA IN VITRO DO ÓLEO ESSENCIAL DAS FOLHAS DE Hypts suaveolens Wendel Cruvinel de Sousa Instituto Federal Goiano – Programa de Pós- Graduação em Agroquímica, Rio Verde, GO. Adiel Fernandes Martins Dias Graduando em Engenharia Ambiental, Instituto Federal Goiano – Rio Verde, GO. Josemar Gonçalves Oliveira Filho Instituto Federal Goiano – Programa de Pós- Graduação em Agroquímica, Rio Verde, GO. Flávia Fernanda Alves da Silva Instituto Federal Goiano – Programa de Pós- Graduação em Agroquímica, Rio Verde, GO. Cassia Cristina Fernandes Alves Professora e Pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Agroquímica do Instituto Federal Goiano – Rio Verde, GO. Cristiane de Melo Cazal Professora e Pesquisadora do Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, Barbacena, MG e membro externo do Programa de Pós- Graduação em Agroquímica do Instituto Federal Goiano – Campus Rio Verde, GO. RESUMO: Foi analisada a composição química por cromatográfica gasosa acoplada à espectrometria de massas (CG-EM) e atividade antifúngica contra Sclerotinea sclerotiorum do óleo essencial das folhas de Hyptis suaveolens. Foram identificados 19 compostos, destacando-se sanineno (17,50%),1,8-cincole(15,56%)eogermacreno B (31,33%). Foi observada inibição média de até 79% no crescimento micelial na dose de 500 µl/mL. O óleo essencial é rico em sesquiterpenos e apresenta atividade antifúngica moderada. PALAVRAS-CHAVES: Hyptis suaveolens; Lamiaceae; Óleo essencial; Sclerotinia sclerotiorum. ABSTRACT: Analyzed by molecular chemistry by gas chromatography coupled to mass spectrometry (GC-MS) and antifungal activity against Sclerotinea sclerotiorum of the essential oil of leaves of Hyptis suaveolens. Nineteen compounds were identified, with emphasis on saninene (17.50%) 1.8-fivele (15.56%) and germacrene B (31.33%). From a dose of 500 μl/mL. The essential oil is rich in sesquiterpenes and exhibits moderate antifungal activity. KEYWORDS: Hyptis suaveolens; Lamiaceae; Essential oils; Sclerotinia sclerotiorum. 1 | INTRODUÇÃO Hyptis suaveolens é pertencente à família Lamiaceae, nativa em todas as Américas, e é encontrada nas regiões tropicais e subtropicais. Considerada como uma planta perene de crescimento rápido atingindo até 3
- 78. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 8 67 m de altura. Distribuída por todo território nacional, é encontrar em lavouras de milho, áreas de pastagens e ao longo de estradas e rodovias. Conhecida popularmente como bamburral, erva-canudo, mentrasto-do-grande ou erva-cidreira (POONKODI et al., 2017; MARTINS et al., 2006; SILVA, et al., 2003). Essa planta é usada na medicinal popular no tratamento de infecções respiratórias, gastrointestinais e como analgésico. Estudos revelaram alto potencial medicinal e biológico do extrato e óleos essenciais das partes aéreas de H. suaveolens como: antimalárico, larvicida, antioxidante, anticonvulsivo, antibacteriano e antifúngico. Os óleos essenciais se destacam com potencial antibacteriano e antifúngica contra Mucor Sp., Fusarium moniliforme e espécies de Aspergillus (MALELE, et al., 2003; MOREIRA, et al., 2010; CYRILLE, et al., 2015; JESUS, et al., 2013). A composição química dos óleos essenciais de H. suaveolens já foi relatada outras vezes. Porém tem-se observado acentuada variação química de acordo com o local de coleta (NOUDOGBESSI, et al., 2013; JESUS, et al., 2013; GOLY, et al., 2015; POONKODI, et al., 2017). O presente trabalho analisou a composição química do óleo essencial das folhas de H. suaveolens e a atividade antifúngica contra Sclerotinia sclerotiorum, uma das principais doenças de lavouras de leguminosas. 2 | MATERIAL E MÉTODOS As folhas de H. suaveolens, foram coletadas na Fazenda Santa Luzia, na cidade de Aurilândia– GO, Brasil (16 ° 39’25,1’’S e 50 ° 25’35,3’’W), uma exsicata foi depositada no Herbário do IF Goiano - Campus Rio Verde sob o nº 477. O óleo essencial (OE) foi obtido por hidrodestilação em triplicata por 3h em aparelho tipo Clevenger. O teor foi calculado a partir da massa do (g)/massa das folhas frescas (g) x 100. A análise química foi realizada por cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massa (GC-MS). Durante a análise antifúngica foram avaliadas diferentes concentrações (15,6, 31,3, 62,5, 125, 250 e 500 µl/mL) de OE onde foram adicionados ao meio de cultura de Batata-Dextrose-Ágar (BDA), após esterilização e solidificação. Em seguida foi inoculado um micélio de S. sclerotiorum, com sete dias de idade (BALBI-PEÑA, et al. 2006). Foram realizadas medições diárias do halo de crescimento micelial, até o crescimento total do tratamento controle. Àatividade antifúngica foideterminada peloPercentualdeInibiçãodeCrescimento Micelial (PIC), em relação ao tratamento controle conforme descrito por Venturoso, et al. (2011) e Andrade, et al. (2018). 3 | RESULTADOS E DISCUSSÃO As folhas de H. suaveolens apresentaram rendimento médio de 0,23%. Foram
- 79. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 8 68 identificados um total de 19 constituintes químicos no óleo essencial das folhas. Estes compostos representam aproximadamente 97,7% do total de compostos presentes nos óleos essenciais das folhas de H. suaveolens (Tabela 1). Foram considerados como compostos majoritários os que apresentam área superior a 8% conforme descrito por Xavier et al. (2016), dos constituintes majoritários identificados no óleo essencial das folhas destacaram-se o Sanineno (17,50%), 1,8-cincole (15,56%) e o Germacreno B (31,33%). TR (min) Compostos RIexp RIlit RA % L-EO 5,245 α-Thujeno 927 924 0.24 5,434 α-Pineno 934 932 0.78 6,468 Sabineno 974 969 17.50 6,586 β-Pineno 979 974 4.03 7,359 δ-3-Careno 1006 1008 0.26 8,028 o-Cimeno 1026 1022 0.29 8,164 Silvestreno 1030 1025 5.96 8,253 1,8-Cincole 1032 1026 15.56 9,199 γ-Terpineno 1060 1054 0.84 9,489 Sabineno hidrato <cis>(IPP vs. OH) 1068 1065 0.47 10,664 Sabineno hidrato <trans>(IPP vs. OH) 1102 1098 0.12 13,803 1-Terpineol 1179 1130 2.60 22,422 β-Bourboneno 1385 1387 1.80 22,726 β-Elemeno 1393 1389 0.37 23,864 E-Cariofileno 1421 1471 7.89 26,367 Germacreno D 1483 1484 7.84 27,002 Germacreno B 1498 1559 31.33 30,156 Espatulenol 1580 1577 1.96 30,401 Cariofileno oxide 1586 1583 0.16 Total 97.7 Tabela 1. Composição química do óleo essencial das folhas de Hypts suaveolens. TR: Tempo de retenção; RIesp: Índice de retenção esperado. RIlit: Índice de retenção encontrados na literatura. Compostos similares aos obtidos já foram observados por Goly et al., (2015) e Poonkodi, et al., (2017), em percentuais diferentes. Esta variação química de compostos e proporções pode estar associada a condições geológicas, geográficas, climáticas e fisiológicas (MALELE et al., 2003). O óleo essencial de H. suaveolens apresentou atividade antifúngica contra S. sclerotiorum a partir da concentração de 125 µl/mL (41% de inibição). Com o aumento da concentração, o percentual de inibição também aumentou significativamente, apresentando melhor resultado na concentração de 500 µl/mL (79% de inibição). Entretanto, quando comparado ao controle positivo (Frowncide 500 SC), o OE apresentou menor eficácia.
- 80. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 8 69 Resultados similares já foram observados para o OE de H. suaveolens por Singh e Handique (1997), e Malele et al., (2003), na concentração de 500 µl/mL contra Rhizoctonia solane, S. sclerotiorum, S. rolfsii, Sacchharomyces cerevisiae, Fusarium moniliforme 7075, Mucor sp. 4 | CONCLUSÃO Foram identificados 19 compostos químicos no OE das folhas de H. suaveolens. Destacando- se como marjoritários o Sanineno (17,50%), 1,8-cincole (15,56%) e o Germacreno B (31,33%). O óleo essencial de H. suaveolens apresentou potencial antifúngico contra S. sclerotiorum a partir na dose de 250 µl/mL, chegango a 79% de inibição do crescimento micelial na dose de 500 µl/mL. 5 | FINANCIADORES Agradecemos a CAPES, Instituto Federal Goiano, Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, Departamento de Química da UFSCar por contribuírem com nosso trabalho. REFERÊNCIAS BALBI-PEÑA, M. I., BECKER, A., STANGARLIN, J. R., FRANZENER, G., LOPES, M. C., & SCHWAN-ESTRADA, K. R. Controle de Alternaria solani em tomateiro por extratos de Curcuma longa e Curcumina-I. Avaliação in vitro. Fitopatol. Bras. v. 31, n. 3, p. 310-314, 2006. CYRILLE, G. K. R.; YAYA, S. O. R. O.; ADJEHI, D. A. D. I. E.; BENJAMIN, K. A. B.; & MARCELLIN, D. J. E. Antibacterial activity of essential oils and extracts from the leaves of Hyptis suaveolens and lippia multiflora on multi-resistant bacteria. Rasãyan J. Chem. v. 8, n. 4, p. 396-403, 2015. GOLY, K. R. C.; SORO, Y.; DADIE, A.; KASSI, A. B. B.; DJE, M. Antibacterial activity of essential oil and extracts from the leaves of Hyptis suaveolens and Lippia Multiflora on Multi-resistant bacteria. Rasayan J. Chem., v. 8, n. 4, p. 396-403, 2015. JESUS, N. Z. T.; FALCÃO, H. S.; LIMA, G. R. M.; CALDAS FILHO, M. R. D.; SALES, I. R. P.; GOMES, I. F.; SANTOS, S.G.; TAVARES, J. F.; BARBOSA-FILHO, J. M.; BATISTA, L. M. Hyptis suaveolens (L.) Poit (Lamiaceae), a medicinal plant protects the stomach against several gastric ulcer models. J. ethnopharmacol., v. 150, n. 3, p. 982-988, 2013. MALELE, R. S.; MUTAYABARWA, C. K.; MWANGI, J. W.; THOITHI, G. N.; LOPEZ, A. G.; LUCINI, E. I.; ZYGADLO, J. A. Essential oil of Hyptis suaveolens (L.) Poit. from Tanzania: Composition and antifungal activity. J. Essent. Oil Res., v. 15, n. 6, p. 438-440, 2003. MARTINS, F. T.; SANTOS, M. H.; POLO, M. Variação química do óleo essencial de Hyptis suaveolens (L.) Poit., sob condições de cultivo. Qui. Nova, v. 29, n. 6, p. 1203-1209, 2006. MOREIRA, A. C. P.; LIMA, E. O.; WANDERLEY, P. A.; CARMO, E. S.; SOUZA, E. L. Chemical composition and antifungal activity of Hyptis suaveolens (L.) Poit leaves essential oil against Aspergillus species. Braz. J. Mic., v. 41, p. 28-33, 2010.
- 81. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 8 70 NOUDOGBESSI, J. P.; AGBANGNAN, P.; YEHOUENOU, B.; ADJALIAN, E.; NONVIHO, G.; OSSENI, M. A.; WOTTO, V.; FIGUEREDO, G.; CHALCHAT, J. C.; SOHOUNHLOUE, D. Physico-chimical properties of Hyptis suaveolens essential oil. Int. J. Med. Arom. Plants, v. 3, n. 2, p. 191- 199, 2013. POONKODI, K.; KARTHIKA, J.; TAMILSELVI, V.; ANITHA, R.; VASANTHAMANI, S. Chemical composition of essential oil of Hyptis suaveolens (L.) Poit and its invitro anticancer activity. J. Pharm. Res, v. 11, n. 5, p. 410-413, 2017. SILVA, A. F.; BARBOSA, L. C. A.; SILVA, E. A. M.; CASALI, V. W. D.; NASCIMENTO, E. A. Composição química do óleo essencial de Hyptis suaveolens (L.) Poit. (Lamiaceae). Rev. Bras. Plantas Med., v. 6, n. 1, p. 1-7, 2003. SINGH, H. B.; HANDIQUE, A. K. Antifungal Activity of the Essential Oil of Hyptis suaveolens and Its Efficacy in Biocontrol Measures. J. Essent. Oil Res., v. 9, n. 6, p. 683-687, 1997. VENTUROSO, L. R.; BACCHI, L. M. A.; GAVASSONI, W. L.; CONUS, L. A.; PONTIM, B. C. A.; BERGAMIN, A. C. Atividade antifúngica de extratos vegetais sobre o desenvolvimento de fitopatógenos. Summa Phytopathol, Botucatu, v. 37, n. 1, p. 18-23, 2011. XAVIER, M. N.; ALVES, C. C. F.; CAZAL, C. D. M.; SANTOS, N. H. Chemical composition of the volatile oil of Cardiopetalum calophyllum collected in the Cerrado area. Ciência Rural, v. 46, n. 5, p. 937-942, 2016.
- 82. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 9 71 CAPÍTULO 9 doi COMUNIDADE DE COLEOPTEROS ASSOCIADA A SOLOS HIDROMÓRFICOS Jéssica Camile da Silva Universidade Tecnológica Federal do Paraná Dois Vizinhos - Paraná Dinéia Tessaro Universidade Tecnológica Federal do Paraná Dois Vizinhos - Paraná Ketrin Lohrayne Kubiak Universidade Tecnológica Federal do Paraná Dois Vizinhos - Paraná Luis Felipe Wille Zarzycki Universidade Tecnológica Federal do Paraná Dois Vizinhos - Paraná Bruno Mikael Bondezan Pinto Universidade Tecnológica Federal do Paraná Dois Vizinhos - Paraná Elisandra Pocojeski Universidade Tecnológica Federal do paraná Dois Vizinhos - Paraná RESUMO: Os solos hidromórficos apresentam grande importância econômica e social, pela manutenção dos recursos hídricos e comunidades da flora e fauna, sendo evidente a necessidade de maior conhecimento em relação à conservação e manejo dessas áreas. O presente estudo tem por objetivo avaliar a diversidade da ordem Coleoptera em 3 áreas caracterizadas como solos hidromórficos na microbacia do Jirau Alto no município de Dois Vizinhos-PR. As avaliações da ordem Coleoptera foram feitas através da instalação de 12 armadilhas de queda (Pitfall-traps), em cada uma das três áreas, formadas por recipientes plásticos de 750 mL preenchidas com solução de formol 4% em 2/3 de seu volume, as quais permaneceram a campo durante 7 dias. Após sua remoção, as armadilhas foram transferidas para o laboratório e os coleópteros coletados classificados ao nível taxonômico de família com auxílio de microscópio estereoscópico e chaves dicotômicas de classificação. Os dados obtidos foram analisados quanto à abundância, riqueza e pelos índices de diversidade de Shannon, índice de dominância de Simpson, equitabilidade de Pielou e riqueza de Margalef. Os dados foram ainda submetidos à análise multivariada de componentes principais. Como resultado destacam-se as famílias Scarabaeidae Staphylinidae e Bostrichidae como numericamente mais representativas. A área com menor encharcamento apresenta maior riqueza, abundância e diversidade em relação às áreas mais encharcadas. Pela análise de componentes principais não se verificou a existência de grupos relacionados à área mais encharcada, indicando a preferência das famílias de Coleoptera por áreas de solo com melhor drenagem. PALAVRAS-CHAVE: Besouros, Gleissolos, hidromorfismo, diversidade, fauna edáfica.
- 83. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 9 72 ABSTRACT: The hydromorphic soils present great economic and social importance, for the maintenance of water resources and communities of flora and fauna, being evident the need for greater knowledge regarding the conservation and management of these areas. The present study aims to evaluate the diversity of Coleoptera order in hydromorphic soils in the Jirau Alto microbasin in the municipality of Dois Vizinhos- PR. The evaluations of the order Coleoptera were made through the installation of 12 Pitfall traps, formed by plastic containers of 750 mL filled with 4% formaldehyde solution in 2/3 of its volume, which remained in the field for 7 days. After their removal, the traps were transferred to the laboratory and collected coleoptera classified at the family taxonomic level using a stereoscopic microscope and dichotomous classification keys. The data obtained were analyzed for abundance, richness and Shannon diversity indexes, Simpson dominance index, Pielou equitability and Margalef richness. Data were also submitted to multivariate analysis of main components. As a result, the families Scarabaeidae Staphylinidae and Bostrichidae stand out as numerically more representative. The area with less waterlogging presents greater wealth, abundance and diversity in relation to the more soaked areas. Due to the analysis of the main components, there were no groups related to the area with a more soaked, indicating the preference of Coleoptera families for areas of soil with better drainage. KEYWORDS: Beetles, Gleysol, hydromorphism, diversity, edaphic fauna. 1 | INTRODUÇÃO Os solos hidromórficos possuem uso restrito para muitas atividades (SANTOS et al., 2013), pois apresentam características específicas como sua saturação por água permanente ou em determinados períodos do ano, sob condições de baixa drenagem (LEPSCH, 2011). A condição de saturação por água na maior parte do tempo gera déficit de oxigênio, ocasionando menor eficiência no processo de decomposição da matéria orgânica, formando-se assim, um horizonte superficial escuro e rico em matéria orgânica sobre uma camada de coloração acinzentada, através do processo pedogenético de gleização (REICHERT, 2007; COUTO; OLIVEIRA, 2010; USDA, 2010). Solos com estas características sofrem influência direta do abastecimento do lençol freático, podendo sofrer oscilações em sua saturação de água (FANNING; FANNING, 1989). São solos que frequentemente estão associados à ocorrência de vegetação hidrófila, em razão da pouca disponibilidade de oxigênio na zona de crescimento radicular (SOUZA, 2015). Os solos hidromórficos por sua vez são considerados um recurso natural de grande importância econômica e social, associando-se a ecossistemas intermediários entre terras de alto relevo e os ecossistemas aquáticos, apresentando importância ambiental, pela conservação dos recursos hídricos e pela manutenção da fauna e da
- 84. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 9 73 flora (SILVA NETO, 2010). No entanto, os estudos relacionados a solos hidromórficos concentram-se nas características químicas e físicas (CORINGA et al., 2012; NASCIMENTO; LANI; ZOFFOLI, 2013; PINHEIRO et al., 2016) com grande escassez em relação as suas características biológicas, apesar de sua grande importância no sistema solo. Desta forma é fundamental que se busquem indicadores sensíveis que melhor expressem a qualidade do solo, a fim de auxiliar no planejamento de atividades que impliquem na utilização deste recurso, com menor impacto possível sobre os ecossistemas (SILVA NETO, 2010). O conhecimento dos organismos do solo, constitui-se como uma importante ferramenta para avaliação da qualidade do solo e do ambiente, através de sua alta sensibilidade (BARETTA et al., 2011), principalmente pela existência de uma íntima associação entre os invertebrados com os processos no compartimento serapilheira- solo, na qual possui reflexo direto na composição da comunidade do mesmo, sendo indicativo do padrão de funcionamento do ecossistema (CORREIA; PINHEIRO, 1999). Os organismos da fauna edáfica podem ser classificados de diversas formas, sendo elas de acordo com o tempo em que vivem no solo, o habitat em que se encontram, conforme sua mobilidade, seu hábito alimentar e também através da função que é desempenhada no solo (AQUINO; CORREIA, 2005), ou pode ser classificado também de acordo com seu tamanho corporal (SWIFT et al., 1979), em que os grupos que pertencem a biota do solo podem ser denominados em: microfauna a qual é representada por organismos microscópicos, com diâmetro corporal menor que 0,2 mm que exercem funções essenciais na ciclagem, decomposição de serapilheira, regulação das comunidades de micro-organismos, colaborando na transformação do material orgânico no estoque de carbono e nutrientes (BROWN et al., 2006; FILGUEIRAS et al., 2017). A mesofauna refere-se a organismos com diâmetro corporal entre 0,2 e 2,0 mm, exercendo função detritívora, contribuindo para a decomposição da matéria orgânica, influenciando diretamente na fertilidade do solo, além de realizar o controle das populações de outros organismos (BERNARDI et al., 2017). A macrofauna que por sua vez, possui diâmetro corporal entre 2,0 e 20 mm agindo principalmente nas modificaçõesdaspropriedadesfísicasequímicasdosolo,destacando-seespecialmente pela criação de estruturas biogênicas como galerias, ninhos, câmaras e formação de coprólitos além da quebra da matéria vegetal em fragmentos menores facilitando a disponibilidade desses recursos para outros organismos (BROWN et al., 2001; MELO et al, 2009; KORASAKI et al, 2017). Portanto, estudar as modificações ocasionadas nas comunidades do solo pode ajudar a compreender e medir as consequências das perturbações impostas na paisagem (POMPEO et al., 2016). Neste contexto, dentre os organismos da fauna edáfica, destaca-se a organismos pertencentes a ordem Coleoptera, a qual está intimamente associados aos processos de decomposição da matéria orgânica, ciclagem de nutrientes, regulação da população
- 85. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 9 74 de outros organismos além de interferir nas propriedades físicas do solo (KORASAKI et al, 2017). Os coleópteros estão diretamente relacionados à bioturbação do solo, fazendo parte do grupo de organismos denominados “engenheiros do solo”, juntamente com as minhocas, cupins e formigas (KORASAKI et al., 2013). Os besouros apresentam hábitos alimentares semelhantes a nível taxonômico de família, sendo organizados em grupos tróficos compreendendo todas as espécies que concentram sua alimentação num mesmo recurso, independentemente do ecossistema pertencente e do seu nível trófico. Sua divisão é organizada em cinco grupos tróficos os herbívoros, os algívoros, fungívoros, detritívoros e carnívoros (MARINONI, 2001). No entanto, muitos grupos desta ordem têm sido utilizado como bioindicadores da qualidade do solo ou até mesmo indicar a degradação em que o ambiente se encontra (SILVA; SILVA, 2011). Portanto, o estudo destes organismos e de sua relação com ecossistema é de extrema importância em ambientes com características como as dos solos hidromórficos. Neste sentido, este trabalho tem por objetivo avaliar a diversidade da ordem Coleoptera em solos hidromórficos na microbacia do Jirau Alto no município de Dois Vizinhos-PR. 2 | MATERIAL E MÉTODOS O estudo foi realizado no município de Dois Vizinhos-PR, em três áreas caracterizadas como solo hidromórfico próximas à PR-180, sentido ao município de Francisco Beltrão, inseridas em propriedades rurais cujas áreas adjacentes são utilizadas para plantio de culturas anuais. O clima é classificado por Köppen-Geiger como Cfa (subtropical úmido) e apresenta média aproximada de 2000 mm anuais para a precipitação (ALVARES et al., 2013). A vegetação original da região é de Floresta Ombrófila Mista em transição para Floresta Estacional Semidecidual. As áreas de solo hidromórfico apresentam graus de inundação variáveis, sendo de caráter permanentemente encharcado (A1), de caráter menos encharcado, pois verifica-se a deposição de solo erodido das áreas adjacentes, formando camada de solo mais seco na superfície (A2) e de caráter intermediário (A3), com manchas de solo mais seco e outras de solo permanentemente encharcado. A coleta foi realizada mediante instalação de doze armadilhas de queda do tipo Pitfall- Traps em cada uma das áreas, com espaçamento mínimo de 10m, confeccionadas com recipientes plásticos com capacidade de 750ml enterrados ao nível do solo, preenchidos em 2/3 de seu volume com solução conservante de etanol 70% e três gotas de detergente a fim de diminuir a tensão superficial (MOLDENKE, 1994; SILVA; AMARAL, 2013), cobertas por pratos plásticos apoiados sobre palitos de madeira. As armadilhas foram instaladas no mês de janeiro de 2018 e mantidas em campo por sete dias, sendo então recolhidas e transportadas ao laboratório, lavadas em peneira de malha fina em água corrente, triadas e armazenadas individualmente
- 86. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 9 75 em solução de etanol 70%. Os indivíduos amostrados foram identificados com auxílio de microscópio estereoscópico ao nível taxonômico de família, com auxílio de material bibliográfico (FUJIHARA et al., 2011). Para análise da diversidade dos besouros, utilizou-se o software Past versão 3.21 (HAMMER, 2018), sendo a comunidade avaliada quanto à riqueza de grupos e pelos índices de diversidade de Shannon (H), dominância de Simpson (D), equitabilidade de Pielou (J) e riqueza de Margalef. Os dados foram ainda submetidos a análise pelo software PC-ORD versão 6.0 (MCCUNE; MEFFORD, 2011) para realização da análise de componentes principais (PCA), tendo por objetivo a melhor visualização da distribuição dos organismos nas diferentes áreas. 3 | RESULTADOS E DISCUSSÃO Durante o estudo foram coletados 891 indivíduos da ordem Coleoptera, distribuídos em 7 famílias, com maior riqueza nas áreas A2 e A3 (6 famílias) e A1 (5 famílias) (Tabela 1). A maior abundância foi observada na área A2 com 476 indivíduos, seguido de A3 com 289 e A1 com 126 indivíduos. A riqueza e abundância foram maiores na área mais drenada, seguida da área com drenagem intermediária, enquanto a área permanentemente alagada apresenta os menores valores, indicando que mesmo ocupando praticamente todos os ambientes e possuindo diversos hábitos alimentares (AUDINO et al., 2007), a condição de hidromorfismo pode ser um fator determinante no estabelecimento destes organismos. Em relação às famílias amostradas, destacam-se Scarabaeidae Staphylinidae e Bostrichidae como numericamente mais representativas nas três áreas amostradas, embora seja evidente maior ocorrência dos três grupos na área A2, seguida de A3, ambas mais drenadas em relação a A1. As famílias Chrysomelidae, Carabidae Curculionidae, Cicindelidae, foram menos representativas numericamente, sendo Cincilinidae de ocorrência exclusiva na área A2 e, Chrysomelidae exclusiva das áreas A2 e A3, mais drenadas. Família A1 A2 A3 Bostrichidae 54 101 74 Carabidae 1 0 4 Cicindelidae 0 3 0 Chrysomelidae 0 1 1 Curculionidae 1 1 13 Scarabaeidae 17 204 115 Staphylinidae 53 166 82 Abundância 126 476 289 Riqueza de grupos 5 6 6 Tabela 1 - Famílias e abundância de indivíduos da ordem Coleoptera coletados nas áreas de solos hidromórficos.
- 87. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 9 76 Nota: A1- Permanentemente alagado, A2- solo bem drenado, A3- drenagem intermediária. Fonte: Os autores, 2018. O fato de indivíduos pertencentes a uma família serem predominantes em relação a outras pode incluir fatores como a disponibilidade trófica do ambiente que tendem a favorecer uma ou outra família (MARINONI; GANHO, 2003). Resultados semelhantes foram obtidos por Petroni (2008) e Teixeira et al. (2009), em fragmentos florestais onde verificaram a predominância das famílias Scarabaeidae Nitidulidae, Staphylinidae e Curculionidae em ambos estudos, demonstrando a predominância de algumas famílias em relação as outras. A família Scarabaeidae, predominante nas três áreas coletadas (37,71%), serve como indicador ecológico por responder às diferenças estruturais entre ambientes (AZEVEDO et al., 2011). Por apresentar vasta diversidades de grupos, indivíduos dessa família podem apresentar hábito coprófago, necrófago ou generalistas, sendo encontrados em áreas abertas embora apresentem preferência por ecossistemas florestais por estar intimamente ligado aos recursos de sobrevivência, repercutindo em maior abundância e diversidade nesses ambientes (DA SILVA et al., 2008). Os besouros escarabeídeos são importantes em estudos de fragmentação vegetal, pois se alimentam de fezes e carcaças dos vertebrados, apresentam hábito detritívoro (THOMANZINI; THOMANZINI, 2000; PINHEIRO et al., 2017) e, dentre os diversos grupos, podem ser escavadores, roladores ou ainda residentes do recurso alimentar (DA SILVA et al., 2008). Tais características tornam sua presença importante em ambientes de solo hidromórfico com elevada concentração de matéria orgânica, pois promovem a remoção e reentrada de matéria orgânica no solo, auxiliando na reciclagem de nutrientes, melhorando a aeração do solo, e ainda podem atuar na regulação de populações de outros artrópodes, inclusive pragas nos ecosssistemas (NICHOLS et al., 2008; SLADE et al., 2011). Os representantes da família Staphylinidae, os quais representam neste estudo 33,78% dos coleópteros amostrados, vivem na matéria orgânica vegetal ou animal, apresentando forte relação com este substrato, como demostrado em outros trabalhos (MUELLER et al., 2016), sendo também importantes agentes de controle biológico uma vez que se alimentam de insetos e pequenos vertebrados (AUDINO et a., 2007). Relacionados a ambientes mais complexos e naturais, como florestas nativas, são sensíveis a alteração microclimática, pois a temperatura e a umidade do solo são fatores que regulam sua distribuição (GARLET et al., 2015), podendo ser utilizados como biondicadores de alteração antrópica (AUDINO et al., 2007). As condições favoráveis para a sobrevivência desses indivíduos foram mais pronunciadas nas áreas A2 e A3, indicando sensibilidade às condições ambientais impostas na A1 associadas ao seu estado permanentemente encharcado ou ainda por apresentar elevado grau de alteração em relação à vegetação, tendo em vista o maior nível de antropização
- 88. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 9 77 encontrado. Indivíduos da família Bostrichidae possuem hábito xilófago, são considerados como pragas primárias de grãos e também como praga em áreas de estoque de madeira, formando galerias que inviabilizam seu uso (LORINI et al., 2009; LUNZ et al., 2010), validando sua presença pela vasta quantidade de troncos presentes nas áreas de estudo, estando muitos deles em estado avançado de degradação. Estes organismos não apresentam restrições quanto às condições climáticas, sendo encontrados até mesmo em ambientes de temperaturas extremas e períodos de seca (LORINI et al., 2009; ROCHA et al., 2011), entretanto pode-se observar no presente estudo maior preferência por ambientes de melhor drenagem, como a área A2, que indicou maior abundância. Por apresentar hábito de maior ocorrência em alturas acima de 10 m do nível do solo (PERES FILHO et al., 2012), os indivíduos pertencentes a esta família não apresentaram limitação de sobrevivência em áreas de solos hidromórficos, tendo sua locomoção facilitada pela vegetação arbustiva e arborícola presente em todos os locais de estudo. Para o índice de dominância de Simpson (Tabela 2) verifica-se que a área A1 apresentou resultados superiores as áreas A2 e A3. Este resultado indica a dominância de um ou mais grupos em relação aos demais, destacando-se a elevada ocorrência numérica de indivíduos em algumas famílias Scarabaeidae, Staphylinidae e Bostrichidae, bem como a ausência de grupos encontrados nas outras áreas. De acordo com o índice de diversidade de Shannon, a área A3 apresentou maior diversidade (1,29) quando comparado àA2 (1,12) eA1 (1,07), indicando a ocorrência de grupos específicos em ambientes de solo encharcado tendo em vista a maior restrição quanto aos recursos e nichos disponíveis, evidenciado pela maior dominância na área (0,38). Embora as áreas A3 e A2 apresentem a mesma riqueza de grupos, observa- se que a uniformidade para A3 foi superior (0,72), pois apresenta distribuição mais homogênea do número de indivíduos dentro de cada grupo em relação às demais áreas em que se observam grupos dominantes. Índices A1 A2 A3 Simpson (D) 0,38 0,35 0,31 Shannon (H) 1,07 1,12 1,29 Pielou (J) 0,67 0,62 0,72 Margalef 0,83 0,81 0,88 Tabela 2- Índice de Simpson, diversidade de Shannon, Riqueza de Margalef e equitabilidade de Pielou referente a ordem Coleoptera em áreas de solos hidromórficos. Fonte: Os autores, 2018. Nota: A1- Permanentemente alagado, A2- solo bem drenado, A3- drenagem intermediária. Embora o índice de Margalef tenha sido superior na área A3, considera-se como baixa riqueza os valores menores que 2,0 e alta riqueza maiores que 5,0 (RICHTER et al., 2012). Desta forma, as áreas de estudo são classificadas como áreas de baixa
- 89. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 9 78 riqueza, podendo este resultado estar associado às condições de baixa drenagem dos locais. Outro aspecto a ser destacado e apontado por Pires (1995) está associado à fragmentação e o isolamento das áreas naturais dificultando o deslocamento das espécies, aproximando estas áreas da situação de ilhas. A análise de componentes principais (PCA) (Figura 1) indica a separação das áreas de estudo em relação à distribuição das famílias. A Componente Principal 1 (CP1) explica 66,02% da variação dos dados, enquanto a CP2 explica 33,98% da variação. Verifica-se que não houve correlação de nenhuma família com a área A1. As famílias Bostrichidae, Cicindelidae, Chrysomelidae, Scarabaeidae e Staphylinidae por sua vez, estão correlacionadas com a área A2, mais drenada. A família dos crisomelídeos, quando em ambientes naturais, servem como controle biológico de plantas invasoras pela transmissão de vírus, tendo em vista seu hábito alimentar fitófago (AUDINO et al., 2007), enquanto indivíduos de Cicindelidae, conhecidos como besouro-tigre, podem agir como predadores de anuros (ODA et al., 2014), os quais podem ser encontrados nos locais de estudo. Figura 1 – Análise de Componentes Principais referente às áreas de solo hidromórfico e distribuição da comunidade de besouros. Fonte: Os autores, 2018. Nota: A1- Permanentemente alagado, A2- solo bem drenado, A3- drenagem intermediária. Cicin- Cicindelidae, Staphy- Staphylinidae, Bostri- Bostrichidae, Scara- Scarabaeidae, Chryso- Chrysomelidae, Curcu- Curculionidae, Cara- Carabidae. As famílias Carabidae e Curculionidae apresentam relação com a área intermediária A3. Embora os curculionídeos apresentem preferência por ambientes campestres, sua relação com este local pode ser explicada pela existência de grupos aquáticos dentro desta família, bem como pelo fato de alimentarem-se de plantas (AUDINO et al., 2007), estando este recurso disponível para seu desenvolvimento.
- 90. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 9 79 4 | CONSIDERAÇÕES FINAIS As áreasA2 eA3 apresentam maior riqueza de grupos e abundância de indivíduos em relação à área A1, possivelmente pela condição de encharcamento permanente do solo. Contudo, a dominância de grupos na área A2, reduz a equitabilidade do local. Áreas de solo com menor drenagem apresentam condições aparentemente desfavoráveis em relação ao estabelecimento de algumas famílias de coleópteros bem como menor densidade no número de indivíduos nas famílias existentes, não sendo constatados pela análise de componentes principais grupos diretamente relacionados à área encharcada. REFERÊNCIAS ALVARES, C. A. et al. Koppen’s`climate classification map for Brazil. Meteorologische Zeitschrift, Stuttgart, n.22, p. 711-728, 2013. AQUINO, A. M.; MENEZES, E. L. A.; QUEIROZ, J.M. Recomendações para coleta de artrópodes terrestres por armadilhas de queda (“Pitfall-Traps”). Embrapa Agrobiologia, Seropédica, Brasil, 2006. Circular técnica 18: 8p. AUDINO, L. D. et al. Identificação dos coleópteros (Insecta: Coleoptera) das regiões de Palmas (município de Bagé) e Santa Barbinha (município de Caçapava do Sul), RS. Bagé: Embrapa Pecuária Sul, 2007. 92p. (Documentos; 70). AZEVEDO, F. R. de. et al. Composição da entomofauna da Floresta Nacional do Araripe em diferentes vegetações e estações do ano. Ceres, v. 58, n. 6, p. 740-748, 2011. BARETTA, D. et al. Fauna edáfica e qualidade do solo. In: Tópicos em Ciência do Solo. Viçosa: Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, v. 7, p. 119-170, 2011. BERNARDI, L. F. de O. et al. Mesofauna. TOMA, M. A.; BOAS, R. C. V.; MOREIRA, F. M. de (Ed.). Conhecendo a vida do solo. v.3. Editora UFLA: Lavras, 2017. 32p. BROWN, George G. et al. Diversidad y rol funcional de la macrofauna edáfica en los ecosistemas tropicales mexicanos. Acta Zoológica Mexicana (nueva serie), n. Es1, p. 79-110, 2001. BROWN, G.G., et al. Biodiversity and function of soil animals in Brazilian agroforestry systems. In: Sistema Agroflorestais: bases científicas para o desenvolvimento sustentável. Campos dos Goytacazes, RJ – Universidade Estadual do Norte Fluminense - UENF, 2006. CORINGA, E. de A. O. et al. Atributos de solos hidromórficos no Pantanal Norte Matogrossense. Acta Amazonica, v. 42, n. 1, p. 19- 28, 2012. CORREIA, M. E. F.; PINHEIRO, L. B. A. Monitoramento da fauna de solo sob diferentes coberturas vegetais em um sistema integrado de produção agroecológica, Seropédica (RJ). Embrapa Agrobiologia-Circular Técnica (INFOTECA-E), 1999. COUTO, E. G.; OLIVEIRA, V. The soil diversity of the Pantanal. In: JUNK, W. J. et al. (Eds). The Pantanal of Mato Grosso: Ecology, biodiversity and sustainable management of a large neotropical seasonall wetland. Moscow: Pensoft Publishers, 2010. p. 71-102.
- 91. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 9 80 DA SILVA, P. G. et al. Besouros copro-necrófagos (Coleoptera: Scarabeidae strictu sensu) coletados em ecótono natural de campo e mata em Bagé, RS. Ciência e Natura, Santa Maria, v. 30, n. 2, p.71-91, 2008. FANNING, D.S.; FANNING, C.B.F. Mineral and organic matter transformations. In: FANNING, D.S.; FANNING, C.B.F., (Ed.). Soil morphology, genesis and classification. New York: John Wiley & Sons, 1989. p.29-41. FILGUEIRAS, C.C.; FREIRE, E. S.; GALO, T. S.; TOMA, M. A. Microfauna. TOMA, M. A.; BOAS, R. C. V.; MOREIRA, F. M. de (Ed.). Conhecendo a vida do solo. v.2. Editora UFLA: Lavras, 2017. 32p. FUJIHARA, R. T. et al. Insetos de importância econômica: guia ilustrado para identificação de famílias. Editora FEPAF. 2011. GARLET J. et al. Fauna de Coleoptera edáfica em eucalipto sob diferentes sistemas de controle químico da matocompetição. Floresta e Ambiente. v. 22, p. 239-248, 2015. HAMMER, Ø. PAST: Paleontological Statistics Version 3.21 Reference Manual. Natural History Museum: University of Oslo, 1999-2018. 264p. KORASAKI, V. et al. Macrofauna. In: TOMA, M. A.; BOAS, R. C. V.; MOREIRA, F. M. de (Ed.). Conhecendo a vida do solo. v.2. Editora UFLA: Lavras, 2017. 32p. LEPSCH, I.F. 19 lições de pedologia. São Paulo: Oficina de Textos, 2011. LORINI, I. et al. Principais pragas e métodos de controle em sementes durante o armazenamento. Informativo Abrates, v. 19, n. 1, p.21-28, 2009. LUNZ, A. M. et al. Monitoramento de Sinoxylon conigerum (Gerstäcker, 1885) (Coleoptera: Bostrichidae) em Madeira de Teca (Tectona grandis L. f.) no Estado do Pará. Belém: Embrapa Amazônia Oriental, 2010. 7p. (Comunicado Técnico, 224). MARINONI, R. C. Os grupos tróficos em Coleoptera The trophic groups in Coleoptera. Revista brasileira de Zoologia, v. 18, n. 1, p. 205-224, 2001. MARINONI, R.C.; GANHO, N.G. Fauna de Coleoptera no Parque Estadual de Vila Velha, Ponta Grossa, Brasil. Abundância e Riqueza das famílias capturadas através de armadilhas de malaise. Revista Brasileira de Zoologia, Curitiba, v.20 n. 4, p. 727-736, 2003. MCCUNE, B.; MEFFORD, M. J. PC-ORD: multivariate analysis of ecological data.version 6.0. Gleneden Beach, Oregon, U.S.A.: MjM Software, 2011. MELO, F. V. et al. A importância da meso e macrofauna do solo na fertilidade e como biondicadores. Boletim Informativo da SBCS| janeiro-abril, p. 39, 2009. MOLDENKE, A. R. Arthropods. In: Methods of soil analysis: microbiological and biochemical properties. Part 2. Madison: SSSA, 1994. p. 517-54. MUELLER, K. E. et al. Light, earthworms, and soil resources as predictors of diversity of 10 soil invertebrate groups across monocultures of 14 tree species. Soil Biology and Biochemistry, v. 92, p. 184-198, 2016. NASCIMENTO, P. C.; LANI, J. L.; ZOFFOLI, H. J. O. Caracterização, classificação e gênese de solos hidromórficos em regiões litorâneas do Estado do Espírito Santo. Científica, v. 41, n. 1, p. 82-93, 2013.
- 92. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 9 81 NICHOLS, E. et al. Ecological functions and ecosystem services provided by Scarabaeinae dung beetles. Biological Conservation, v. 141, n. 6, p. 1461-1474, 2008. ODA, F. H. et al. Tetracha brasiliensis brasiliensis (Kirky, 1818) (Coleoptera: Cicindelidae) as a predator of newly-metamorphosed anurans. Entomotropica, v. 29, n. 3, p.183-186, 2014. PERES FILHO, O. et al. Altura de voo de bostriquídeos (Coleoptera: Bostrichidae) coletados em Floresta Tropical Semidecídua, Mato Grosso. Pesquisa Florestal Brasileira, Colombo, v. 32, n. 6, p.101-107, 2012. PETRONI, D.M. Diversidade de famílias de Coleoptera em diferentes fragmentos florestais no município de Londrina, PR – Brasil. Dissertação (Mestrado em Ciências Biológicas) – Universidade Estadual de Londrina. 2008. PIRES, J. S. Análise ambiental voltada ao planejamento e gerenciamento do ambiente rural: abordagem metodológica aplicada ao município de Luiz Antonio - SP. Tese de Doutorado. São Carlos, Universidade Federal de São Carlos. 1995 PINHEIRO, H. S. K. et al. Ferramentas de pedometria para caracterização da composição granulométrica de perfis de solos hidromórficos. Pesquisa Agropecuária Brasileira, v. 51, n. 9, p. 1326-1338, 2016. PINHEIRO, A. et al. Ocorrência de escarabeíneos (coleoptera: scarabaeidae, scarabaeinae) em 2 tipos de armadilhas iscadas com etanol em área de transição cerrado sensu stricto & pantanal, Mato Grosso. Biodiversidade, v. 16, n. 3, 2017. POMPEO, P. N. et al. Diversidade de Coleoptera (Arthropoda: Insecta) e atributos edáficos em sistemas de uso do solo no Planalto Catarinense. Scientia agraria, v. 17, n. 1, p. 16-28, 2016. REICHERT, J. M. Fundamentos da ciência do solo. Santa Maria, 169 p. 2007 RICHTER, C. et al. Levantamento da arborização urbana de Mata/RS. Revista da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana, v.7, n.3, p.84-92, 2012. ROCHA, J. R. M. da. et al. Coleópteros (Bostrichidae, Platypodidae e Scolytidae) em um fragmento de cerrado da baixada Cuiabana. Revista Ambiência, v. 7, n. 1, p. 89-101, 2011. SANTOS, H. G. et al. Sistema Brasileiro de Classificação de Solos. 3 ed. revista e ampliada. Brasília, DF: EMBRAPA, 2013. SILVA, P. G. da.; SILVA, F. C. G. da. Besouros (Insecta: Coleoptera) utilizados como bioindicadores. Revista Congrega URCAMP (CD-Rom), v. 5, n. 1, p. 1-16, 2011. SILVA, L. N.; AMARAL, A. A. Amostragem da mesofauna e macrofauna de solo com armadilha de queda. Revista Verde de Agroecologia e Desenvolvimento Sustentável, Mossoró, v. 8, n. 5, p. 108- 115, 2013. SILVA NETO, L. de. F. da. Pedogênese e matéria orgânica de solos hidromórficos da região metropolitana de Porto Alegre. 2010. 117f. tese (doutorado) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2010 SLADE, E. M.; MANN, D. J.; LEWIS, O. T. Biodiversity and ecosystem function of tropical forest dung beetles under contrasting logging regimes. Biological Conservation, v. 144, n. 1, p. 166-174, 2011.
- 93. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 9 82 SOUZA, L. T. Estudo da gênese e características de solos hidromórficos com horizontes endurecidos em topos na Serra do Timbó, Bahia. 2015. 84 f. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal da Bahia. Instituto de Geociências, Salvador, 2015. SWIFT, M. J.; HEAL, O. W.; ANDERSON, J. M. Decomposition in terrestrial ecosystems, Oxford, Blackwell, 1979, p. 372. TEIXEIRA, C. C. L.; HOFFMANN, M.; SILVA-FILHO, G. Comunidade de Coleoptera de solo em remanescente de Mata Atlântica no estado do Rio de Janeiro, Brasil. Biota Neotropica, v. 9, n. 4, p. 91, 2009. THOMANZINI, M.J.; THOMANZINI, A.P.B.W. A fragmentação florestal e a diversidade de insetos nas florestas tropicais úmidas. Embrapa Acre-Documentos (INFOTECA-E), 2000. UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE – USDA. 11 ed. Washington: Keys to Soil Taxonomy 2010. 345 p.
- 94. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 10 83 CAPÍTULO 10 doi CONTAMINAÇÃO DO SOLO E PLANTAS POR METAIS PESADOS ASSOCIADOS À ADUBAÇÃO ORGÂNICA Júlio César Ribeiro Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), Departamento de Solos, Seropédica - RJ Everaldo Zonta Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), Departamento de Solos, Seropédica - RJ Nelson Moura Brasil do Amaral Sobrinho Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), Departamento de Solos, Seropédica - RJ Adriano Portz Universidade Federal Fluminense (UFF), Departamento de Engenharia de Agronegócios, Campus Volta Redonda - RJ RESUMO: As atividades antrópicas e, dentre elas,aagricultura,têmcontribuídoparaoaumento da concentração de metais pesados em solos e plantas, e ampliado os riscos de contaminação em diversos níveis da cadeia trófica. Objetivou- se no presente trabalho realizar uma revisão de literatura sobre a contaminação do solo e plantas por metais pesados associados à adubação orgânica, visando avaliar a utilização de resíduos agroindustriais no meio agrícola e seu potencial como agente contaminante. A grande diversidade e disponibilidade de resíduos agroindustriais tem impulsionado cada vez mais sua utilização na agricultura como adubos orgânicos e/ou condicionadores do solo. Entretanto, o conhecimento de sua origem e composição, assim como das condições físico- químicas e biológicas do solo é imprescindível para sua utilização e manejo adequado, sendo o monitoramento periódico do solo agrícola sob aplicação de tais resíduos fundamental para a manutenção de sua capacidade produtiva e nutrição adequada das plantas a médio e longo prazo. PALAVRAS-CHAVE: resíduo orgânico agroindustrial, matéria orgânica, elementos- traço, contaminação do solo, metais em plantas. ABSTRACT: Anthropogenic activities, including agriculture, have contributed to an increase in the concentration of heavy metals in soils and plants and increased the risk of contamination at various levels of the food chain. The objective of this work was to carry out a literature review on the contamination of soil and plants by heavy metals associated with organic fertilization, aiming to evaluate the use of agroindustrial residues in the agricultural environment and its potential as contaminating agent. The wide diversity and availability of agroindustrial wastes has increasingly boosted its use in agriculture as organic fertilizers and / or soil conditioners. However, the knowledge of its origin and composition, as well as of the physical-chemical and biological conditions of the soil is essential
- 95. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 10 84 for its proper use and management, being the periodic monitoring of the agricultural soil under the application of such wastes fundamental for the maintenance of its productive capacity and adequate plant nutrition in the medium and long term. KEYWORDS: agroindustrial organic residue, organic matter, trace elements, soil contamination, metals in plants. 1 | INTRODUÇÃO A contaminação pode ser compreendida pela presença de algum elemento ou de substâncias químicas, decorrentes de atividades antrópicas, em concentrações que restrinjam a utilização do recurso ambiental. É definida com base na avaliação de risco à saúde humana e bens a proteger, caracterizando-se como a contaminação pela presença considerável em relação às concentrações naturais de algum elemento ou substância que possa afetar o ecossistema. Dessa forma, compromete a funcionalidade e sustentabilidade do ecossistema, podendo se exemplificar, dentro dessa ótica, os metais pesados (ALLOWAY, 1995; BRAGA et al., 2002). Os nutrientes geralmente requeridos pelas plantas em maior quantidade tais como Ca, Mg, P e K são denominados de macronutrientes, enquanto outros nutrientes necessários em pequenas quantidades pelas plantas são denominados de micronutrientes. Alguns metais pesados como Cu, Fe, Mo, Mn, Ni e Zn são considerados micronutrientes imprescindíveis para o desenvolvimento das plantas, no entanto, podem ser tóxicos em concentrações elevadas. Outros, como o Cd, As, Cr, Bi, Sb, Hg e Pb não possuem uma função biológica conhecida, causando toxidez (GUILHERME et al., 2005). Constituintes de uma gama de enzimas celulares, os macro e micronutrientes mantém a estabilidade das membranas celulares, atendendo os critérios de essencialidade, onde em sua ausência as plantas não completam seu ciclo vital (MALAVOLTA, 1980). Metais pesados são geralmente classificados como poluentes ambientais, afetando o ar, a água e o solo, com consequente transferência para as plantas e animais atingindo toda a cadeia alimentar (MALAVOLTA, 1994), isto por não serem biodegradáveis e acabarem se acumulando nos diferentes níveis tróficos. Provenientes da rocha matriz que sofre intenso processo de intemperismo como também pela mineralização de fragmentos de plantas, animais e microorganismos, os metais pesados são encontrados naturalmente em baixas concentrações nos solos sem atividade antrópica, não representado riscos aos seres humanos, plantas e animais (COSTA et al., 2010). No entanto, as atividades antrópicas e, dentre elas, a agricultura, vem se destacando pelo elevado potencial de contaminação do solo, plantas e corpos d’água. Isso devido a grande utilização de agroquímicos (fungicidas, inseticidas e fertilizantes), principalmente na agricultura convencional com a finalidade de correção do pH do solo, o suprimento de nutrientes, além da prevenção e controle
- 96. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 10 85 de pragas e doenças. Os agroquímicos utilizados não são suficientemente purificados durante o processo de manufatura, possuindo em sua composição metais pesados como princípio ativo ou como impurezas, associado à elevada persistência no solo, baixa a moderada solubilidade em água e alta adsorção à matéria orgânica do solo, levando à contaminação do solo, plantas e das águas (AMARAL SOBRINHO et al., 1992; AMARAL SOBRINHO et al., 1997). Outra potencial fonte de contaminação no processo agrícola é proveniente da utilização de resíduos orgânicos como fertilizantes e/ou condicionadores do solo, que dependendo de sua origem e composição podem contribuir vigorosamente para a adição de metais pesados nos solos (MARQUES et al., 2002). Desta forma, objetivou-se no presente trabalho realizar uma revisão de literatura sobre a contaminação do solo e plantas por metais pesados associados à adubação orgânica, visando avaliar a utilização de resíduos agroindustriais no meio agrícola e seu potencial como agente contaminante. 2 | METODOLOGIA A metodologia utilizada para este trabalho foi à revisão de literatura com base em publicações nacionais e internacionais sobre contaminação do solo e de plantas por metais pesados associados à adubação orgânica. Para que se pudesse identificar as principais formas de contaminação, assim como os resíduos orgânicos mais utilizados atualmente no meio agrícola com potencial de contaminação, foram avaliados trabalhos sobre o tema em questão, que abordavam palavras-chave como: resíduo orgânico, fertilizante orgânico, resíduo agroindustrial, reciclagem agrícola, compostagem, matéria orgânica, propriedades químicas do solo, ciclagem de nutrientes, elementos- traço, biodisponibilidade de metais, contaminação do solo, metais em plantas, fatores de acumulação, manejo da biomassa e mineralização de resíduos. 3 | RESULTADOS E DISCUSSÃO A disponibilidade de nutrientes e metais para as plantas esta estreitamente relacionada com a solubilidade do elemento na solução do solo, o que envolve processos ligados à matéria orgânica do solo, sendo essencial a sua adequada manutenção. Assim, a presença de matéria orgânica associada ao tipo e a composição do solo, óxidos e hidróxidos de Fe, Al e Mn, as características e as propriedades das substâncias orgânicas e inorgânicas presentes, o valor e as variações do pH, o potencial redox do solo e a especiação química do metal em questão são fatores que interferem na disponibilidade do elemento. Um solo com quantidade adequada de matéria orgânica apresenta características favoráveis ao desenvolvimento das plantas, contribuindo fortemente com a disponibilidade de nutrientes, retenção de água, complexação de elementos tóxicos,
- 97. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 10 86 além do equilíbrio químico, físico e biológico do mesmo. A matéria orgânica é um componente bastante sensível às condições ambientais e às mudanças nas práticas de manejo agrícola. Quando manejado inadequadamente, o solo é levado a perdas de matéria orgânica, acarretando em uma degradação progressiva de difícil recuperação, a qual influenciará na redução da produtividade das culturas e consequentemente na renda do produtor; por este motivo deve ser levada em consideração na avaliação do potencial produtivo do solo e na escolha das práticas de manejo a serem empregadas (SILVA et al., 2010). O termo “matéria orgânica do solo” (MOS) é muito abrangente, pois a matéria orgânica possui uma constituição heterogênea, a qual compreende diversos compostos constituídos de carbono orgânico, incluindo os microrganismos vivos e mortos, resíduos vegetais e animais parcialmente decompostos, produtos de sua decomposição e substâncias orgânicas microbiologicamente ou e/ou quimicamente alteradas (CUNHA et al., 2009; SILVA et al., 2010), que podem ser facilmente mineralizáveis ou altamente recalcitrantes permanecendo no solo por tempo indeterminado (BUYANOVSKY et al., 1994). De acordo com Wander (2004), a MOS pode ser classificada em: i) MOS lábil ou ativa - trata-se de material não protegido fisicamente com elevado teor de nutrientes e energia, com tempo de vida de dias até poucos anos, que contribui para a formação de macroagregados do solo. ii) MOS intermediária ou pouco transformada - trata-se de material que pode estar fisicamente protegido, com tempo de vida de poucos anos até décadas. iii) MOS recalcitrante, passiva, estável ou inerte - trata-se de material associado aos minerais do solo, bioquimicamente estável, com tempo de vida de décadas a séculos. Segundo Theng (1987) a MOS pode ser dividida em componente vivo e componente morto. O componente vivo é subdividido em três compartimentos, sendo eles: raízes, correspondendo de 5 a 10%; macrorganismos ou fauna, correspondendo de 15 a 30% e microorganismos, correspondendo de 60 a 80%. O componente morto da matéria orgânica do solo compreende 98% do carbono orgânico do solo podendo ser dividido em fração leve (matéria macrorgânica) e fração húmus do solo. A fração denominada húmus que constitui a MOS é considerada uma boa indicadora da qualidade e estrutura do solo, estando diretamente relacionado com a quantidade e distribuição de carbono orgânico (BRONICK; LAL, 2005). O húmus do solo pode ser dividido em dois grupos, sendo eles as substâncias húmicas e as substâncias não húmicas. As substâncias não húmicas, são constituídas por ácidos graxos, aminoácidos, proteínas e outros compostos orgânicos com características químicas e físicas definidas. As substâncias húmicas, apresentam grande reatividade em comparação com os demais componentes do solo. São originadas pelo processo de oxidação e subsequente polimerização da matéria
- 98. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 10 87 orgânica, e compostas por uma mistura heterogênea de moléculas polidispersas com elevadas massas moleculares e grupos funcionais distintos, o que confere a capacidade de complexar diferentes espécies químicas, como espécies metálicas e compostos orgânicos (STEVENSON, 1994). As substâncias não húmicas, são mais susceptíveis à decomposição microbiana, sendo geralmente encontradas em forma dissolvida na solução do solo, que muitas vezes leva a impactos ambientais pela grande mobilidade, lixiviando metais pesados para águas subterrâneas (MARINARI et al., 2010; SILVA et al., 2010), ao passo que as substâncias húmicas são altamente resistentes à biodegradação, estando fortemente associadas à fase mineral do solo como complexos com grande estabilidade (IVANOV et al., 2009; SILVA et al., 2010), podendo ser separadas com base na solubilidade em meio aquoso como: i) Ácidos fúlvicos - fração solúvel em meios alcalinos e ácidos. ii) Ácidos húmicos - fração solúvel em meio alcalino e insolúvel em meio ácido (pH<2,0). iii) Humina - fração insolúvel tanto em meio alcalino como em meio ácido (qualquer condição de pH). As substâncias húmicas presentes na MOS estão relacionadas com importantes atributos e processos químicos, físicos e biológicos atuando nos efeitos sobre os nutrientes e metais do solo. A adição de matéria orgânica ao solo proporciona diversos efeitos condicionadores ao mesmo, por atuar na interação com argilominerais do solo; no tamponamento da acidez, mantendo o equilíbrio da solução do solo; promove aumento da CTC, devido a matéria orgânica apresentar estado amorfo, expondo uma superfície muito maior do que a argila, consequentemente, uma capacidade de troca muito superior a das argilas; melhora o condicionamento físico do solo, favorecendo a cimentação de partículas e consequente formação de agregados mais estáveis, melhorando a porosidade, retenção de água e redução de escoamentos superficiais; reduz a plasticidade e coesão, diminuindo a consistência plástica e pegajosidade principalmente em solos argilosos, favorecendo o desenvolvimento das raízes das plantas; atua no controle térmico, proporcionando a manutenção da temperatura do solo pela capacidade de reter água, reduzindo as oscilações de temperatura durante o dia; e complexação de metais pesados, como Fe, Zn, Mn, Cu e Co (CONCEIÇÃO et al., 2005; BASSO et al., 2008). O conteúdo de matéria orgânica na maioria dos solos minerais é inferior a 5%. Apesar de compor uma pequena quantidade, ela apresenta uma alta capacidade de interagir com outros componentes, alterando assim propriedades fundamentais para um bom funcionamento do solo e desenvolvimento das plantas (SILVA et al., 2010). Uma alternativa promissora para o fornecimento e manutenção da matéria orgânica do solo é a utilização de adubos orgânicos, os quais podem ser constituídos de resíduos de origem animal, vegetal, urbano ou agroindustrial com elevados teores de compostos orgânicos como lignina, celulose e carboidratos (MELLO; FERNANDES,
- 99. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 10 88 2000). Trani et al. (2013) classificam os adubos orgânicos como simples, quando adicionada apenas uma fonte orgânica; mistos, quando adicionadas duas ou mais fontes; compostos, quando a fonte orgânica passa por processo bioquímico natural ou controlado de compostagem; ou organominerais, resultantes da mistura ou combinações de adubos orgânicos e minerais. Uma gama variada de resíduos orgânicos utilizados como adubos são relatados na literatura. Mello; Fernandes (2000) citam diversos resíduos agropecuários comercializados com grande utilização como adubos orgânicos, dentre eles, a torta de mamona, farinha de ossos, chifres e cascos, esterco de curral, esterco de galinha, vinhaça e torta de filtro. Segundo a Associação Brasileira das Indústrias de Tecnologia em Nutrição Vegetal (ABISOLO) a geração de resíduos das principais culturas no Brasil (cana-de- açúcar, soja, milho e laranja) no ano de 2014 gerou aproximadamente 349 milhões de toneladas e mais de 603 milhões de metros cúbicos de efluentes advindos da geração da vinhaça de cana-de-açúcar. Ainda segundo a instituição no ano de 2015 a indústria de tecnologia em nutrição vegetal apresentou um faturamento de R$ 5,2 bilhões, sendo 4,1% desse valor proveniente da comercialização de adubos orgânicos, tendo em comparação ao ano de 2014 um aumento de 6% na comercialização de tais adubos (ABISOLO, 2016). Com relação à geração de resíduos no setor pecuário, a expectativa do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) é que até o ano de 2020 a produção nacional de carne de frango, bovina e suína venha suprir 48,1; 44,5 e 14,2% do mercado mundial, respectivamente. Aliado a isto está o aumento na produção de resíduos, os quais demandarão sistemas adequados para disposição e utilização, reduzindo riscos de contaminação ambiental (ABISOLO, 2016). O alto custo dos fertilizantes minerais associado a grande geração de resíduos orgânicos tem impulsionado a utilização dos resíduos como adubos orgânicos, os quais, se administrados corretamente, podem suprir parcial ou totalmente o uso de fertilizantes minerais (RODRIGUES et al., 2008). Segundo Mello; Fernandes (2000) a adubação orgânica diminui o gasto com adubos minerais, visto que a mesma tem como base o uso de dejetos que são insumos de baixo custo no meio rural e de alto retorno econômico para a agricultura. A título de exemplo, 10 toneladas de esterco fresco de bovinos correspondem a aproximadamente 50 kg de uréia, 50 kg de superfosfato triplo e 50 kg de cloreto de potássio. Os adubos orgânicos estão sendo utilizados cada vez mais na produção agrícola, por serem fontes de nutrientes e por beneficiarem propriedades físico-químicas e biológicas do solo, possibilitando variada disponibilidade de nutrientes. Comumente apresentam nutrientes na forma orgânica, necessitando, ainda, ser mineralizados para a disposição na solução do solo para que a maioria das plantas possa absorvê-los (MIYASAKA et al., 1997).
- 100. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 10 89 O processo de mineralização do material orgânico adicionado ao solo pode ocorrer a curto ou longo prazo, estando intimamente relacionado com a sua relação C/N, onde um material orgânico com baixa relação C/N apresenta uma degradação rápida, implicando em maior quantidade de N mineralizado; enquanto um material orgânico com elevada relação C/N apresenta uma lenta degradação, podendo ocorrer à deficiência de N disponível em decorrência a grande absorção pelos microrganismos, o qual só retorna ao sistema após a decomposição do resíduo adicionado (MELLO; FERNANDES, 2000). Os adubos orgânicos de origem animal apresentam, geralmente, mineralização mais acelerada do que adubos orgânicos de origem vegetal, quando submetidos às mesmas condições de umidade e temperatura, isso devido sua menor relação C/N (TRANI et al., 2013). Uma das vantagens da mineralização mais lenta da maioria dos adubos orgânicos, principalmente de origem vegetal, é a disponibilização gradativa de nutrientes, evitando perdas em períodos em que a planta não os necessita. Não obstante dos adubos minerais que em grande maioria possuem metais pesados em sua constituição provenientes do processo de manufatura, os adubos orgânicos também podem apresentar metais pesados dependendo de sua origem, como por exemplo, estercos de origem animal podem fornecer metais pesados ao solo, procedentes, sobretudo, de suplementos usados geralmente em demasia em sua alimentação (MIYASAKA et al., 1997). Segundo Lake (1987), um determinado resíduo orgânico não apresenta potencial de contaminação quando a presença de metais é menor ou igual ao teor do mesmo metal no solo. Contudo, cuidados redobrados devem ser tomados com resíduos orgânicos, nos quais a matéria orgânica não foi totalmente mineralizada, podendo aumentar os riscos de contaminação de acordo com as características do solo. O uso de resíduos orgânicos previamente degradados por meio de processo de compostagem proporciona uma dinâmica diferenciada ao solo comparado à utilização dos resíduos em estado natural, isso devido o composto apresentar uma matéria orgânica decomposta e estabilizada (KIEHL, 1985). O processo de compostagem e sua maturidade final estão relacionados com a disponibilidade dos metais, visto que em tal processo o teor de metais pode aumentar em decorrência da perda de peso causada pela mineralização do resíduo. Entretanto, a disponibilidade da maioria dos metais pesados é reduzida em virtude da complexação pelas substâncias húmicas (GARCÍA et al., 1991). As plantas estão vulneráveis a absorção de metais introduzidos por meio da utilização de adubos orgânicos, dado que os mesmos se acumulam majoritariamente na camada superficial do solo, onde está localizada a maior parte do sistema radicular das plantas, viabilizando a absorção pelas mesmas (STIGLIANI, 1988). Na Tabela 1, pode ser visualizada a composição de alguns resíduos orgânicos mais comercializados e utilizados na agricultura segundo Raij et al. (1996) e Trani; Trani (2011).
- 101. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 10 90 Resíduos orgânicos C/N P K Ca B Cu Fe Mn Zn Cd Ni Pb ------ % ------- ----------------------- mg kg-¹ ----------------------- Esterco bovino fresco 16 1,6 18,0 0,5 15 16 2100 276 87 - 2 2 Esterco bovino curtido 21 4,1 3,8 3,0 24 38 3512 335 329 - 2 1 Esterco (cama) de frango de corte 22 2,4 2,7 2,3 36 93 1300 302 228 - - - Esterco de galinha 11 4,8 2,4 5,1 27 230 3200 547 494 2 2 17 Esterco suíno 10 4,1 2,9 3,5 16 937 3700 484 673 - 2 3 Esterco equino 25 1,3 1,7 1,1 10 22 2732 226 85 - - - Casca de café 28 0,3 3,6 0,4 33 18 150 30 70 - - - Farinha de ossos 4 27,3 4,3 23,2 0,4 2 11 2 18 - - - Farinha de casco e chifres bovino 3 0,9 4,2 0,3 0,9 12 731 23 115 - - - Ensilado de peixes 5 6,4 0,8 10,0 - 45 552 400 51 - - - Composto de lixo* 27 0,8 0,7 1,9 3 181 8300 - 432 11 25 111 Lodo de esgoto* 11 3,6 0,4 3,2 37 870 3600 408 1800 - 362 360 Vinhaça in natura 17 0,4 8,0 2,0 100 144 13 60 - - - Torta de filtro 21 1,7 0,3 4,6 11 119 22189 576 143 - - - Torta de mamona 9 1,8 1,6 2,0 30 80 1423 55 141 - - - Palhada de milho 46 0,4 3,3 0,4 16 10 120 110 25 - - - Tabela 1 - Composição de resíduos orgânicos de origem animal, vegetal e agroindustrial com base na matéria seca. * Composto de lixo e lodo de esgoto são de uso proibido em hortaliças, raízes e tubérculos - Resolução CONAMA 375. Fonte: Adaptado de Raij et al. (1996) e Trani; Trani (2011). Observa-se que uma gama variada de resíduos orgânicos podem ser adicionados ao solo com a finalidade de melhorar suas características físico-químicas e biológicas. Entretanto, simultaneamente ao fornecimento do material orgânico ao solo, podem ser disponibilizados metais pesados presentes em tais resíduos (COSTA et al., 2010). Nota-se ainda, que a maior parte dos resíduos utilizados apresentam teores consideráveis de metais pesados considerados essenciais ao desenvolvimento das plantas como Cu, Fe, Mn, Ni e Zn, que, no entanto, podem ser tóxicos em concentrações elevadas; além de apresentarem em sua composição Cd e Pb, metais que não possuem uma função biológica conhecida, causando toxidez as plantas e seres humanos. Isso chama a atenção para a necessidade de redobrar os cuidados relacionados à quantidade e frequência de aplicação de resíduos orgânicos em uma determinada área, levando sempre em consideração a capacidade do solo em promover sua decomposição, para que não haja riscos de lixiviação e contaminação do solo, plantas e corpos d’água. No solo são encontradas cargas elétricas negativas e positivas, sendo geralmente as negativas detectadas em maior quantidade. Tais cargas estão diretamente relacionadas com o processo de adsorção, a qual pode ocorrer através de troca iônica (adsorção não específica) ou adsorção específica.Atroca iônica compreende o princípio de eletroneutralidade, na qual ocorre a necessidade de que as cargas eletronegativas dos colóides do solo sejam contrabalanceadas por cargas eletropositivas catiônicas da
- 102. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 10 91 superfície dos colóides, sendo esse evento reversível e controlado pela difusão iônica (CAMARGO et al., 2001). A adsorção específica envolve o processo de desidratação dos íons, formando sempre certo nível de ligação covalente através de complexos de esfera interna com óxidos de Fe, Al e Mn, sendo pouco afetada pela concentração iônica e altamente dependente de pH. As cargas elétricas negativas do solo podem ser permanentes ou variáveis. As cargas permanentes ou estruturais ocorrem comumente em minerais de argila do tipo 2:1, podendo apresentar-se em menor frequência nos minerais de do tipo 1:1. As cargas variáveis do solo, são provenientes da adsorção de íons na superfície dos colóides, sendo as mesmas dependentes do pH do solo; onde a medida que se eleva o pH o seu aparecimento é favorecido, aumentando a CTC (FONTES et al., 2001). O incremento da CTC está relacionado com a MOS, a qual apresenta cargas dependentes de pH e predominantemente negativas, por apresentar menor energia de ligação do íon H+ com o seu grupo funcional carboxil (-COOH), dissociando seus íons mais facilmente, criando cargas elétricas negativas em pH relativamente baixo (~3,5), fazendo com que ela seja a principal fonte de cargas eletronegativas em solos muito intemperizados com predominância de minerais do tipo 1:1 como a caulinita (BENITES; MENDONÇA, 1998; MEURER et al., 2010). Comumente, solos arenosos, com baixa CTC, e baixo teor de argila e matéria orgânica apresentam maior mobilidade de metais (ROSS, 1994). Assim, a adição de adubos orgânicos se torna fundamentalmente importante no solo, principalmente em solos intensamente intemperizados que apresentam minerais de baixa atividade, para que se possa reestabelecer a retenção de cátions, contribuindo a matéria orgânica com aproximadamente 90% da CTC do solo (KIEHL, 1985; MELO et al., 1997); além de melhorar características como, aeração, infiltração e retenção de água, estabilidade da estrutura, a atividade microbiana e uma maior solubilização de minerais do solo em decorrência da liberação dos ácidos orgânicos pelo processo de mineralização, aumentando a disponibilidade de nutrientes para as plantas (CONCEIÇÃO et al., 2005). Nestes solos a matéria orgânica contribui ainda com redução de fixação de P oriundo da adubação fosfatada, favorecendo maior aproveitamento do nutriente pelas plantas (RAMOS et al., 2010). Essa redução da fixação de P ocorre devido os colóides orgânicos serem predominantemente eletronegativos na camada superficial o que promove a repulsão do fosfato, reduzindo sua adsorção específica e precipitação com Fe e Al na superfície da fase sólida, facilitando assim, a absorção do elemento pelas plantas. Entretanto, metais pesados presentes na solução do solo podem se ligar fortemente a MOS através de ligações específicas, em decorrência da interação de caráter covalente formando complexos metálicos (quelatos) estáveis, quando ocorre ligação entre dois ou mais pontos da molécula orgânica, reduzindo sua absorção pelas plantas (MORTVEDT et al., 1991). Deve ainda ser considerado os fenômenos de troca que ocorrem na região risosférica, onde a absorção e a translocação do metal pesado
- 103. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 10 92 por meio dos tecidos das plantas podem ocorrer de forma reduzida ou mesmo não ocorrer em algumas situações; isso porque as plantas apresentam mecanismos de proteção que bloqueiam o metal quando esse ainda se encontra no solo na forma de complexos formados com os exsudados das próprias raízes ou mesmo quando o metal encontra-se no interior das raízes onde são obstruídos por camadas de células que compõem a endoderme (MARQUES et al., 2002). Assim, íons metálicos quelados com ligantes orgânicos não podem ser absorvidos diretamente pelas plantas, devendo ser separados dos ligantes por um processo de troca para que possam atravessar o plasmalema e entrar no citoplasma da célula para serem translocados para os diversos compartimentos das plantas (BELL et al., 1991). Dentre as partes das plantas, as raízes são as quais tendem a acumular metais pesados, levando a engrossamento e inibição do crescimento, isso em função a concentração e o tempo de contato com o metal (PUNZ; SIEGHARDT, 1993). Apesar de condições impróprias de disponibilidade de metais no solo associado aos mecanismos de proteção das plantas, a absorção de metais pode ocorrer em quantidades suficientes para o aparecimento de sintomas de fitotoxicidade (CAMILOTTI et al., 2007). A complexação de metais pesados pela matéria orgânica (substâncias húmicas) influenciará no destino dos metais no solo e nas águas, podendo levar a efeitos benéficos ou maléficos. Como efeito benéfico da complexação pode-se citar a redução da atividade dos metais na solução do solo, ficando os mesmos indisponíveis para absorção das plantas, ou de contaminar águas superficiais ou subterrâneas. Como efeitos menos apreciáveis, pode-se citar a formação de complexos estáveis, porém solúveis entre as substâncias húmicas e os metais pesados, podendo os metais ser transportados pelas substâncias húmicas na água. Porém, essa reação de complexação pode ser entendida como aumento da solubilidade de cátions essenciais na manutenção das plantas, como Cu, Mo, Mn, Ni e Zn que se encontram em formas pouco solúveis no solo. Por outro lado, estas reações de complexação podem formar complexos com micronutrientes que podem se tornar pouco disponíveis as plantas. Solos orgânicos são geralmente abundantes em Cu, Mn e Zn, porém normalmente apresentam deficiência desses elementos devido a formação de complexos estáveis com a matéria orgânica, sendo disponibilizados apenas pequenas quantidades na solução do solo (SILVA et al., 2010). Contudo, a taxa de transferência de metais pesados do solo para as plantas varia de acordo com o metal e o tipo de planta analisados. Metais como Cd e Zn, apresentam maiores taxas de transferência do solo para hortaliças enquanto o Cr e Pb menores taxas (KORENTAJER, 1991). A matéria orgânica atua na estimulação da microbiota do solo de forma direta, fornecendo uma gama variada de microrganismos ao solo pela sua adição, assim como também na manutenção dos já existentes como fonte de energia, além de controlar a persistência, a velocidade de degradação e a mobilidade de elementos, mantendo o solo em estado dinâmico constante (CONCEIÇÃO et al., 2005; SILVA et al., 2010).
- 104. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 10 93 Os microrganismos que atuam na decomposição da matéria orgânica pelo processo de mineralização e formação de substâncias húmicas, também podem contribuir para a acidez do solo em decorrência da liberação de íons de H+ durante o processo de mineralização. Os íons de H+ liberados por esse processo influenciará no pH do solo, interferindo o mesmo na adsorção de metais. Em ambientes com valor elevado de pH (~6,5), ocorrerá maior adsorção de íons metálicos a carbonatos e óxidos de Fe e Mn amorfos, caracterizando uma barreira química pela oclusão e precipitação, com uma menor fase de contaminação pelo metal trocável, não estando os mesmos prontamente disponíveis a absorção das plantas (ALLOWAY, 1995; MEURER et al., 2010). O calcário, utilizado como insumo agrícola pode reduzir a disponibilidade dos metais pesados de forma direta ou indireta, atuando diretamente na imobilização de metais por meio da elevação do pH do solo e consequente adsorção e precipitação; e de forma indireta através da ação sobre a matéria orgânica do solo ocasionando a complexação e quelação de cátions metálicos, reduzindo sua disponibilidade e consequentemente a toxicidade às plantas (MENCH et al., 1999). Contudo, a adição de material orgânico principalmente em solos ácidos e com baixos valores de argila pode levar a formação de complexos orgânicos solúveis, os quais apresentam-se disponíveis as plantas (ALLOWAY, 1995). Assim, a menor solubilização de resíduos alcalinos serve como barreira química e a maior solubilização de resíduos ácidos proporciona a disponibilidade de metais pesados. Vale ressaltar que a elevação em uma unidade de pH, reduz em aproximadamente 100 vezes a solubilidade de metais divalentes. A qualidade e a quantidade de adubos orgânicos adicionados ao solo, assim como as características do solo, clima e manejo adequado da matéria orgânica são primordiais para a manutenção de sua capacidade produtiva em longo prazo, mantendo uma boa condição, não apenas do solo, como das plantas e recursos hídricos (CONCEIÇÃO et al., 2005; SANTOS et al., 2008). De modo geral, a grande quantidade de resíduos orgânicos gerados nos diversos setores industriais e agropecuários tem impulsionado seu uso em sistemas agrícolas, mostrando-se muito eficientes na melhoria de características físicas, químicas e biológicas dos solos. Contudo, sua utilização deve ser cautelosa, visto que entre a diversidade de resíduos que podem ser aplicados, uma grande quantidade pode apresentar metais pesados em sua composição, podendo levar a contaminação do solo, plantas e recursos hídricos. Por outro lado, a matéria orgânica incrementada ao solo por meio dos adubos orgânicos com quantidade balanceada de nutrientes, possui características químicas as quais podem auxiliar na melhoria do fornecimento de macro e micronutrientes, e até mesmo na complexação e retenção de metais pesados por diferentes processos.
- 105. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 10 94 4 | CONCLUSÕES A grande diversidade e disponibilidade de resíduos agroindustriais tem impulsionado cada vez mais sua utilização na agricultura como adubos orgânicos e/ ou condicionadores do solo. Entretanto, o conhecimento de sua origem e composição, assim como, das condições físico-químicas e biológicas do solo é imprescindível para sua utilização e manejo adequado, sendo o monitoramento periódico do solo agrícola sob aplicação de tais resíduos, fundamental para a manutenção de sua capacidade produtiva e nutrição adequada das plantas a médio e longo prazo. REFERÊNCIAS ABISOLO - Associação Brasileira das Indústrias de Tecnologia em Nutrição Vegetal. 2° Anuário Brasileiro de Tecnologia em Nutrição Vegetal. São Paulo. 140p. 2016. ALLOWAY, B., J. Heavy metals in soils. 2a ed. Glasgow: Blackie Academic, 364 p. 1995. AMARAL SOBRINHO, N., M., B.; COSTA, L., M.; OLIVEIRA, C.; VELLOSO, A., C., X. Metais pesados em alguns fertilizantes e corretivos. R. Bras. Ci. Solo, v.16, p.271-276. 1992. AMARAL SOBRINHO, N., M., B.; VELLOSO, A., C., X.; OLIVEIRA, C. Solubilidade de metais pesados em solo tratado com resíduo siderúrgico. Revista Brasileira de Ciência do Solo, v.21, p. 9-16. 1997. BASSO, S., M., S.; SCHERER, C., V.; ELLWANGER, M., F. Resposta de pastagens perenes à adubação com chorume suíno: pastagem natural. Revista Brasileira de Zootecnia, v.37, n.2, p.221- 227. 2008. BELL, P., F.; JAMES, B., R.; CHANEY, R., L. Heavy-metal extractability in long-term sewagesludge and metal salt-amended soils. Journal of Environmental Quality, Madison, v.20, p. 481- 486. 1991. BENITES, V., M.; MENDONÇA, E., S. Propriedades eletroquímicas de um solo eletropositivo influenciadas pela adição de matéria orgânica. Revista Brasileira de Ciência do Solo, v.22, p.215- 221. 1998. BRAGA, B.; HESPANHOL, I.; CONEJO, L., J., G.; BARROS, M., T., L.; SPENCER, M.; PORTO, M.; NUCCI, N.; JULIANO, N.; EIGER, S. Introdução à Engenharia Ambiental. São Paulo, 305 p. 2002. BRONICK, C., J.; LAL, R. Soil sctructure and management: a review. Geoderma, v.124, p.3- 22. 2005. BUYANOVSKY, G., A.; ASLAM, M.; WAGNER, G., H. Carbon turnover in soil physical fractions. Soil Science Society of America Journal, Madison, v. 58, p. 1167-1173. 1994. CAMARGO, O., A.; ALLEONI, L., R., F.; CASAGRANDE, J., C. Reações dos micronutrientes e elementos tóxicos no solo. In: FERREIRA, M., E.; CRUZ, M., C., P.; RAIJ, B., V.; ABREU, C., A. Micronutrientes e elementos tóxicos na agricultura. Jaboticabal: CNPQ; FAPESP; POTAFOS. cap.5, p. 89-117. 2001. CAMILOTTI, F.; MARQUES, M., O.; ANDRIOLI, I.; SILVA, A., R.; TASSO JUNIOR, L., C.; NOBILE, F., O. Acúmulo de metais pesados em cana-de-açúcar mediante a aplicação de lodo de esgoto e vinhaça. Eng. Agríc., Jaboticabal, v.27, n.1, p.284-293, jan./abr. 2007.
- 106. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 10 95 CONCEIÇÃO, P., C.; AMADO, T., J., C.; MIELNICZUK, J.; SPAGNOLLO, E. Qualidade do solo em sistemas de manejo avaliada pela dinâmica da matéria orgânica e atributos relacionados. Revista Brasileira de Ciência do Solo, v. 29, p. 777-788. 2005. COSTA, C., N.; MEURER, E., J.; LIMA, C., V., S.; SANTOS, R., C. Contaminantes e poluentes do solo e do ambiente. In: MEURER. E., J. Fundamentos de química do solo. 4° Ed. Ed. Evangraf, Porto Alegre. Cap. 8. p. 197-231. 2010. CUNHA, T., J., F.; BASSOI, L., H.; SIMÕES, M., L.; MARTINNETO, L.; PETRERE, V., G.; RIBEIRO, P.; R., A. Ácidos húmicos em solo fertirrigado no vale do São Francisco. R. Bras. Ci. Solo, 33:1583- 1592. 2009. FONTES, M., P., F.; CAMARGO, O., A.; SPOSITO, G. Eletroquímica das partículas coloidais e sua relação com a mineralogia de solos altamente intemperizados. Scientia Agricola, v.58, n.3, p.627- 646. 2001. GARCÍA, C., HERNÁNDEZ, T., COSTA, F., AYUSO, M. Compostaje de La fracción orgánica de un resíduo sólido urbano. Evolución de su contenido de diversas fracciones de metales pesados. Suelo Planta, v.1, p.1-13. 1991. GUILHERME, L., R., G.; MARGUES, J., J.; PIERANGELE, M., A., P.; ZULIANI, D., Q., M., L.; MARCHI, G. Elementos-traço em solos e sistemas aquáticos. IN: TORRADO, P., V. Tópicos em Ciência do Solo. 4ªed. Minas Gerais - Viçosa. 345-390p. 2005. IVANOV, I., V.; PESOCHINA, L., S.; SEMENOV, V., M. Biological mineralization of organic matter in the modern virgin and plowed chernozems, buried chernozems, and fossil chernozems. Eurasian Soil Science 42, 1109-1190. 2009. KIEHL, E., J. Fertilizantes orgânicos. Piracicaba: Agronômica Ceres, 492p. 1985. KORENTAJER, L. A review of the agricultural use of sewage sludge: benefits and potential hazards. Water S.A., v.17, n.3, p.189-196. 1991. LAKE, D., L. Sludge disposal to land. In: LESTER, J., N. Heavy metals in wastewater and sludge treatment process. Boca Raton: CRC Press, v.2, p.91-130. 1987. MALAVOLTA, E. Elementos de Nutrição de Plantas. Agronômica Ceres; São Paulo. 1980. MALAVOLTA, E. Fertilizantes e seu Impacto Ambiental: Micronutrientes e Metais Pesados, Mitos, Mistificação e Fatos. Produ. Química; São Paulo. 1994. MARINARI, S, DELL’ABATE, M., T.; BRUNETTI, G., DAZZI; C., Differences of stabilized organic carbon fractions and microbiological activity along Mediterranean Vertisols and Alfisols profiles. Geoderma 156, 379-388. 2010. MARQUES, M., O.; MELO, W., J.; MARQUES, T., A. Metais pesados e o uso de biossólido na agricultura. In: TSUTIYA, M., T.; COMPARINI, J., B.; ALÉM SOBRINHO, P.; HESPANHOL, I.; CARVALHO, P., C., T.; MELFI, A., J.; MELO, W., J.; MARQUES, M., O. Biossólidos na agricultura. 2.ed. São Paulo: ABES/SP,. p.365-403. 2002. MELLO, M., S.; FERNANDES, M., R. Adubação orgânica e adubação verde. Informação Tecnológica. Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais - EMATER-MG. 5 p. 2000. MELO, W., J.; MARQUES, M., O.; SILVA, F., C.; BOARETTO, A., E. Uso de resíduos sólidos urbanos na agricultura e impactos ambientais. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA DO SOLO, 26, Rio de Janeiro, 1997. Anais. Rio de Janeiro: Embrapa; SBCS. 1997.
- 107. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 10 96 MENCH, M.; VANGRONSVELD, J.; LEPP, N., W.; EDWARDS, R. Physico-chemical aspects and efficiency of trace element immobilization by soil amendments. In: VANGRONSVELD, J.; CUNNINGHAM, S., D. (Ed.). Metal contaminated soils. Berlin: Spring, p.151-182. 1999. MEURER, E., J.; RHEINHEIMER, D.; BISSANI, C., A. Fenômenos de sorção em solos. In: MEURER. E., J. Fundamentos de química do solo. 4° Ed. Ed. Evangraf, Porto Alegre. Cap. 5. p. 107- 148. 2010. MIYASAKA S.; NAKAMURA Y.; OKAMOTO, H. Agricultura natural. (Coleção agroindústria). 2.ed. Cuiabá: SEBRAE/MT, 73p. 1997. MORTVEDT, J., J.; COX, F., R.; SHUMAN, L., M.; WELCH, R., M. Micronutrients in agriculture. 2.ed. Madison: Soil Sci. Soc. America, 760p. 1991. PUNZ, W., F.; SIEGHARDT, H. The response of roots of herbaceous plant species to heavy metals. Environmental and Experimental Botany, Elmsford, v. 44, n.1, p. 85-98. 1993. RAIJ, B. V. et al. (Ed.). Recomendações de adubação e calagem para o Estado de São Paulo. 2.ed. Campinas: Instituto Agronômico, (IAC. Boletim Técnico, 100). 1996. RAMOS, S., J.; FAQUIN, V.; RODRIGUES, C., R.; SILVA, C., A. Efeito residual das aplicações de fontes de fósforo em gramíneas forrageiras sobre o cultivo sucessivo da soja em vasos. Bragantia, v. 69, p. 149-155. 2010. RODRIGUES, G., S., O.; TORRES, S., B.; LINHARES, P., C., F.; FREITAS, R., S.; MARACAJÁ, P., B. Quantidade de esterco bovino no desempenho agronômico da rúcula (Eruca sativa L.), cultivar Cultivada. Revista Caatinga, v.21, n.1, p. 162-168. 2008. ROSS, S., M. Toxic metals in soil-plant systems. Chichester, England, John Willey & Sons, 469 p. 1994. SANTOS, G., A.; SILVA, L., S.; CANELLAS, L., P.; AMARGO, F., A., O. Fundamentos da matéria orgânica do solo, ecossistemas tropicais e subtropicais. 2 ed. Porto Alegre, Genesis, 645 p. 2008. SILVA, L., S.; CAMARGO, F., A., O.; CERETTA, C., A. Composição da fase sólida orgânica do solo. In: MEURER. E., J. Fundamentos de química do solo. 4° Ed. Ed. Evangraf, Porto Alegre. Cap 3, p 59-84. 2010. STEVENSON, F., J. Húmus chemistry: gênesis, composition, reaction. 2ed. New York: John Wiley, 496p. 1994. STIGLIANI, W., M. Changes in valued “capacities” of soils and sediments as indicators of nonlinear and time-delayed environmental effects. Environmental Monitoring and Assessment, v.10, p.245-307. 1988. THENG, B,, K., G. Clay-humic interactions and soil aggregate stability. In: P. Rengasamy, ed. Soil structure and aggregate stability, pp. 32-73. Proc. Irrigation and Salinity Institute of Research. Tatura, Australia. 1987. TRANI, P., E.; TRANI, A., L. Fertilizantes: Cálculo de fórmulas comerciais. Instituto Agronômico de Campinas - IAC. 29p (Boletim técnico IAC, 208). 2011. TRANI, P., E.; TERRA, M., M.; TECCHIO, M., A.; TEIXEIRA, L., A., J.; HANASIRO, J. Adubação Orgânica de hortaliças e frutíferas. Instituto Agronômico de Campinas - IAC. 2013.
- 108. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 10 97 WANDER, M. Soil organic matter fractions and their relevance to soil function. In: MAGDOFF, F.; WEIL, R., R. (Eds.). Soil organic matter in sustainable agriculture. London: [s.n.], p. 67-102. 2004.
- 109. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 11 98 CAPÍTULO 11 doi CORRELAÇÃO ENTRE O VESS E OS ATRIBUTOS FÍSICOS DO SOLO E A MATÉRIA ORGÂNICA EM UMA TRANSEÇÃO NA SUB-BACIA MICAELA – RS Thais Palumbo Silva Universidade Federal de Santa Maria Santa Maria – Rio Grande do Sul Gabriel Luís Schroeder Universidade Federal de Pelotas Pelotas – Rio Grande do Sul Mateus Fonseca Rodrigues Universidade Federal de Pelotas Pelotas – Rio Grande do Sul Cláudia Liane Rodrigues de Lima Universidade Federal de Pelotas Pelotas – Rio Grande do Sul Maria Cândida Moitinho Nunes Universidade Federal de Pelotas Pelotas – Rio Grande do Sul Mayara Torres Mendonça Universidade Federal de Santa Maria Santa Maria – Rio Grande do Sul RESUMO: O estudo da qualidade do solo tem se tornado essencial para um adequado planejamentoagrícola,comointuitodeminimizar os efeitos dos processos que deterioram as terras. Inúmeros indicadores da qualidade do solo são utilizados, porém a maioria demanda laboratório, o que os tornam onerosos. Diante disso, foram desenvolvidas metodologias visuais capazes de avaliar as condições do solo em tempo real. Uma dessas metodologias, é a avaliação visual da estrutura do solo (VESS). Com o intuito de averiguar a eficiência do uso dessa metodologia e comparar com as laboratoriais, o presente estudo objetiva-se avaliar a existência de relação entre o VESS e atributos físicos e a matéria orgânica do solo em uma transeção na sub-bacia Micaela, localizada no estado do Rio Grande do Sul. Foi observado entre os atributos avaliados e os tipos de solos existentes, baixa correlação na maioria dos avaliados, porém entre a resistência tênsil e o VESS houve uma alta correlação para esse estudo. O que demanda uma maior densidade de pontos avaliados para melhores resultados. PALAVRAS-CHAVE: avaliação visual da estrutura do solo, qualidade do solo, física do solo. ABSTRACT: The study of soil quality has becomeessentialforproperagriculturalplanning in order to minimize the effects of processes which deteriorate the land. Numerous soil quality indicators are used, but most require laboratory, which makes them expensive. Therefore, we developed visual methodologies able of evaluating soil conditions in real time. One of these methodologies is the visual evaluation of soil structure (VESS). In order to assess the efficiency of the use of this methodology and to compare it with the laboratory, the present study aims to evaluate the existence of a relationship between the VESS and the physical attributes
- 110. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 11 99 and the organic matter of the soil in a transect in the sub-basin of Micaela in the state of Rio Grande do Sul. Among the evaluated attributes and the types of existing soils, a low correlation was observed in most of the evaluated ones, but between the tensile strength and the VESS there was a high correlation for this study. This requires a higher density of assessed points for better results. KEYWORDS: visual evaluation of soil structure, soil quality, soil physics. 1 | INTRODUÇÃO Para um adequado planejamento agrícola com o intuito de minimizar a degradação das terras, é indispensável o estudo da qualidade do solo, uma vez que seu intenso uso associado a necessidade de um incremento na produção resulta em consequências prejudiciais para a produtividade agrícola e para os recursos hídricos. O conhecimento da estrutura do solo permite um adequado desenvolvimento das plantas, já que está associada ao armazenamento, retenção e disponibilidade de água e nutrientes, desenvolvimento do sistema radicular, aeração e agregação do solo. Dentre os atributos sensíveis ao uso e manejo do solo, tem-se a estabilidade dos agregados, que está relacionada com a estrutura, e a resistência tênsil, o qual é essencial para uma adequada germinação e para minimizar a energia necessária no preparo do solo, evitando a compactação. Aomesmotempo,tem-setornadocomumousodeavaliaçõesvisuaisdaqualidade do solo, dentre as existentes, atualmente tem se destacado a avaliação visual da estrutura do solo (VESS), por serem metodologias fáceis e de rápida obtenção, que favorecem o produtor rural, permitindo avaliar as limitações na produção agrícola ocasionadas pela estrutura do solo. Segundo Giarola et al. (2013), o VESS pode identificar camadas com restrições ao desenvolvimento de raízes no interior solo, principalmente em áreas com diferentes usos e manejos. Auxilia na tomada de decisão e no entendimento das diferenças das condições físicas, sendo útil no monitoramento da qualidade do solo e de raízes. Adicionalmente, salienta-se que o método VESS tem obtido correlação com vários atributos físicos do solo, como a porosidade, a densidade do solo, a matéria orgânica e a produtividade das plantas (MUNKHOLM et al., 2013; GUIMARÃES et al, 2013). O objetivo deste estudo foi avaliar se existe relação entre o VESS e atributos físicos e a matéria orgânica do solo em uma transeção na sub-bacia Micaela, RS. 2 | MATERIAL E MÉTODOS A pesquisa foi realizada na sub-bacia hidrográfica Micaela, inserida na Bacia do Arroio Moreira/Fragata, pertencente à Bacia Litoral 40, do sistema hidrográfico do Rio
- 111. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 11 100 Grande do Sul, situada no Sul do Estado (Figura 1). Se encontra nas coordenadas geográficas 31º37’50,32’’ de latitude Sul e 52º31’28,15’’ de longitude Oeste, altitude variando de 33 a 259 metros, apresenta uma área de 3.736 hectares, localizada no município de Pelotas, RS. De acordo com a classificação climática de Köppen, o clima é do tipo subtropical úmido, com temperatura média de 12,5°C no mês mais frio e de 23,3°C, no mês mais quente e a média anual de precipitação na região é de 1.386 mm. Figura 1. Localização da sub-bacia hidrográfica Micaela no Estado do Rio Grande do Sul e Brasil. Elaborado por: Stefan Domingues Nachtigall. Os solos com maior representatividade na sub-bacia são: Argissolo Bruno Acinzentado (PBACal); Associação de Neossolo Regolítico, Neossolo Litólico e Argissolo Bruno Acinzentado (RLd1); Argissolo Vermelho-Amarelo Distrófico (PVAd) e associação de Planossolo com Argissolo Vermelho-Amarelo e Planossolo Háplico Eutrófico solódico com Argissolo Amarelo e Acinzentado (SXe4) (CUNHA & SILVEIRA, 1996). Os principais sistemas de uso e manejo observados foram: pastagem de bovinos, cultivo de pêssego, milho e soja, sistema convencional e plantio direto, áreas florestais, mata nativa e campos de vegetação espontânea. Foram amostrados 101 pontos em uma transeção de 11.200 metros, que abrange todos os tipos de solos e usos, seguindo o sentindo jusante para a montante da bacia. Sendo coletadas amostras com estrutura preservada e não preservada em cada ponto georreferenciado, na camada de 0,00 a 0,10 metros. Para a avaliação da densidade do solo (Ds), da porosidade total (PT), da macro (Ma) e da microporosidade (Mi), seguiu-se a metodologia da Embrapa (2011) sendo coletadas amostras em anéis volumétricos em cada ponto, com dimensões de 50 x 47 mm de altura e diâmetro, respectivamente.
- 112. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 11 101 As amostras de estrutura não preservada foram coletadas com pá de corte para determinação de agregados estáveis em água, seguindo Kemper & Rosenau (1986), adaptado por Palmeira et al. (1999), utilizando o aparelho de oscilação vertical de Yoder (1936) e para a determinação do carbono orgânico (TEDESCO et al., 1995). A determinação da resistência tênsil foi realizada com o auxílio de um atuador eletrônico linear a uma velocidade constante de 4 mm s-1 (MA 933 MARCONI, LTDA) (Figura 2). Antes da aplicação da força, cada agregado foi mensurado quanto à massa e aferido com um paquímetro, obtendo-se o diâmetro médio (Dm) a partir de sua altura (y), largura (z) e comprimento (x). Após os ensaios, os agregados foram secos em estufa a 105°C por 24 h, determinando-se a umidade gravimétrica (EMBRAPA, 2011). O valor da força aplicada para a ruptura tênsil do agregado foi registrado em um sistema eletrônico de aquisição de dados, sendo calculada a RT, conforme Dexter & Kroesbergen (1985). Figura 2. Atuador eletrônico linear e amostras sendo avaliadas a resistência tênsildos agregados solo. Fonte: autora. A avaliação visual da estrutura do solo (VESS), foi realizada em campo, em uma mini trincheira, feita com auxílio de uma pá reta, para a coleta de um bloco de solo com dimensões de aproximadamente 0,15 x 0,15 x 0,20 m (PENNING et al., 2015) (Figura 3). A análise foi realizada em 34 pontos no decorrer da transeção, englobando as diferentes classes de solos, diferentes usos e manejos.
- 113. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 11 102 Figura 3. Bloco de solo extraído da camada de 0,00-0,20 m sobre uma bandeja plástica e tabela de classificação (BALL et al., 2007; GUIMARÃES et al., 2011) para posterior avaliação visual da estrutura do solo (VESS). Fonte: autora. Para verificar a existência de correlação entre o VESS e os atributos foi realizada uma regressão linear simples, obtendo-se o coeficiente de determinação (R²). Devido os atributos analisados terem sido retirados na camada de 0,00-0,10 m, foi utilizado o escore do VESS encontrado nessa camada. 3 | RESULTADOS E DISCUSSÃO A partir do método de avaliação visual da estrutura do solo (VESS), observa- se diferentes qualidades estruturais (Qe) nas classes e usos de solos. A melhor Qe, valores entre 1 e 2, ocorreu em área sob mata nativa, vegetação espontânea e pastagem sob sistema de plantio direto (SPD), os quais tem um maior incremento de matéria orgânica. Porém, os escores maiores de Qe, ocorreram em área sob pastagem convencional, o qual corresponde a um solo compacto, com a maioria dos agregados maiores que 0,10 m, subangulares, quase nenhuma porosidade, e algumas raízes em volta dos torrões. Adensidadedosolo,varioude0,84a1,79Mgm-3,sendoomenorvalorencontrado em área sob mata nativa e o maior em área de pastagem, sob SPD. Esse resultado pode ser explicado pelo aumento da densidade provocada pelo pisoteio animal, e pelo fato de não ocorrer o revolvimento do solo. Em relação à porosidade total, foi encontrado o maior valor (63,46%) em solo sob mata nativa e o menor (28,07%) sob pastagem cultivada com pisoteio animal. O maior valor obtido para RT foi de 191,28 kPa, o qual encontra-se sob área de pastagem em SPD, em que ocorre o intenso pisoteio dos animais.
- 114. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 11 103 O maior valor de diâmetro médio ponderado (5,54 mm) foi obtido em solo sob SPD, pelo fato desse proporcionar melhor agregação. A MOS reflete diretamente o tipo de uso, manejo e sistema radicular, bem como o histórico de uso das áreas, com isso, a área sob mata nativa apresentou o maior valor, de 57,56 g kg-1 , considerado como alto de acordo com a classificação proposta pelo Manual de calagem e adubação do Rio Grande do Sul e Santa Catarina (NRS/ SBCS, 2016), devido ao maior incremento de MOS proporcionado por área de mata nativa. O menor teor se encontrou na entrelinha de plantio de soja, classificado como baixo, o qual se dá devido ao excesso de revolvimento, proporcionando a maior perda e mineralização da MOS. Vários estudos mostram as correlações entre o VESS e os diferentes atributos físicos do solo, indicando que o VESS pode apresentar diferenças entre as classes de solo e usos (BATEY et al., 2015). A análise visual está relacionada com inúmeros indicadores da qualidade, como a densidade (GUIMARÃES et al., 2013; da SILVA et al., 2014; MONCADA et al., 2014), porosidade (MUNKHLOM et al., 2013; MONCADA et al., 2014), matéria orgânica (MONCADA et al., 2014); diâmetro médio ponderado de agregados (ABDOLLAHI & MUNKHOLM, 2014; MONCADA, 2014) e resistência tênsil do solo (GUIMARÃES et al., 2011). Na tabela 1, apresenta-se a regressão linear simples entre alguns atributos do solo e do VESS, em relação a classe de solo. Sxe4(1) PVAd(2) Equação R² Equação R² VESS = -7,218 (Ds) + 12,05 0,27 VESS = -2,122 (Ds) + 4,872 0,14 VESS = 0,139 (PT) - 3,113 0,29 VESS = 0,061 (PT) - 0,811 0,04 VESS = 0,016 (RT) + 0,202 0,80 VESS = 0,013 (RT) + 0,498 0,04 VESS = 0,131 (DMP) + 1,611 0,01 VESS = 0,419 (DMP) + 0,104 0,03 VESS = 0,055 (MO) +0,447 0,16 VESS = 0,006 (MO) + 1,363 0,00 PBACal(3) RLd1(4) Equação R² Equação R² VESS = -8,18 (Ds) + 10,476 0,67 VESS = 1,072 (Ds) + 0,172 0,02 VESS = 0,168 (PT) - 7,699 0,46 VESS = -0,001 (PT) + 1,981 0,00 VESS = -0,007 (RT) + 2,762 0,07 VESS = -0,001 (RT) + 1,694 0,00 VESS = -0,913 (DMP) + 5,098 0,26 VESS = -0,034 (DMP) + 1,718 0,00 VESS = 0,019 (MO) + 1,088 0,03 VESS = -0,011 (MO) + 2,041 0,00 Tabela 1. Modelos de regressão linear entre VESS e alguns atributos físicos e a matéria orgânica do solo em quatro classes de solos predominantes da sub-bacia Micaela, RS. (1) Associação de Planossolo com Argissolo Vermelho-Amarelo e Planossolo Háplico Eutrófico solódico com Argissolo Amarelo e Acinzentado; (2) Argissolo Vermelho-Amarelo distrófico; (3) Argissolo Bruno Acinzentado; (4) Associação de Neossolo Regolítico, Neossolo Litólico e Argissolo Bruno Acinzentado. Observa-se que a condição que apresentou melhores relações do VESS com os atributos foi a associação de Planossolo e Argissolo e a menor foi a associação de
- 115. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 11 104 Neossolo e Argissolo, o qual apresentou quase todos os coeficientes de determinação com os atributos do solo nulos. A densidade do solo obteve relação com o VESS no Argissolo Bruno-acinzentado. A porosidade total, o diâmetro médio ponderado e a matéria orgânica apresentaram baixo coeficiente de correlação com o VESS para todos os tipos de solos estudados. Tal fato se contrapõe ao observado por Abdollahi & Munkholm (2014), os quais encontraram boa relação do DMP com o VESS. A resistência tensil apresentou boa relação com o VESS na associação de Planossolo com Argissolo Vermelho-Amarelo e Planossolo Háplico Eutrófico solódico com Argissolo Amarelo e Acinzentado, porém não apresentou boas correlações com os demais tipos de solo, A melhor relação obtida foi da RT com o VESS, apresentando um coeficiente de determinação de 0,80, maior do que encontrado por Guimarães et al, (2011) para diferentes tipos de solos variando de arenosos a argilosos. 4 | CONCLUSÕES O VESS apresentou baixas correlações com os atributos físicos do solo e matéria orgânica, exceto com a RT, na área com associação de Planossolo e Argissolo e com a densidade no Argissolo Bruno Acinzentado. Para melhores resultados, necessitam de uma maior densidade de pontos nos diferentes tipos de solos e usos. REFERÊNCIAS ABDOLLAHI, L. & MUNKHOLM, L.J. Tillage system and cover crop effects on soil quality. I. Chemical, mechanical, and biological properties. Soil Science Society of America Journal, v.78, p.262–270, 2014. BATEY, T.; GUIMARÃES, R.M.L.; PEIGNÉ, J. & BOIZARD, H. Assessing structural quality for crop performance and for agronomy (VESS, VSA, SOILpak, Profil Cultural, SubVESS). In: Ball, B.C., Munkholm, L.R. (Eds.), Visual Soil Evaluation: Realising Potential Crop Production with Minimum Environmental Impact. CABI, Wallingford, UK, p.15–30, 2015. CUNHA, N.G. & SILVEIRA, R.J.C. Estudo dos solos do município de Pelotas. EMBRAPA CPACT (Documentos, 11/96). Pelotas, 54p., 1996. da SILVA, A.P.; BALL, B.C.; TORMENA, C.A.; GIAROLA, N.F.B. & GUIMARÃES, R.M.L. Soil structure and greenhouse gas production differences between row and inter- row positions under no-tillage. Journal of Agricultural Science, v.71, p.157–162, 2014. DEXTER, A.R. & KROESBERGEN, B. Methodology for determination of tensile strength of soil aggregates. Journal of Agricultural Engineering Research, v.31, p.139-147, 1985. EMBRAPA - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Centro Nacional de Pesquisa de Solos. Manual de Métodos de Análise do Solo. 3.ed. Rio de Janeiro: Embrapa CNPS, 2011. 230p. FORSYTHE, W. Física de suelos. Costa Rica: IICA, 1975. 212p.
- 116. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 11 105 GEE, G.W. & BAUDER, J.W. Particle size analysis. In: KLUTE, A. (Ed.). Methods of Soil Analysis. Part 1. Physical and mineralogical methods. 2. ed. Madison: American Society of Agronomy, 1986. 411p. GIAROLA, N.F.B.; SILVA, A.P.; TORMENA, C.A.; GUIMARÃES, R.M.L. & BALL, B.C. On the Visual Evaluation of Soil Structure: The Brazilian experience in Oxisols under no-tillage. Soil and Tillage Research, v.127, p.60–64, 2013. GUIMARÃES, R.M.L.; BALL, B.C. & TORMENA, C.A. Improvements in the visual evaluation of soil structure. Soil Use and Management, v.27, p.395-403, 2011. GUIMARÃES, R.M.L.; BALL, B.C.; TORMENA, C.A.; GIAROLA, N.F.B. & da SILVA, A.P. Relating visual evaluation of soil structure to other physical properties in soils of contrasting texture and management. Soil and Tillage Research, v.127, p.92-99, 2013. KEMPER, W. D. & ROSENAU, R. C. Aggregate stability and size distribution. In: KLUTE, A., ed. Methods of soil analysis. 2.ed. Madison, American Society of Agronomy, Soil Science Society of America, p.425-441, 1986. MONCADA, M.P., PENNING, L.H., TIMM, L.C., GABRIELS, D. & CORNELIS, W.M. Visual examinations and soil physical and hydraulic properties for assessing soil structural quality of soils with contrasting textures and land uses. Soil and Tillage Research, v.140, p.20–28, 2014. MUNKHOLM, L.J.; HECK, R.J. & DEEN, B.R. Long-term rotation and tillage effects on soil structure and crop yield. Soil and Tillage Research, v.127, p.85–91, 2013. NÚCLEO REGIONAL SUL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE CIENCIA DO SOLO (NRS/SBCS). Manual de calagem e adubação: Para os estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. 11a edição. Comissão de química e fertilidade do solo – RS/SC (CQFS-RG/SC), 2016. 376p. PALMEIRA, P.R.T., PAULETTO, E.A., TEIXEIRA, C.F.A., GOMES, A.S. & SILVA, J.B. Agregação de um Planossolo submetido a diferentes sistemas de cultivo. Revista Brasileira de Ciência do Solo, v.23, p.189-195, 1999. PENNING, L.H., LIMA, C.L.R., TUCHTENHAGEN, I.K., SILVA, M. de F.M.M. da, PILLON, C.N.&NUNES, M.C.M.Avaliação Visual para o Monitoramento da Qualidade Estrutural do Solo: VESS e VSA.Documentos (Embrapa Clima Temperado. Impresso), v.1, p.1-39, 2015. TEDESCO, M.J.; GIANELLO, C.; BISSANI, C.A.; BOHNEN, H. & VOLKWEISS, S.J. Análise de solo, plantas e outros materiais. 2.ed., (Boletim Técnico, 5), Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 1995.147p. YODER, R. E. A direct method of aggregate analysis of soil and a study of the physical nature of erosion losses. Journal American of Society Agronomy, v.28, p.337-351, 1936.
- 117. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 12 106 CAPÍTULO 12 doi DADOS LIDAR AEROTRANSPORTADO NA PREDIÇÃO DO VOLUME EM UM POVOAMENTO DE Eucalyptus sp Daniel Dantas Universidade de Federal de Lavras, Departamento de Ciências Florestais Lavras – MG Luiz Otávio Rodrigues Pinto Universidade de Federal de Lavras, Departamento de Ciências Florestais Lavras – MG Ana Carolina da Silva Cardoso Araújo Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, Faculdade de Ciências Agrárias Diamantina - MG Rafael Menali Oliveira Universidade de Federal de Lavras, Departamento de Ciências Florestais Lavras – MG Natalino Calegario Universidade de Federal de Lavras, Departamento de Ciências Florestais Lavras – MG Marcio Leles Romarco de Oliveira Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, Faculdade de Ciências Agrárias Diamantina – MG RESUMO: A tecnologia Airborne Laser Scanning realiza o escaneamento de objetos terrestres a partir de uma plataforma aérea e permite produzir dados tridimensionais a partir da distância entre a emissão e o retorno do pulso laser. Uma das suas aplicações práticas é o mapeamento de terrenos com coberturas florestaiseestimativasdealturadavegetação.O objetivo deste trabalho foi avaliar o desempenho da utilização de dados LiDAR e propor novos modelos para a predição da variável volume. Foram utilizados dados de inventário florestal realizado no ano de 2015, em um povoamento de Eucalyptus sp. com idade de 5 anos, em que foram alocadas 46 parcelas circulares com área de 500 m². Os dados LiDAR utilizados foram obtidos junto ao Instituto Geográfico Nacional da Espanha, coletados no ano de 2015 mediante sensores LiDAR aerotransportados, com informações de fração de cobertura vegetal, altura máxima, média e mínima, percentis de altura, entre outras. Para avaliação do desempenho da utilização de variáveis LiDAR para estimação do volume do povoamento, foram ajustados modelos compostos por variáveis de campo, campo e LiDAR e apenas LiDAR. O modelo que englobou as variáveis de campo apresentou o melhor ajuste, seguido pelo modelo com variáveis de campo + LiDAR e apenas LiDAR. Os modelos avaliados apresentaram desempenhos satisfatórios, com erros relativos médios inferiores a 13 %. As estimativas volumétricas apresentaram-se dentro do intervalo de confiança obtido com o processamento do inventário florestal, indicando o potencial de utilização da tecnologia LiDAR
- 118. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 12 107 para estimação do volume a nível de povoamento. PALAVRAS-CHAVE: Airborne Laser Scanning, Inventário Florestal, Mensuração Florestal. ABSTRACT: The Airborne Laser Scanning technology performs the scanning of terrestrial objects from an aerial platform and allows to produce three-dimensional data from the distance between the emission and the return of the laser pulse. One of its practical applications is the mapping of land with forest cover and estimates of vegetation height. The aim of this work was to evaluate the performance of LiDAR data and propose new models for the prediction of the volume. Forest inventory data colected in 2015 were used, from a settlement of Eucalyptus sp. aged 5 years, in which 46 circular samples with an area of 500 m² were allocated. The LiDAR data used were obtained from the National Geographic Institute of Spain, collected in 2015 by airborne LiDAR sensors, with information on fraction of vegetation cover, maximum height, average and minimum, height percentiles, among others. To evaluate the performance of the use of LiDAR variables to estimate the volume, models composed of field, field and LiDAR and only LiDAR variables were adjusted. The model that included the field variables presented the best fit, followed by the model with field variables + LiDAR and only LiDAR. The models evaluated presented satisfactory performances, with mean relative errors lower than 13%. The volumetric estimates were within the confidence interval obtained with the forest inventory processing, indicating the potential of using the LiDAR technology for volume estimation at settlement level. KEYWORDS: Airborne Laser Scanning, Forestry Measurement, Forest inventory. 1 | INTRODUÇÃO A tecnologia Airborne Laser Scanning (ALS), realiza o escaneamento a laser de objetos terrestres a partir de uma plataforma aérea, sendo composto por receptores de navegação global (GNSS), Sistema de Navegação Inercial (INS) e uma unidade de emissão e recebimento de laser, também chamado de tecnologia LiDAR (GORGENS et al., 2014). O LiDAR (Light Detection and Ranging) é uma ferramenta que permite produzir dados tridimensionais a partir da distância entre a emissão e o retorno do pulso laser. Uma das suas aplicações práticas é na área florestal, realizando o mapeamento de terrenos com coberturas florestais, e estimativas de altura da vegetação com softwares de apoio (ERDODY; MOSKAL, 2010, GIONGO et al., 2010, ARUMAE; LANG, 2017). Essas estimativas são obtidas a partir do Modelo Digital de Altura (MDA), que é o produto da subtração entre o Modelo Digital de Terreno (MDT), e o Modelo Digital de Elevação (MDE). O MDA é representado por uma nuvem de pontos da qual são extraídas métricas a serem utilizadas na construção de modelos biométricos, indispensáveis ao planejamento da produção florestal (ANDERSEN et al., 2004).
- 119. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 12 108 As métricas obtidas pela tecnologia LiDAR, podem ser integradas ao dados de Inventário Florestal coletados em campo, possibilitando estimativas confiáveis de variáveis biométricas, como diâmetro e área basal (ZONETE et al., 2010), e o potencial produtivo da floresta, como volume e biomassa (FIGUEIREDO et al., 2014). Essa alta aplicabilidade da tecnologia LiDAR, deve-se principalmente aos benefícios econômicos advindos da sua adoção, quando comparado as técnicas tradicionais utilizadas nos Inventários Florestais. Características como alta densidade amostral e grande quantidade de informações em intervalos curtos de tempo fazem com que essa tecnologia relativamente nova na área florestal, seja tema de trabalhos que visem seu aprimoramento, assim como a integração com sistemas já adotados pelas empresas do setor. Diante disso o objetivo do presente trabalho foi avaliar o desempenho da utilização de dados LiDAR e propor novos modelos para a predição da variável volume em um povoamento de Eucalyptus sp. 2 | MATERIAL E MÉTODOS Aárea de estudo está localizada na cidade de Huelva, Andalucía, sul da Espanha. O clima é quente e temperado, do tipo Csa segundo a classificação de Köppen e Geiger, com uma temperatura média anual de 17,8 °C e precipitação média anual de 467 mm. Foram obtidos dados de inventário florestal realizado no ano de 2015, em um povoamento de Eucalyptus sp. com idade de 5 anos, em que foram alocadas 46 parcelas circulares com área de 500 m². Em cada parcela foram medidos os diâmetros a 1,30 de altura do solo (DAP) e as alturas de todas as árvores. Foram então obtidos o diâmetro médio quadrático, a área basal do povoamento, o número de indivíduos por hectare e volume por hectare de cada parcela. Para a associação das informações coletadas por meio de inventário florestal e pelo LiDAR aerotransportado, foram coletadas as coordenadas geográficas do centro de cada parcela, por meio de um GPS. Os dados LiDAR utilizados fazem parte do Plano Nacional de Ortofotografia Aérea e foram obtidos junto ao Instituto Geográfico Nacional da Espanha, coletados no ano de 2015 mediante sensores LiDAR aerotransportados. Os dados consistem em uma nuvem de pontos (Figura 1) com coordenadas X, Y, Z; retornos de 1°, 2°, 3° e 4° pulso; e a intensidade do sinal, com uma densidade de 4 pontos/m² e uma precisão altimétrica de 20 cm.
- 120. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 12 109 Figura 1. Exemplo da nuvem de pontos obtidas com dados LiDAR. O software utilizado para processamento dos dados LiDAR foi o FUSION (MCGAUGHEY, 2015). O comando Clipdata foi utilizado para cortar, nos dados LiDAR, os pontos correspondentes a cada uma das 46 parcelas amostradas na área por meio de inventário florestal. O comando Cloudmetrics foi utilizado para gerar informações estatísticas dos dados LiDAR para cada uma das parcelas, como fração de cobertura vegetal, que indica o grau de ocupação da área pelo dossel das árvores, alturas máxima, média e mínima, os percentis de altura, entre outras. Estas informações estatísticas foram então inseridas à planilha dos dados oriundos do inventário florestal. Com o intuito de avaliar o desempenho da utilização de variáveis LiDAR para estimação do volume do povoamento, procedeu-se ao ajuste dos modelos por meio do software R CORE TEAM (2017). Foram avaliados modelos compostos por variáveis de campo, variáveis de campo e LiDAR e apenas variáveis LiDAR. O modelo de Schumacher e Hall (1933) na sua forma modificada foi utilizado como referência neste estudo. A seleção das variáveis independentes que melhor descrevessem o comportamento da variável resposta foi por meio do método stepwise, que é feito de forma iterativa, adicionando variáveis (passo forward) e removendo (passo backward), a partir de um critério de seleção. Neste trabalho adotou-se o teste F como critério de seleção. Os dados foram também submetidos a testes de adequação aos princípios estatísticos básicos, como normalidade (Teste de Shapiro-Wilk), homocedasticidade (Teste de Breusch-Pagan), linearidade (Teste RESET), colinearidade (Fator de Inflação da Variância) e dados discrepantes (Teste de Bonferroni). Atendendo a estes princípios, procedeu-se ao ajuste dos modelos com as variáveis selecionadas para estimação do volume, em m³.ha-1 , de cada uma das parcelas. A avaliação da qualidade dos modelos baseou-se na Raiz do Erro Quadrático Médio (REQM) (Equação 1), Critério de Informação Akaike (AIC) (Equação 2), erro padrão residual (Syx) (Equação 3), coeficiente de determinação ajustado (R² aj.) (Equação 4), e gráfico de dispersão dos resíduos padronizados.
- 121. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 12 110 µ ()2 1 (%) / *100 iin i Y Y REQM Y n= � � �� � = � � � � � �� � � (1) 2*ln( )*2AIC mv p= � (2) 1 (%) *100 SQR n p Syx Y � � = (3) 2 1 1 n SQR R n p SQT � �� �� = �� ÷� ÷ �� �� � (4) em que: REQM: raiz do erro quadrático médio; Yi: valor observado; : valor estimado; n: número de casos; : média dos valores observados; AIC: critério de informação Akaike; ln: logaritmo neperiano; mv: valor de máxima verossimilhança; p: número de parâmetro do modelo; SQR: soma de quadrados do resíduos; SQT: soma de quadrados total. A Tabela 2 apresenta os modelos selecionados, juntamente com modelos linear e não linear de Schumacher e Hall em suas formas modificadas. ID. DESCRIÇÃO MODELO 1 Schumacher e Hall (log) modificado 0 1 2*ln( ) *ln( )V Dg Hob b b= + + 2 Schumacher e Hall modificado 1 2 0 * *V Dg Hob b b= 3 Variáveis de Campo 0 1 2 3V N Ho Gb b b b= + + + 4 Variáveis de LiDAR 0 1 2 10% 3 75% 4Mode cvV H H H Fb b b b b= + + + + 5 Variáveis Campo + LiDAR 0 1 95% 2 3 4 cvV H G N Fb b b b b= + + + + Tabela 2. Modelos ajustados para estimação volumétrica. Em que: V é o volume com casca em m³.ha-1 ; Dg é o diâmetro médio quadrático (cm); Ho é a altura média do inventário florestal (m); N é o número de indivíduos (árv.ha-1 ); G é a área basal (m².ha-1 ); ModeH é a moda da altura (m); 10%H e 75%H são as alturas nos percentis 10 e 75 (m); e cvF é a fração de cobertura vegetal (%); e nb são os parâmetros dos modelos. Os modelos ajustados foram utilizados para estimar o volume por hectare de cada parcela e as estimativas foram consideradas em um processamento de inventário florestal, de acordo com os estimadores clássicos da Amostragem Casual Simples (ACS) (COCHRAN, 1977). Os resultados, para cada um dos cinco modelos, foram então comparados com o processamento da ACS para os dados coletados em campo.
- 122. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 12 111 3 | RESULTADOS E DISCUSSÃO A partir dos dados obtidos com o comando Cloudmetrics, no software FUSION, foram geradas 26 variáveis dendrométricas relacionadas, principalmente, a altura do povoamento e ocupação da área. Na Figura 2 são exemplificadas algumas das variáveis geradas pelo sensor LiDAR. Figura 2. Variáveis obtidas pelos sensor LiDAR. Em que: H representa altura; PH representa percentil; FCC, fração de cobertura vegetal e CV, coeficiente de variação da altura. Os valores de altura média por parcela obtidos pelo LiDAR apresentaram boa aderência aos valores observados em campo, pelo inventário florestal (Figura 3). A altura média das parcelas do inventário florestal foi de 17,86 m, enquanto a altura média obtida pelos dados LiDAR foi de 11,98 m. Figura 3. Altura média 1: obtida pelo inventário florestal vs Altura média 2: obtida a partir dos dados LiDAR. Todos os modelos apresentaram significância dos parâmetros, a um nível de 0,05 (Tabela 3). Os modelos de Schumacher e Hall, linear e não linear, utilizados como referências nesse trabalho apresentaram as piores estatísticas, de acordo com os critérios de seleção. Já o modelo que englobou as variáveis de campo (3) apresentou o melhor ajuste, seguido pelo modelo com variáveis de campo + LiDAR (5) e apenas
- 123. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 12 112 LiDAR (4). ID. 0b 1b 2b 3b 4b AIC Syx R²aj. REQM 1 -1856,56 165,84 563,92 - - 529,7 82,47 69,1 24,9 2 0,12 0,55 2,05 - - 526,1 79,26 71,5 23,9 3 -399,69 0,02 22,91 6,86 - 390,6 17,61 98,6 5,2 4 -423,78 -18,70 28,01 38,12 2,46 479,8 46,43 90,2 13,7 5 -300,24 22,01 6,59 0,03 -0,14 419,5 23,76 97,4 7,0 Tabela 3. Parâmetros ajustados e estatísticas de precisão das equações, Critério de Informação Akaike (AIC), Erro padrão residual em m³ (Syx), Coeficiente de determinação ajustado em porcentagem (R² aj.) e a raiz quadrática do erro médio em porcentagem (REQM). A Figura 4 apresenta os gráficos de dispersão de resíduos para os diferentes modelos utilizados. Percebe-se que o modelo baseado apenas em variáveis oriundas do sensor LiDAR resultou em menor dispersão dos erros, enquanto o modelo de Schumacher e Hall linear, a maior dispersão. Figura 4. Dispersão dos resíduos em relação ao volume obtido pelo inventário florestal. (a) Modelo de Schumacher e Hall (log) modificado, (b) Modelo de Schumacher e Hall modificado, (c) Modelo de Variáveis de campo, (d) Modelo de Variáveis LiDAR e (e) Modelo de Variáveis de Campo + LiDAR. Os volumes estimados pelas cinco equações volumétricas foram comparados com os volumes estimados com base nas informações obtidas pelo inventário florestal realizado em campo (Tabela 3). O volume médio estimado com base nas equações
- 124. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 12 113 foram 319.92, 321.12, 319.92 e 319.92 m³.ha-1 respectivamente para Schumacher e Hall linear, Schumacher e Hall não linear, Variáveis de Campo, Variáveis LiDAR e Variáveis de Campo + LiDAR. Todos os volumes obtidos a partir dos modelos avaliados estão contidos no intervalo de confiança do inventario florestal. Isso indica que, considerando o volume médio, o inventário com base nos dados de Campo, LiDAR e suas combinações, apresentam precisão. Estatísticas IF Equações 1 2 3 4 5 V 319,92 319,92 321,12 319,92 319,92 319,92 S²v 22038,35 15546,03 15250,66 21756,46 20078,20 21525,08 Sv 148,45 124,68 123,49 147,50 141,70 146,71 CV 46,40 38,97 38,46 46,11 44,29 45,86 Erro (m³.ha-1 ) 44,60 37,46 37,10 44,31 42,57 44,08 Erro (%) 13,94 11,71 11,55 13,85 13,31 13,78 IC1 275,32 282,46 284,02 275,60 277,34 275,84 IC2 364,52 357,37 358,22 364,23 362,49 363,99 Tabela 3. Síntese das medidas de precisão obtidas pelo inventário florestal, para a variável volume de um povoamento de Eucalyptus sp. Em que: IF: inventário florestal; 1: Modelo de Schumacher e Hall (log) modificado; 2: Modelo de Schumacher e Hall modificado; 3: Modelo de Variáveis de campo; 4: Modelo de Variáveis LiDAR; 5: Modelo de Variáveis de Campo + LiDAR; V: volume médio (m³.ha-1 ); S²v : variância (m6 .ha-1 ); Sv : desvio padrão (m³.ha-1 ); CV: coeficiente de variação (%); IC1 : limite inferior do intervalo de confiança (m³.ha-1 ); IC2 : limite superior do intervalo de confiança (m³.ha-1 ). Todos os valores médios de volume apresentaram-se dentro do intervalo de confiança do inventário florestal. No entanto, os modelos de Schumacher e Hall não fornecem informações precisas a nível de parcela. Ao se analisar os valores obtidos individualmente para cada parcela, verifica-se uma variação de 0,02 a 150,89 %, para os modelos de Schumacher e Hall na sua forma linear e não linear, com uma tendência em superestimar os menores volumes e subestimar os maiores. Isso pode ser atribuído ao fato de que estes modelos foram treinados utilizando-se um menor número de variáveis que caracterizem o povoamento. Os demais modelos apresentaram desempenhos satisfatórios para estimação do volume a nível de povoamento, com erros relativos médios inferiores a 13 %. O modelo com variáveis de campo apresentou os melhores resultados, quando comparado com os demais. Uma desvantagem do modelo com variáveis LiDAR para estimação do volume, comparado com o modelo de variáveis de campo, é a não utilização de nenhuma variável relacionada ao diâmetro. Sabe-se que volume e diâmetro apresentam forte correlação e mesmo que algumas parcelas tenham apresentado menores valores de fração de cobertura vegetal, verificou-se indivíduos com maiores diâmetros e, consequentemente, maior volume. Os dados LiDAR apresentam um potencial de se tornarem uma importante ferramenta na estimativa de variáveis florestais como altura, DAP, área basal, número
- 125. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 12 114 de indivíduos e volume. Alguns estudos apresentam resultados positivos e indicam uma eficiência na utilização desta tecnologia associada a outras ferramentas. Carvalho et al. (2015) integraram geoestatística e escaneamento a laser e concluíram que o método proposto em seu estudo é tão preciso quanto os levantamentos feitos por inventários florestais convencionais, com diferenças médias de 0,7% na estimativa do volume e 0,18% para número de árvores. Laranja et al. (2015) avaliaram o uso combinado de levantamentos laser aerotransporto (ALS - Airborne Laser Scanning) e dupla amostragem para estimativa de volume em plantios de eucalipto, e destacaram o potencial de uso dos dados do sensor laser para melhorar as estimativas de volume do inventário florestal, possibilitando a redução da intensidade amostral. São necessários novos estudos a fim de encontrar uma metodologia ótima que possibilite a utilização da tecnologia LiDAR no setor florestal, contribuindo para melhoria nos resultados e condução dos inventários. 4 | CONCLUSÃO Os modelos avaliados neste trabalho apresentaram desempenhos satisfatórios, com erros relativos médios inferiores a 13 %. As estimativas volumétricas dos modelos apresentaram-se dentro do intervalo de confiança obtido com o processamento do inventário florestal, indicando o potencial de utilização da tecnologia LiDAR para estimação do volume a nível de povoamento. 5 | AGRADECIMENTO Ao programa ERASMUS+, à Universidad de Huelva, à UFVJM, à UFLA, Capes, FAPEMIG e CNPq. REFERÊNCIAS ANDERSEN, H. E.; MCGAUGHEY, R. J.; REUTEBUCH, S. E. Estimating forest canopy fuel parameters using LIDAR data. Remote Sensing of Environment, v. 94, p. 441 -449, 2004. ARUMÄE, T.; LANG, M. Estimation of canopy cover in dense mixed-species forests using airborne lidar data. European Journal of Remote Sensing, v. 51, n. 1, p. 132–141, 2017. BRANDALIZE, A. A. Perfilamento a LASER: Comparação Com Métodos Fotogramétricos. In.: XX CONGRESSO BRASILEIRO DE CARTOGRAFIA, Anais … CD ROM, Porto Alegre, 2001. CARVALHO, S. P. C.; RODRIGUEZ, L. C. E.; SILVA, L. D.; CARVALHO, L. M. T.; CALEGARIO, N.; LIMA, M. P.; SILVA, C. A.; MENDONÇA, A. R.; NICOLETTI, M. F.; Predição do volume de árvores integrando Lidar e Geoestatística. Scientia Forestalis. Piracicaba, SP, v. 43, p.627-637. 2015. COCHRAN, W. G. Sampling Techniques. 3 ed. New York, 1977. ERDODY, T. L.; MOSKAL, M. Fusion of LiDAR and imagery for estimating forest canopy fuels. Remote
- 126. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 12 115 Sensing of Environment, v. 114, n 4, p. 725-737, 2010. FIGUEIREDO, E. O.; OLIVEIRA, M. V. N.; FEARNSIDE, P. M.; PAPA, D. A. Modelos para estimativa de árvores individuais pela morfometria da copa obtida com LiDAR. Cerne, Lavras, MG, v.20, n.4, p. 621-628. 2014 GIONGO, M.; KOEHLER, H. S.; MACHADO, S. A.; KIRCHNER, F. F.; MARCHETTI, M. LIDAR: princípios e aplicações florestais. Pesquisas Florestais Brasileira, Colombo, PR, v.30, p. 231-244. 2010. GORGENS, E. B.; SILVA, A. G. P.; RODRIGUEZ, L. C. E. LIDAR: aplicações florestais. Editora CRV, 132 p., 2014. LARANJA, D. C. F; GORGENS, B. G.; SOARES, C. P. B; SILVA, A. G. P; RODRIGUEZ, L. C. E. Redução do erro amostral na estimativa do volume de povoamentos de Eucalyptus ssp. por meio de escaneamento laser aerotransportado. Scientia Forestalis, Piracicaba, SP, v. 43, p.845-852. 2015. MCGAUGHEY, R. J. FUSION/LDV: Software for LIDAR Data Analysis and Visualization - Version 3.50. US Department of Agriculture, Forest Service, Pacific Northwest Research Station, Seattle, WA, USA. 2015. OLIVEIRA, L. T.; FERREIRA, M. Z.; CARVALHO, L. M. T.; FERRAZ FILHO, A. C.; OLIVEIRA, T. C. A.; SILVEIRA, E. M. O.; ACERBI JUNIOR, F. W. Determinação do volume de madeira em povoamento de eucalipto por escâner a laser aerotransportado. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 49, n.9, p. 692-699. 2014. PEINHOPF, C. Determinação de variáveis dendrométricas de Eucalyptus urograndis com dados LiDAR Aerotransportado, 2012. Dissertação (Mestre em Ciências Florestais) – Universidade Estadual do Centro-Oeste, UNICENTRO. R CORE TEAM. R A language and environment for statistical computing. Vienna, Áustria, 2017. SCHUMACHER, F. X.; HALL, F. S. Logarithmic expression of timber-tree volume. Journal of Agricultural Research, v.47, n.9, p.719-734, 1933. ZONETE, M. F.; RODRIGUEZ, L. C. E.; PACKALÉN, P. Estimação de parâmetros biométricos de plantios clonais de eucalipto no sul da Bahia: uma aplicação da tecnologia laser aerotransportada. Science Forestalis, Piracicaba, SP, v.38, n. 86, p. 225-235. 2010.
- 127. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 13 116 CAPÍTULO 13 doi DECOMPOSIÇÃO DA TORTA DE FILTRO TRATADA COM ACELERADORES BIOLÓGICOS Pedro Henrique De Souza Rangel Universidade Estadual do Norte do Paraná Bandeirantes - Paraná Mariana Magesto De Negreiros Universidade Estadual do Norte do Paraná Bandeirantes - Paraná Guilherme Mendes Pio De Oliveira Universidade Estadual de Londrina Londrina - Paraná Robinson Osipe Universidade Estadual do Norte do Paraná Bandeirantes - Paraná RESUMO: A compostagem é um método alternativo para a produção de adubo, sendo um processo de reciclagem da matéria orgânica. O objetivo do trabalho foi avaliar a eficiência de aceleradores biológicos na redução do tempo de decomposição da torta de filtro, tal como a melhoria do substrato à base de torta de filtro para o cultivo de mudas de pepino (Cucumis sativus). Utilizou-se como cultivar o pepino caipira e delineamento experimental inteiramente casualizado com nove tratamentos e quatro repetições, sendo utilizados 100 Kg de torta de filtro para cada repetição. Foram utilizados os aceleradores biológicos Bioliq WT (B WT) e o EM4, sendo os tratamentos dispostos da seguinte forma: Tratamentos: 01 – Testemunha; 02 - 50 ml de WT; 03 - 100 ml de WT; 04 - 150 ml de WT; 05 - 50 ml de EM4; 06 - 100 ml de EM4; 07 - 150 ml de EM4; 08 - 100 ml de WT + 100 ml de EM4; 09 - 150 ml de WT + 150 ml de EM4. Os compostos foram avaliados em sua eficiência como substrato para mudas de pepino. Os tratamentos com 150ml do produto WT; 50ml do produto EM4 e 100ml do produto WT+100ml do produto EM4, foram os que apresentaram melhor resultado em relação à testemunha, evidenciando a viabilidade do uso destes produtos para acelerar a decomposição da torta de filtro. PALAVRAS-CHAVE:pepino,microrganismos, adubação orgânica. ABSTRACT: Composting is an alternative method for producing fertilizer, being a process of recycling organic matter. The objective of this work was to evaluate the efficiency of biological accelerators in the reduction of filter cake decomposition time, such as the improvement of the filter cake base substrate for cucumber seedlings (Cucumis sativus) cultivation. A completely randomized design with nine treatments and four replicates was used as cultivar, and 100 kg of filter cake was used for each replicate. The biological accelerators Bioliq WT (B WT) and EM4 were used, and the treatments were arranged as follows: Treatments: 01 - Witness; 02 - 50 ml
- 128. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 13 117 WT; 03 - 100 ml WT; 04-150 ml WT; 05 - 50 ml of EM4; 06 - 100 ml of EM4; 07 - 150 ml of EM4; 08 - 100 ml WT + 100 ml EM4; 9 - 150 ml WT + 150 ml EM4. The compounds were evaluated for their efficiency as substrate for cucumber seedlings. Treatments with 150ml WT product; 50ml of the product EM4 and 100ml of the product WT + 100ml of the product EM4, were the ones that presented better results in relation to the control, evidencing the viability of the use of these products to accelerate the decomposition of the filter cake. KEYWORDS: cucumber, microorganisms, organic fertilization. 1 | INTRODUÇÃO A compostagem é um processo controlado de decomposição que consiste na decomposição da matéria orgânica, de origem animal ou vegetal, por meio da ação de microrganismos, com liberação de gás carbônico e vapor de água, produzindo, ao final, um produto estável e rico em nutrientes. Vários trabalhos sobre esse processo de tratamento de resíduos sólidos foram desenvolvidos no Brasil (FILHO, 2011; INÁCIO, 2009). Resíduos provenientes do processo de fabricação de açúcar e álcool como vinhaça, torta de filtro e bagaço são excelentes alternativas para restabelecer o potencial produtivo de várias culturas, devido à liberação gradativa de nutrientes, presentes nestes materiais (Prado et al., 2008). A torta de filtro é um resíduo da indústria canavieira resultante da purificação do caldo sulfitado, de baixíssimo custo. Este resíduo pode ser utilizado como adubo, promovendo a melhora das propriedades físicas e biológicas do solo, aumento do potencial produtivo e qualidade da matéria prima cultivada (PRADO et al.,2013). Porém a decomposição deste subproduto é um processo lento, e o uso de substratos comercializados é de alto custo, tornando interessante a utilização de aceleradores biológicos na decomposição da torta de filtro. Desta forma, o trabalho teve por objetivo a avaliação da eficiência de aceleradores biológicos na redução do tempo de decomposição deste material, tal como a melhoria do substrato à base de torta de filtro para o cultivo de mudas de pepino (Cucumis sativus L.). 2 | MATERIAL E MÉTODOS O trabalho foi conduzido no viveiro da UENP/CLM – Universidade Estadual do Norte do Paraná, município de Bandeirantes-PR, situado na latitude 23° 06’S, longitude 50° 21’ W e altitude de 440 m, em 2013. O clima da região, segundo a classificação de Köppen-Geiger é caracterizado por ser Cfa, temperado subtropical úmido. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com 09 tratamentos
- 129. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 13 118 e 04 repetições, para cada repetição foram utilizados 100kg de torta de filtro. Os tratamentos foram dispostos da seguinte forma: Tratamentos: 01 – Testemunha; 02 - 50 ml de WT; 03 - 100 ml de WT; 04 - 150 ml de WT; 05 - 50 ml de EM4; 06 - 100 ml de EM4; 07 - 150 ml de EM4; 08 - 100 ml de WT + 100 ml de EM4; 09 - 150 ml de WT + 150 ml de EM4. Foram realizadas 3 aplicações dessas concentrações em seus respectivos tratamentos, com um intervalo de 5 dias entre cada aplicação. Todas as parcelas, quando necessario, foram devidamente irrigadas. Foi considerado término do periodo de compostagem, a estabilização da temperatura nos tratamentos. Posteriormente foram avaliados os diferentes compostos obtidos em sua eficiência como substrato para mudas de pepino. A semeadura foi realizada em tubetes sendo que para cada repetição foram utilizados 10 tubetes. As mudas foram cultivadas por um período de 42 dias, avaliadas semanalmente com relação a sua altura e ao final do cultivo foram avaliados peso verde, peso seco e comprimento de raiz. Os dados foram submetidos à análise de variância e ao teste de Scott-Knott a 5%. 3 | RESULTADOS E DISCUSSÃO Na tabela 1 estão dispostas as médias do peso verde, peso seco, altura e comprimento de raiz das mudas de pepino cultivada em substrato composto por torta de filtro, tratada de diferentes formas com aceleradores biológicos. PESO (g) ALTURA (cm) RAIZ (cm) Tratamento Peso verde Peso seco 1 semana 3 semana 6 semana Média T1 28,85f 8,42c 6,98b 17,45c 30,08f 12,25c T2 47,05e 9,40c 7,70b 19,98b 36,70c 15,52b T3 57,70c 11,30b 7,45b 19,65b 34,02d 16,48b T4 70,85b 11,95a 8,45a 21,62a 41,10a 18,50a T5 74,62a 12,15a 8,10a 20,95a 40,58a 15,30b T6 50,70d 10,55b 7,30b 19,30b 34,18d 16,38b T7 48,08e 10,97b 7,55b 18,48c 31,65e 15,10b T8 52,22d 10,55b 8,60a 21,92a 40,60a 16,60b T9 48,68e 10,42b 7,70b 19,92b 38,60b 15,08b C.V. 4,24% 6,60% 5,24% 4,50% 2,20% 8,58% Tabela 1. Média do peso verde, peso seco, altura e comprimento da raiz das plantas de pepino. Bandeirantes-Pr, 2013. Analisando o desenvolvimento das mudas de pepino, os resultados mostram que a utilização do substrato torta de filtro tratada com 150ml do produto WT apresentou a maior média no comprimento de raízes, com relação aos demais tratamentos. Já avaliando a altura, se mantiveram com maior média os tratamentos: 04 -150 ml de
- 130. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 13 119 WT; 05 - 50ml de EM4 e 08 – 100 ml de WT + 100 ml de EM4, apresentando grande diferença quando comparados aos demais tratamentos. Com relação ao peso seco, os tratamentos: 04 – 150 ml de WT e 05 – 50 ml de EM4, apresentaram melhores medias, ja avaliando o peso verde, apenas o tratamento 05 – 50 ml do produto EM4 teve uma média estatisticamente melhor. Segudo Kiehl (1998) durante o processo de compostagem é possível observar três fases: uma primeira inicial e rápida de fitotoxicidade ou de composto cru ou imaturo, seguida de uma segunda fase de semi-cura ou bioestabilização, para atingir finalmente a terceira fase, a humificação, acompanhada da mineralização de determinados componentes da matéria orgânica. Adubos orgânicos mal decompostos interferem no crescimento das plantas, devido à grande atividade microbiana que o mesmo promoverá, podendo induzir a inúmeras deficiências minerais, já que estes estarão sendo processado pelos microrganismos causando a imobilização de nutrientes. Podemos entender que a variância estatística nas avaliações das mudas de pepino se confere ao fato de que a torta de filtro utilizada como substrato, se encontrava em diferentes fases de maturação, e a principal causa dessa diferença, foram os diferentes tratamentos que esse material recebeu, onde a torta de filtro tratada com aceleradores biológicos apresentou grande diferença com relação à testemunha, que apresentou um grau de decomposição inferior aos demais tratamentos, principalmente aos tratamentos que obtiveram melhores desempenhos. 4 | CONCLUSÃO Os aceleradores biológicos testados demonstraram eficiência na diminuição do tempo de decomposição da torta de filtro, e melhoraram as características deste material para ser usado como substrato para mudas de pepino. Os tratamentos que apresentaram melhores resultados foram os tratamentos com 150 ml do produto WT, 50ml do produto EM4. REFERÊNCIAS INÁCIO, C.T.; MILLER, P.R.M. Compostagem: ciência e prática para gestão de resíduos orgânicos. Rio de Janeiro: Embrapa Solos, 2009. p.156. KIEHL, E. J. Manual de Compostagem: maturação e qualidade do composto. Piracicaba: E.J. Kiehl, 1998. PAREDES FILHO, M. V. Compostagem de lodo de esgoto para uso agrícola. Revista Agroambiental, v. 3, p. 73-80, 2011. PRADO, H.; JUNIOR, A.L.P.; GARCIA, J.C.; MORAES, F.L.; CARVALHO, J.P.; DONZELI, P.L. Solos e ambientes de produção. In: MIRANDA, L.L.; VASCONCELOS, A.C.M.; LANDELL, M.G.A. (Ed.) Cana-de-açúcar. Ribeirão Preto: Instituto Agronômico. p. 179-204, 2008. PRADO, R. M.; CAIONE, G.; CAMPOS, C. N. S. Filter cake and vinasse as fertilizers contributing
- 131. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 13 120 to conservation agriculture. Applied and Environmental Soil Science, v. 2013, p. 8, 2013.
- 132. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 14 121 CAPÍTULO 14 doi DESEMPENHO E PRODUÇÃO DE OVOS DE GALINHAS POEDEIRAS CRIADAS EM SISTEMA DE BASE AGROECOLÓGICA Marize Bastos de Matos Instituto Federal Fluminense Campus Avançado Cambuci – Cambuci-RJ Michele de Oliveira Mendonça Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais Campus Rio Pomba – Rio Pomba- MG Kíssila França Lima Instituto Federal Fluminense Campus Avançado Cambuci – Cambuci-RJ Iago da Silva de Oliveira e Souza Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – Campos dos Goytacazes – RJ Wanderson Souza Rabello Instituto Federal Fluminense Campus Avançado Cambuci – Cambuci-RJ Fernanda Gomes Linhares Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – Campos dos Goytacazes – RJ Henri Cócaro Instituto Federal do Sudeste de Minas gerais Campus Rio Pomba – Rio Pomba- MG Karoll Andrea Alfonso Torres-Cordido Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – Campos dos Goytacazes – RJ RESUMO: Uma pesquisa foi realizada objetivando avaliar parâmetros de desempenho e produção de ovos de poedeiras criadas em sistema agroecológico e comparar os resultados com dados de literaturas relacionados à produção e desempenho de galinhas criadas em sistemas não convencionais. Os parâmetros avaliados foram: produção média total de ovos (un.); produção média de ovos comercializáveis (%); peso médio dos ovos (g) massa de ovos (g/ave/dia); conversão alimentar por massa de ovos (kg/kg); consumo médio de ração (g/ ave/dia); peso corporal médio das aves (g) e índice de eficiência econômica. Os resultados médios encontrados foram: produção média total de 43,66 g; 90,99% de produção de ovos comercializáveis, com peso de 56,88 g; massa de ovos de 53,61 (g/ave/dia); CA por massa de ovos de 2,050; consumo médio de ração de 110,01g; peso corporal médio de 1899 g, e índice de eficiência econômica de 3,76. Os parâmetros avaliados estavam de acordo com dados das literaturas aos quais foram comparados, destacando-se a importância da continuidade de mais estudos relacionados a este modelo de criação de aves. PALAVRAS-CHAVE: Agroecologia, integração, sistema de produção agroecológico integrado e sustentável, sustentabilidade ABSTRACT: A research was carried out aiming to evaluate performance parameters and egg production of laying hens kept in an agroecological system and to compare the results of literature related to the production and performance of chickens reared in
- 133. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 14 122 unconventional systems. The evaluated parameters were: average total egg production (un.); average marketable egg production (%); mean weight of eggs (g) egg mass (g / bird / day); feed conversion by egg mass (kg / kg); average feed intake (g / bird / day); mean body weight of birds (g) and economic efficiency index. The average results were: average total production of 43.66 g; 90.99% yield of marketable eggs, weight 56.88 g; egg mass of 53.61 (g / bird / day); CA by egg mass of 2,050; average feed intake of 110.01 g; average body weight of 1899 g, and economic efficiency index of 3.76. The evaluated parameters were in agreement with data of the literature to which they were compared, being emphasized the importance of the continuity of more studies related to this model of poultry breeding. KEYWORDS: Agroecology, integration, integrated and sustainable agro-ecological production system, sustainability 1 | INTRODUÇÃO A preocupação dos consumidores com a saúde, qualidade e consumo de alimentos produzidos em sistemas não convencionais vem ganhando espaço e estão sendo os preferidos por um grupo cada vez maior de consumidores. A produção e o consumo de ovos produzidos nestes sistemas têm crescido nos últimos anos. Segundo Signor et al., (2011), os sistemas orgânicos e agroecológicos de produção animal devem adotar práticas que visem o seu bem-estar em todas as fases do processo produtivo para que o animal conviva de forma harmoniosa com os outros indivíduos e com o ambiente que está instalado. Para isso é essencial que seja ofertado um local de criação adequado para cada espécie, utilizando instalações higiênicas e funcionais. Faz-se necessário também, disponibilizar água de boa qualidade e em quantidade adequada, isenta de agentes químicos e biológicos que possam comprometer a saúde e vigor dos animais ou a qualidade dos produtos, bem como ofertar uma alimentação saudável, nutritiva e balanceada, de acordo com as necessidades de cada espécie. Pasian; Gameiro (2007) estudaram a viabilidade econômica de se produzir ovos em sistemas orgânicos, caipiras e convencionais e concluíram que o sistema orgânico é o que gera mais lucro comparado aos sistemas convencional, porém não é possível criar um grande número de aves, como ocorre no sistema convencional. Eles afirmaram que os outros sistemas produtivos orgânicos e caipiras são viáveis economicamente, são melhores aplicáveis a pequenas criações. Desta forma, o objetivo do trabalho foi avaliar o desempenho e a produção de ovos de um lote de poedeiras semipesadas da linhagem Lowman Brown® criadas em sistema de produção agroecológico integrado e sustentável, e realizar um comparativo com dados de literatura vigentes.
- 134. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 14 123 2 | METODOLOGIA O experimento foi conduzido nas dependências do Instituto Federal Fluminense (IFF) Campus Avançado Cambuci com um lote de 48 galinhas poedeiras da linhagem Lohmann Brown® de 51 semanas de idade, adquiridas pelo Núcleo de Estudos Agroecologia (NEA IFF Cambuci). As aves foram alojadas em galpão de alvenaria com mourões de eucalipto e telhado de amianto, com tela e área interna de 52,81 m² e dois piquetes de 192 m², plantados com capim Tifton (Cynodon spp). Foram colocados poleiros na parte interna do galpão (15 cm/ ave), além de ninhos. Ração farelada não comercial de postura e água foram fornecidas ad líbtum, e disponibilizados também para as aves, sobras de verduras da horta agroecológica do Campus que não eram utilizadas para consumo. A iluminação artificial foi adotada totalizando 16 horas diárias de fotoperíodo, de acordo com a recomendação para a produção de galinhas poedeiras em sistema agroecológico. As aves eram presas a noite e soltas durante o dia para terem acesso aos dois piquetes, ficando 28 dias em cada piquete. O manejo diário foi o de recolher e contabilizar os ovos, sendo computados diariamente o número de ovos quebrados, trincados, com casca mole e sem casca e fornecimento de ração.Todos os ovos íntegros produzidos foram pesados durante os três antepenúltimos dias de cada período de 28 dias (25º, 26º e 27º dia) para obtenção dos parâmetros zootécnicos de desempenho e produção de ovos avaliados. Os seguintes parâmetros foram avaliados: produção média de ovos/ave/dia; produção média de ovos comercializáveis; peso médio e massa de ovos; conversão alimentar por massa de ovos, consumo médio de ração e peso médio das aves, além do índice de eficiência econômica (IEE), cuja fórmula é: (kg de ovos produzidos x preço por kg de ovo)/(consumo de ração x preço do kg da ração). Após a avaliação, os dados obtidos foram comparados com os dados de literaturas vigentes. 3 | RESULTADOS Os resultados referentes aos parâmetros de desempenho e produção de ovos de aves criadas em sistema agroecológico integrado e sustentável são apresentados na Tabela 1. Os dados de produção média de ovos variaram entre 44 e 43 ovos por dia com uma média de 43,66. Já porcentagem de produção de ovos comercializáveis obteve- se uma média de 90,99%; a massa de ovos variou de 52,77; 55,29 e 52,77 gramas, respectivamente. No que diz respeito à conversão alimentar por massa de ovos, a média foi de 2,05 enquanto que o consumo médio de ração variou de 100,33; 109,55 e 120,15 gramas, com média de peso vivo das poedeiras variando respectivamente entre 1901; 1871 e 1899 gramas, nos três períodos de 28 dias, avaliados e índice de eficiência Econômica (IEE) com média de 3,76.
- 135. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 14 124 Parâmetros de desempenho e produção de ovos de poedeiras semipesadas avaliados em três períodos de 28 dias Desempenho/produção Períodos (1) (2) (3) Média Desv Pad** Produção média de ovos/dia (un.) 44 43 44 43,66 0,471 Produção de ovos comercializáveis (%) 91,70 89,58 91,70 90,99 0,999 Peso médio dos ovos (g) 57,55 61,73 57,81 56,88 1,130 Massa de ovos (g/ave/dia) 52,77 55,29 52,77 53,61 1,180 *CA por massa de ovos (kg/kg) 1,901 1,981 2,276 2,050 0,161 Consumo médio de ração (g/ave/dia) 100,33 109,55 120,15 110,01 8,090 Peso corporal médio das aves (g) 1901 1871 1926 1899 22,48 Índice de eficiência econômica 4,01 3,91 3,36 3,76 0,284 Tabela 1- Resultados de desempenho de poedeiras semipesadas da linhagem Lowman Brown® criadas em sistema agroecológico integrado e sustentável no IFF Campus Avançado Cambuci, durante três períodos de 28 dias. *CA= Conversão Alimentar; ** Desv Pad = Desvio Padrão da média 4 | DISCUSSÃO De acordo com os resultados apresentados, as aves mantiveram uma média de produção e de desempenho satisfatórios, e ficaram acima dos resultados apontados por Gentilini et al ., (2009) quando avaliaram poedeiras da linhagem da linhagem Hisex Brown® alojadas em gaiolas entre 26 e 42 semanas a cada período de 28 dias e encontraram valores de porcentagem de produção de ovos de 83,90% g/ave/ dia, consumo de ração de 117,03 gramas e peso corporal médio das aves de 1703 gramas, o que pode ser explicado pelo fato de linhagens serem diferentes, bem como o sistema de criação. Já os resultados de Forgiani et al., (2016) se aproximaram mais dos valores encontrados no trabalho em questão uma vez que também trabalharam com a linhagem Lohmann Brown®, e encontraram valores de peso corporal de 1954,20 gramas e massa de ovos de 56,62 gramas. As aves foram criadas também sistema agroecológico. O manual da linhagem (Lohmann, 2016), indica que o consumo de ração desta linhagem varia entre 110 e 120 gramas, com média de peso corporal de 1932 gramas e massa de ovos de 58 g/ave/dia e comparando com dados do trabalho em questão, há uma aproximação com o referido manual, apesar das aves do trabalho serem criadas em sistema agroecológico. Neste sistema as mesmas possuem acesso a piquetes, que lhes permitem ciscar, empoleirar e tomarem banho de terra, ou seja, se movimentaram livremente, sendo atendidas todas as liberdades preconizadas para a manutenção do bem estar; além disso, têm acesso ao excedente de hortaliças advindas da horta agroecológica da escola que não vão para a merenda escolar. Os valores do índice de eficiência produtiva (IEE) do lote nos períodos estudados indicaram que ele foi reduzindo à medida que as aves foram ficando mais velhas, além disso, a conversão alimentar por massa de ovos piorou e o consumo aumentou,
- 136. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 14 125 sendo esta uma tendência natural das galinhas poedeiras, conforme demonstrado no manual da linhagem (Lohmann, 2016), destacando-se assim a viabilidade econômica da criação de um lote de poedeiras neste sistema, pois quanto maior o valor do IEE, melhor a relação custo benefício da produção, visto que os valores de desempenho produtivos demonstrados ficaram dentro dos padrões preconizados pela literatura. 5 | CONCLUSÃO A criação de aves em sistema de produção agroecológico integrado e sustentável pode ser uma alternativa viável para complementar a renda do agricultor familiar, visto que os valores de desempenho produtivos estão dentro dos padrões preconizados pela literatura, destacando-se a importância da continuidade de mais estudos relacionados a este sistema de criação. 6 | AGRADECIMENTOS Ao CNPQ/MAPA/MCTI, pelo fomento; ao IFF Campus Bom Jesus de Itabapoana pela produção de ração para as aves e aos funcionários de “campo” do IFF Campus Avançado Cambuci pelo manejo e cuidados com as aves. REFERÊNCIAS FORGIARINI, J.; SILVA, S.N.; KRABBE, E.L.; SUREK, D.; ÁVILA, V.S.; XAVIER, E.G. Desempenho produtivo de poedeiras embrapa 051 sob diferentes programas alimentares em comparação com uma linhagem comercial. In: SEMINÁRIO TÉCNICO CIENTÍFICO DE AVES E SUÍNOS – AVESUI. Florianópolis, 2016. Disponível em: < https://ainfo.cnptia.embrapa.br. Acesso em: 19 ago. 2018. GENTILINI, F.P.; GONÇALVES, F.M.; SILVA, R.A.G.; NUNES, P.M.; ANCIUTI, M.A.; RUTZ, F. Desempenho produtivo e qualidade de ovos de poedeiras semipesadas com adição de extrato de leveduras na dieta. Revista Ciência Animal Brasileira, v. 10, n. 4, p. 1110-1114, 2009. LOHMANN DO BRASIL. Guia de Manejo Lohmann Brown. São José do Rio Preto – SP, 2016. PASIAN, I.M.D.L.; GAMEIRO, A.H. Mercado e viabilidade econômica da criação de poedeiras em sistemas do tipo orgânico, caipira e convencional. In: CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E SOCIOLOGIA RURAL, 2007, Londrina. p.1-20. Disponível em: <http://paineira.usp.br. Acesso em: 17 ago. 2018. SIGNOR, A.A.; ZIBETTI, A.P.; FEIDEN, A. Produção Orgânica Animal. Editora: GFM Gráfica & Editora, 138p., 2011.
- 137. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 15 126 CAPÍTULO 15 doi DESEMPENHO PRODUTIVO DA CULTURA DO MILHO ADUBADO COM DOSES DE CAMA DE AVIÁRIO Alfredo José Alves Neto UNIOESTE, Programa de Pós Graduação em Agronomia. Campus Marechal Cândido Rondon – PR Leonardo Deliberaes PUC PR, Curso de Agronomia. Campus Toledo – PR Álvaro Guilherme Alves Centro Universitário UNIVEL, Curso de Administração. Cascavel – PR Leandro Rampim UNICENTRO, Professor do curso de Agronomia. Campus Guarapuava – PR Jéssica Caroline Coppo UEM, Programa de Pós Graduação em Agronomia. Campus Maringá – PR Eloísa Lorenzetti UNIOESTE, Programa de Pós Graduação em Agronomia. Campus Marechal Cândido Rondon – PR RESUMO: Dentre dos fatores que compõe custo produtivo da cultura do milho, a adubação é o mais oneroso. O nitrogênio, nutriente com maior requerimento se torna a principal preocupação, devido à sua quantidade e dinâmica com o ambiente. Uma forma alternativa para suprir a demanda desse nutriente, está no uso de cama de frango. O objetivo do foi avaliar as características agronômicas e produtivas da cultura do milho cultivado no período de verão, sob doses de cama de frango de 12 lotes, em um Latossolo, cultivado no sistema de semeadura direta. O experimento foi desenvolvido em delineamento de blocos casualizados com oito tratamentos, constituídos de doses de cama de frango sendo 0,0; 2,0; 4,0; 6,0; 8,0; 10,0; 15,0 e 20,0 t ha-1 , onde na dose 0,0 t ha-1 foi aplicado 60 kg ha-1 de N na forma de ureia. As avaliações consistiram nos parâmetros biométricos da cultura.Osresultadosmostraramqueaelevação das doses de cama de frango, causaram efeito significativo sobre a altura de planta, altura de inserção da espiga e comprimento de espiga, sendo verificado para todas efeito linear positivo.Assim pode-se concluir que a aplicação da cama de frango eleva o potencial produtivo da cultura do milho, sendo as doses acima de 10,0 t ha-1 promovem maiores incrementos na produtividade final do milho, em um Latossolo, no sistema de semeadura direta. PALAVRAS-CHAVES: Zea mays, cama de frango, dejetos de animais, parâmetros biométricos, produtividade. ABSTRACT: Among the factors that compose the productive cost of maize crop, fertilization is the most costly. Nitrogen, the nutrient with the highest requirement, becomes the main concern
- 138. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 15 127 due to its quantity and dynamics with the environment. An alternative way to supply the demand for this nutrient poultry litter litter. The objective of this study was to evaluate the agronomic and productive characteristics of maize cultivated in the summer, under doses of poultry litter bed of 12 lots, in an Oxisol, cultivated in the no - tillage system. The experiment was carried out in a randomized block design with eight treatments, consisting of doses of poultry litter bed being 0,0; 2,0; 4,0; 6,0; 8,0; 10,0; 15,0 e 20,0 t ha-1 , where at the 0,0 t ha-1 dose 60 kg ha-1 of N in the form of urea was applied. The evaluations consisted of the biometric parameters of the culture. The results showed that the elevation of poultry litter bed doses had a significant effect on plant height, ear insertion height and ear length, and was verified for all positive linear effects. Thus, it can be concluded that the application of the poultry litter litter raises the productive potential of the maize crop, and the doses above 10,0 t ha-1 promote greater increases in maize final yield, in an Oxisol, in the sowing system direct. KEYWORDS: Zea mays, poultry litter, animal waste, biometric parameters, productivity. 1 | INTRODUÇÃO O milho (Zea mays L.) é uma das principais culturas cultivadas no mundo,pertencente à família Poaceae, sendo uma planta anual, ereta, com folhas alternadas do tipo lanceoladas, com classificação do metabolismo fisiológico pertencente ao grupo C4 (CASTRO e KRUGER, 1999). Atualmente, o milho possui a maior área cultivada mundialmente com 88 milhões de acres, com uma produção mundial estimada em 970 milhões de toneladas, tendo no Estados unidos a maior produção com 345,5 milhões de toneladas, seguida da China com 224,5 milhões de toneladas, sendo o Brasil o terceiro maior produtor com uma produção estimada em 84 milhões de toneladas (USDA, 2016). No Brasil, a área cultivada com milho primeira e segunda safra, na safra 2015/2016 será de 15341,8 mil hectares, que representará segundo Conab (2016), 83336 mil toneladas, sendo que o estado do Paraná terá uma área cultivada de 2453,7 mil hectares e uma produção de 15574,3 mil toneladas, sendo desse montante 3618 mil toneladas produzidas na safra verão e o restante no período de safrinha (segunda safra) (CONAB, 2016). Outro ponto de fundamental importância para altas produtividades do milho está na sua nutrição mineral, esse extrai grandes quantidades de nutrientes do solo, sendo citado que para uma produção de 10 t ha-1 de grãos, são necessários 217 Kg ha-1 de N, 42 Kg ha-1 de P, 157 Kg ha-1 de K e 32 Kg ha-1 de Ca e Mg (COELHO e FRANÇA, 1995). Tendo em vista a alta demanda por nutrientes, em especial o nitrogênio, que se apresenta de difícil manejo na agricultura devido a dinâmica do nutriente que é rapidamente perdido por volatilização, lixiviação, ou ainda imobilizado pela comunidade microbiana no solo (TRIVELIN et al., 2002; SANGOI et al., 2002), faz com que altas doses sejam empregadas, o que dificulta seu uso na semeadura, sendo necessário a aplicação em cobertura, que apresenta uma eficácia de aproximadamente 50% do total
- 139. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 15 128 fornecido (CABEZAS e COUTO, 2007). Assim, novos métodos vêm sendo estudados para maximizar o uso do nitrogênio na agricultura, como utilização de fontes mais eficientes em fornecimento de N, como os nitrogenados com inibidores de uréase (TASCA et al., 2011). Contudo, outra forma de maximizar o uso do N, bem como dos demais nutrientes, está no uso de resíduos da avicultura, denominada cama de frango ou cama de frango. A cama de frango está disponível em grandes quantidades, visto que o Brasil é um dos maiores produtores mundiais de frango, sendo a região Sul destaque na cadeia nacional, sendo no ano de 2012 estimado uma produção de cama de frango de 6,814 milhões de m³ (CORRÊA e MIELE, 2012), o que segundo os mesmos autores corresponderia a um total de nutriente N, P2 O5 e K2 O de 238, 273 e 204 mil toneladas destes, respectivamente. Visto o grande potencial de utilização da cama de frango vários trabalhos foram desenvolvidos na cultura do milho visando a substituição da adubação mineral pela cama de frango. No sistema de integração lavoura pecuária, sem pastejo, foi demostrado que o uso de 9,0 t ha-1 seria o recomendado para se obter a máxima produtividade de milho, enquanto com o pastejo a dose de máxima eficiência foi de 7,0 t ha-1 , sendo que a cama de frango apresentava 2,2% de N, 4,68% P2 O5 e 3,03% de K2 O (NOVAKOWISKI et al., 2013), em outro estudo em sistema de integração lavoura pecuária, a adubação da aveia com cama de frango elevou a produção de massa seca, que representou ganhos em produtividade posterior na cultura do milho, nas doses de 7500 kg ha-1 , tendo a cama 3,28% de N, 1,41% P2 O5 e 4,10% de K2 O (SANTOS et al., 2014), sendo relatado ainda que o uso da cama de frango, modificou positivamente as propriedades químicas do solo, em um Latossolo Vermelho Eutroférrico. Por sua vez, em sistema de produção orgânica, foi demostrado que o uso de 5 t ha-1 ano, foi capaz de elevar a produtividade do milho acima dos 9000 kg ha-1 (HANISCH et al., 2012). No sistema de semeadura direta, amplamente distribuído pelo território nacional a eficácia na utilização da cama de frango da mesma forma, é relatado. Em estudos com cama de frango com 3,69 %de N, 2,21% P2 O5 e 1,86% de K2 O, em um Latossolo Vermelho eutroférrico, foi demostrado que a elevação das doses de cama de frango elevaram a produtividade do milho (CONTE et al., 2014), na mesma classe de solo utilizando uma cama de frango com 3,08% de N, 1,82% de P2 O5 e 2,40% de K2 O, foi demostrado que o uso de 15 t ha-1 apresentou a máxima produtividade da cultura do milho (CASTRO et al., 2013). Em um Latossolo Vermelho Eutroférrico, o uso de 8 t ha-1 de cama de frango obteve a máxima produtividade da cultura (FELINI e BONO 2011). Sendo que a viabilidade financeira no uso da cama de frango, frente a adubação mineral é demostrada na região Oeste do Paraná (BULEGON et al., 2012). Como demostrado, embora os resultados sejam positivos, eles mostram divergências entre si, mesmo dentro da mesma classe de solo, o que demostra que a pesquisa é de fundamental importância para continuar a demostrar a eficiência agronômica da cama de frango.
- 140. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 15 129 Dessa forma sob a hipótese, que o uso de cama de frango pode substituir totalmente a adubação nitrogenada na cultura do milho, entretanto devido a existência da grande variação química, e que as doses a serem utilizada variam dentro de cada classe de solo. O presente trabalho, teve como objetivo avaliar as características agronômicas e produtivas da cultura do milho cultivado no período de verão, sob doses de cama de frango de 12 lotes, em um Latossolo Vermelho Eutroférrico, cultivado no sistema de semeadura direta. 2 | MATERIAL E MÉTODOS O experimento foi conduzido no município de Formosa do Oeste, localizado no estado do Paraná, sob as coordenadas -24°,30’ S e -53°,34’ O, em uma propriedade particular. A área experimental se encontrava no sistema de plantio direto consolidado, estando em rotação de cultura, tendo como cultura antecessora aveia no inverno e soja no verão.As condições climáticas e ambientais foram obtidas juntos a Cooperativa Agroindustrial Consolata – Copacol, e estão demostrados na Figura 2, não sendo constatados condições ambientais que prejudicasse o desenvolvimento da cultura do milho. Figura 2: Condições climáticas durante a condução do experimento. Fonte: Copacol (Cooperativa Agroindustrial Consolata) - 2014/2015, adaptado pelo autor. Precipitação total: 1175,85 mm. Previamente a instalação do experimento foi realizada uma amostragem de solo na profundidade de 0-20 e 20-40 para a caracterização química e física do solo, que foi classificado do tipo Latossolo Vermelho Eutroférrico, de textura muito argilosa (EMBRAPA, 2013), não sendo constatado a necessidade de correção do mesmo, visto que a saturação de bases (V%), encontrava-se adequado para a cultura do milho (EMBRAPA, 2010).
- 141. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 15 130 Profu. MO C total P pH H+Al Al3+ K+ Ca2+ Mg2+ SB CTC V g dm-3 % mg dm-3 CaCl2 ----------------------------cmolc .dm-3 ------- ------------------- % 0-20 1,81 1,05 11,81 5,24 4,31 0,0 0,37 6,23 1,62 8,22 12,53 65,66 20-40 1,31 0,76 6,86 5,25 4,18 0,0 0,24 5,69 1,46 7,39 11,57 63,87 Micronutrientes Granulometria --------------------------mg dm³------------------- -----------------------------g kg-1----------------------------- Cu Zn Fe Mn B Argila Silte Areia 0-20 13,79 8,12 41,76 191,19 0,21 820 130 50 Tabela 1: Características químicas e físicas do solo da área experimental, antes da implantação do experimento. MO: Matéria Orgânica; SB: Soma de Bases; CTC: Capacidade de Troca Catiônica; V: Saturação de Bases. O experimento foi conduzido sob o delineamento de blocos casualizados, com oito tratamentos e quatro blocos, totalizando 32 parcelas experimentais. Os tratamentos foram consituidos de oito doses de cama de frango 0,0; 2,0; 4,0; 6,0; 8,0; 10,0; 15,0 e 20,0 t ha-1 , sendo que o tratamento testemunha recebeu 60 kg ha-1 de nitrogenio na forma de ureia. As parcelas experimentais eram constituidas de 4 linhas espaçadas entre si por 0,85 metros, com 5 metros de comprimento, totalizando uma área total de 17 m². A semeadura foi realizada no dia 30 de agosto de 2014, com auxílio de uma semeadoura de precisação, composta por 4 linhas espaçadas entre si por 0,85 m, sendo utilizada a cultivar 2A620PW Dow sementes, que recebeu como tratamento de sementes fipronil + piraclostrobina + tiofanato metílico, sendo o presente classificado como híbrido simples de alto potencial produtivo, com altura de planta de aproximadamente 240 cm, altura de inserção de espiga de 112 cm (IAC, 2015). Foi utilizado uma densidade de 5,3 sementes por metro, com uma população final de plantas de 63 mil plantas hectare. Como adubação de base todas as parcelas receberam 250 kg ha-1 , do formulado 10-15-15, totalizando 25 kg ha-1 de N, 37,5 kg ha-1 de P2 O5 e K2 O. O fornecimento da cama de frango ocorreu após a emergência das plantas, sendo realizada no dia 11 de setembro de 2014, de forma manual, a aplicação da ureia em cobertura no tratamento testemunha foi realizada no dia 31 de setembro, quando a cultura encontrava-ve no estádio fenológico V6.A cama de frango utilizada foi proveniente da propriedade, sendo essa com base de maravalha de pinus, sendo acomodado 12 lotes consecutivos de frango, sendo os lotes de 45 dias, antes da utilização da cama de frango essa foi amostrada para a avaliação da composição química da cama de frango (Tabela 2).A partir da caracterização química da cama de frango, foi calculado o teor de macronutrientes fornecidos a cultura para cada dose utilizada, considerando-se o teor total, e não aqueles a serem mineralizados no primeiro ano de cultivo (Tabela 3).
- 142. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 15 131 C.A N total P2 O5 K2 O Ca Mg MS -----------------------------------g kg-1 --------------------------------- ----%---- 25 38 30 42 9 75 Tabela 2: Composição química da cama de frango utilizado no experimento. C.A: cama de frango; MS: matéria seca. Valores com base no método de CQFS RS/SC, (2004). Tratamento (kg ha-1 ) Adubação Química (kg ha-1 ) Cama de frango (kg ha-1 ) N total (kg ha-1 )N P2 O5 K2 O N P2 O5 K2 O 0,0 85 37,5 37,5 - - - 85 2,0 25 37,5 37,5 50 76 60 75 4,0 25 37,5 37,5 100 152 120 125 6,0 25 37,5 37,5 150 228 180 175 8,0 25 37,5 37,5 200 304 240 225 10,0 25 37,5 37,5 250 380 300 275 15,0 25 37,5 37,5 375 570 450 400 20,0 25 37,5 37,5 500 760 600 525 Tabela 3: Demonstração do total de macronutrientes fornecidos a cultura do milho via adubação química e via cama de frango Os tratos culturais foram realizados levando em conta o nível de dano econômico para pragas, doenças e plantas daninhas. A colheita das parcelas experimentais ocorreu no dia 24 de janeiro de 2015, de forma manual, excluindo-se as duas linhas laterais, bem como 0,5 metro de cada extremidade, tendo assim uma área útil colhida de 6,8 m², que foi posteriormente submetida a trilha, tendo sua umidade determinada, para conversão da produtividade para um teor de 13% de umidade em base úmida. 2.1 Avaliações 2.1.1 Componentes biométricos em plantas Foram avaliados três paramentos ligados a planta no momento da colheita da cultura do milho, para isso dentro da área útil foram selecionadas aleatoriamente 10 plantas, as quais tiveram mensuradas a altura de plantas, com o uso de uma trena graduada em cm, considerada a superfície do solo como o ponto inicial, até a parte mais elevada no ápice da planta. Ainda foi tomada a altura de inserção da espiga, tendo como base a superfície do solo até o ponto de inserção da espiga no colmo, considerando-se apenas espigas completamente formadas. Da mesma forma, nesse momento foi tomada o diâmetro do colmo, com auxílio de um paquímetro digital, sendo a medida realizada a cerca de 15 cm da superfície do solo, na direção leste-oeste e norte-sul, sendo realizada a média entre ambas (TEIXEIRA e COSTA, 2010). 2.1.2 Componentes produtivos de espigas Após a realização da colheita, 10 espigas foram escolhidas aleatoriamente dentro
- 143. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 15 132 da área útil, sendo essas despalhadas para determinação do diâmetro de espiga, com auxílio de um paquímetro digital, tomando-se a medida na parte central da espiga.Após utilizando-se trena graduada em centímetros, foi tomado o comprimento de espiga, sendo esse mensurado da base até o ápice da espiga. Após foram determinados através da contagem manual o número de grãos por fileira, e o número de fileira de grãos, na região central da espiga (TEIXEIRA e COSTA, 2010). 2.1.3 Produtividade Após a colheita das espigas e determinação das demais características produtivas, as espigas, foram submetidas à trilha mecânica, sendo trilhadas todas as espigas contidas dentro da área útil, e determinado o peso total através da pesagem e expresso em Kg e após extrapolado para Kg ha-1 , sendo ainda realizada a correção para 13% de umidade em base úmida. 2.1.4 Massa de mil grãos O peso de mil grãos foi determinado de acordo com a metodologia descrita na Regras de Análise de Sementes (BRASIL, 2009), e os resultados foram corrigidos para um teor de umidade de 13% e expressos em gramas. 2.2 Analises estatísticas Após mensurados e pesados, os dados foram tabulados, sendo determinado as médias entre aquelas características avaliadas em 10 plantas, após foram submetidos a análise de variância pelo teste F de Fisher, considerando-se o nível de 5% de probabilidade, e quando constatas diferenças significativas, os dados foram submetidos a análise de regressão até a terceiro nível, com auxílio do programa estatístico SISVAR (FERREIRA, 2011). As variáveis que não apresentaram efeito significativo (p >0,05) tiveram suas médias demostradas graficamente, contudo sem realizar ajustes matemáticos. 3 | RESULTADOS E DISCUSSÃO Ao avaliar a análise de variância das variáveis é possível observar que foram constatados efeitos significativos das doses de cama de frango (p≤0,05) para as variáveis altura de planta, altura de inserção de espiga e comprimento de espigas. Para as demais características amostradas não foram observados efeitos significativos das doses de cama de frango (p>0,05). Dentro das variáveis com efeito significativo, o modelo de regressão linear se mostrou significativo, não sendo verificado ajuste quadráticos, cúbicos ou ainda desvios de regressão significativos (Tabela 4).
- 144. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 15 133 FV GL ALT P ALT E DC CE DE NF NGF PRO M1000 Bloco 3 1,023ns 0,724ns 4,262* 1,961ns 0,708ns 5,159* 2,404ns 0,915ns 1,039ns C.A. 7 3,286* 0,001* 1,270ns 2,852* 0,969ns 0,800ns 0,904ns 1,605ns 1,052ns Erro 21 Total 31 Desdobramento das regressões R. L. 1 16,231* 30,310* - 16,370* - - - - - R. Q. 1 0,087 ns 1,863ns - 0,003ns - - - - - R. C. 1 0,055 ns 0,047ns - 0,269ns - - - - - D. R. 4 1,658 ns 1,706ns - 0,831ns - - - - - C.V(%) 3,94 6,39 5,35 3,82 15,23 2,99 5,66 7,97 44,50 Tabela 4: Resumo da análise de variância, valores de F calculado para altura de planta (ALT P), altura de inserção da espiga (ALT E), diâmetro de colmo (DC), comprimento de espiga (CE), diâmetro de espiga (DE), número de fileiras de grãos (NF), número de grãos por fileira (NGF), produtividade (PRO) e massa de mil grãos (M1000), de plantas de milho cultivadas no período de verão com doses crescente de cama de frango (C. A.), na região Oeste do Paraná. ns não significativo pelo teste F a 5% de probabilidade. *significativo pelo teste F a 5% de probabilidade. G.L: grau de liberdade; C.V(%): coeficiente de variação. R. L: regressão linear. R. Q: regressão quadrática. R. C: regressão cubica. D. R: desvio da regressão. O não efeito significativo das doses de cama de frango podem estar associados ao grande ataque de tripes (Frankliniella williamsi) durante o desenvolvimento inicial da cultura do milho. O tripes é um inseto praga que se alimenta da seiva das plantas, para isso raspam a superfície foliar e sugam a seiva que é extravasada pelo ferimento que ele originou (MOREIRA e ARAGÃO, 2009), devido a essa raspagem e perda de conteúdo celular as folhas apresentam manchas amarelas, que evoluem para aspectos necrosado, sendo ainda observado enrolamento foliar, devido a essas lesões foliares a planta praticamente paralisa seu desenvolvimento vegetativo (CRUZ et al., 2012), comprometendo assim o desenvolvimento inicial do milho. A planta de milho após o controle adequado da praga continua seu desenvolvimento, entretanto, embora o milho apresente suas estruturas reprodutivas após o período Vt (formação do pendão), vários processos de diferenciação celulares e formações de estruturas ocorrem anteriormente a esse período. Danos do tripes na cultura do milho foram demostrados por Albuquerque (2004), principalmente durante o desenvolvimento inicial da cultura do milho, sendo que os 12 primeiros dias são considerados o período crítico, podendo se estender. Assim, são demostrados que o tratamento de sementes de milho com inseticidas do grupo dos tiametoxam apresentam eficácia por até 12 dias no controle do tripes (ALBUQUERQUE et al., 2006), por sua vez Cruz et al. (1999), demostram que essa eficiência é de apenas sete dias. Desta forma mesmo estando as plantas sob o período de ação do tratamento de sementes, esse não foi suficiente para controlar a grande intensidade de ataque do tripes, sendo que esse ocorreu quando a planta de milho se encontrava principalmente investindo em formação do sistema radicular (RITCHIE et al., 2003), o qual será responsável pela absorção de água e nutrientes para o crescimento da cultura do milho,
- 145. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 15 134 o que limitou a absorção de nutrientes providos da cama de frango e consequentemente limitou o desenvolvimento da espiga e por fim culminou em produtividade próxima em todos os tratamentos. Ao avaliar o desdobramento das doses para a altura de plantas (Figura 3A) e altura de inserção da espiga (Figura 3B) foi verificado efeito linear positivo, evidenciando que o aumento nas doses de cama de frango, elevam ambas as características. Dentro da altura de plantas a reta apresentou uma pequena inclinação positiva, com coeficiente de determinação de 70,56%. Enquanto na altura de inserção da espiga foi verificado um maior ângulo de inclinação da reta, o que demostra que essa variável foi mais responsiva as doses de cama de frango, sendo que o aumento desses levou a um aumento na altura de inserção da espiga, sendo obtido um coeficiente de determinação de 77,63%. Figura 3: Altura de plantas (A) e de inserção de espigas (B) no momento da colheita de plantas de milho cultivadas no período de verão com doses crescente de cama de frango na região Oeste do Paraná, no ano agrícola de 2014/2015. Os resultados encontrados para a altura de planta e altura de inserção da espiga estão ligados à maior disponibilidade de nutrientes fornecidos a cultura do milho (Tabela 3), principalmente o nitrogênio, que é o nutriente extraído em maior quantidade pela cultura. Esse fato está ligado ao tempo de decomposição da cama de frango e disponibilização dos nutrientes, é relatado que cerca de 30 dias são suficientes para fornecer uma quantidade aquedada para o desenvolvimento de plantas de milho (SILVA et al., 2011). Em estudo do tempo de mineralização de compostos orgânicos, Mello e Vitti (2002), citam que devido a relação C/N da cama de frango a mineralização do N ocorre de forma rápida, sendo disponível cerca de 50% no primeiro cultivo. Em estudos mais recentes foi demonstrado potencial de mineralização da cama de frango de 49,7% (ANDRADE et al., 2015). A B
- 146. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 15 135 O nitrogênio, interfere diretamente no desenvolvimento de plantas, pois está envolvido no processo de diferenciação e expansão celular (TAIZ e ZEIGER, 2013), assim com o aumento das doses da cama de frango foi possibilitado maior alongamento do colmo e do ponto de inserção da espiga. Esses resultados concordam com os relatados na literatura em diferentes espécies de gramíneas (PATÊS et al., 2007; RODRIGUES et al., 2008; LOBO et al., 2014) Os resultados encontrados no presente estudo são semelhantes aos obtidos em trabalhos com doses de cama de frango, onde a aplicação de 20 t ha-1 em um Latossolo Vermelho Distroférrico promoveu maior altura de plantas, sendo que a cama apresentava 4,7% de N 1,3 % de P2 O5 e 1,69% de K2 O (SILVA et al., 2011), os autores associaram esse efeito ao maior teor de matéria orgânica no solo. A matéria orgânica no solo exerce papel fundamental no complexo de nutrientes, levando ao aumento da disponibilidade na fração solúvel do solo, podendo levar a um aumento no potencial produtivo das culturas (COSTA et al., 2013). Conte et al. (2014), da mesma forma, citam que a dose de 20 t ha-1 , de cama de frango com base de maravalha, promoveu aumento na altura de plantas de milho, de forma linear, num sistema de semeadura direta. O comprimento de espiga da mesma forma, apresentou comportamento linear, sendo verificado aumento no comprimento de espigas com a elevação das doses de cama de frango, contudo pequenos incrementos devido ao pequeno valor obtido para o ângulo de inclinação da reta, com coeficiente de determinação de 81,99% (Figura 4). O comprimento da espiga está diretamente ligado com o potencial produtivo do milho, visto que espigas de maior tamanho podem possuir maior número de grãos na fileira o que pode ser observado nas maiores doses de cama de frango (Figura 5D), onde os valores ficaram acima de 35 grãos por fileiras, enquanto na testemunha os valores ficaram entorno de 33 grãos por fileiras. Espigas que apresentam maiores tamanhos estão associados a maiores produtividades de plantas de milho, visto que essa característica exerce efeito sobre o aumento do peso dos grãos (FRANCELLI e DOURADO NETO, 1999; LOPES et al., 2007), a mesma condição foi demostrado em estudo de doses de N no milho após o cultivo da soja (KAPPES et al., 2009). Goes et al. (2012), citam que maior comprimento da espiga liga-se ao um maior número potencial de grãos a ser formado por fileira, sendo que Gazola et al. (2014), demostra que a aplicação de 133 kg ha-1 de N em cobertura causou incrementos de até 5 cm no comprimento final da espiga.No presente estudo os incrementos em comprimentos de espiga da mesma forma, refletiram em maior produtividade da cultura onde as doses acima de 10 t ha-1 elevaram a produtividade acima dos 8500 kg ha-1 (Figura 6A).
- 147. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 15 136 Figura 4: Comprimento de espigas no momento da colheita de plantas de milho cultivadas no período de verão com doses crescente de cama de frango na região Oeste do Paraná, no ano agrícola de 2014/2015. As variáveis diâmetro de colmo (Figura 5A) e espiga (Figura 5B), número de fileiras de grãos (Figura 5C) e de grãos por fileira (Figura 5D), não apresentaram efeitos significativos quando receberam doses de cama de frango. O diâmetro de colmo é uma variável importante que garante a sustentação da planta na forma ereta. O colmo da mesma forma, atua como um órgão de reserva no milho, acumulando nutrientes e fotoassimilados para posteriormente serem transcolados para as estruturas reprodutivas, no caso, os grãos em formação. Como mencionado anteriormente o número de grãos por fileira, embora não apresentando diferença significativas, foi possível observar que nas maiores doses de cama de frango apresentaram um pequeno aumento no número de grãos por fileira. A formação dos grãos, bem como seu desenvolvimento é resposta direta do estado nutricional da planta (FERREIRA et al., 2001), os mesmos relatam que a formação de grãos é melhorada com o aumento nas doses de N, sendo que esse aumento da mesma forma, elevou os níveis de macro e micronutrientes translocados para os grãos, que refletiu em aumento da produtividade. Desta forma, incrementos na presente variável foram demostrados quando se utilizou a adubação da cama de frango até dose de 7,5 kg ha-1 (SANTOS et al., 2014).
- 148. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 15 137 Figura 5: Diâmetro de colmo e espigas, número de grãos por fileira e de fileiras de grãos no momento da colheita de plantas de milho cultivadas no período de verão com doses crescente de cama de frango na região Oeste do Paraná, no ano agrícola de 2014/2015. Ao se avaliar a produtividade final da cultura do milho podemos observar que os tratamentos com 0,0; 2,0; 4,0; 6,0 e 8,0 t ha-1 de cama de frango apresentaram média final abaixo da média estadual para a safra em questão que foi 8633 kg ha-1 (CONAB, 2015), enquanto os tratamentos 10,0; 15,0 e 20,0 t ha-1 de cama de frango apresentaram uma média superior à média estadual, esses tratamentos apresentaram um incremento na produtividade em 10,12%, 10,43% e 12,12%, em relação a testemunha, respectivamente (Figura 6A). Os resultados de produtividade são influenciados pelas demais variáveis avaliadas que mesmo quando não apresentando efeito significativo apresentaram tendência de aumento nas doses acima de 10 t ha-1 de cama de frango. Por sua vez, a massa de mil grãos não foi influenciada pela adubação com dose de cama de aviária, sendo em todos os tratamentos observados valores próximos, variando ente 349 a 373 gramas (Figura 6B). Essa resposta de produtividade pode estar associada a fatores que são influenciados pela cama de frango. Primeiramente, a incorporação de matéria orgânica, essa interfere nas características químicas do solo, tendo assim uma maior disponibilidade de nutrientes para serem utilizado pelas plantas, tal condição foi demostrado nos trabalhos de Santos et al. (2014), em um Latossolo Vermelho Eutroférrico, mesma classe de solo do presente estudo. Outro efeito, está no elevado aporte de nitrogênio provido pela cama de frango, onde no presente estudo foi disponibilizado 25 kg de N para cada tonelada de cama de frango, ao se considerar o teor de mineralização de 50% para o primeiro cultivo (ANDRADE et al., 2015), seriam A B C D
- 149. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 15 138 disponibilizados para o milho nas doses de 10,0; 15,0 e 20,0 t ha-1 de cama de frango, 125; 187,5 e 250 kg ha-1 de N, respectivamente. Tendo em vista a recomendação de N em cobertura para a cultura do milho estando próximo aos 120 kg ha-1 de N (EMBRAPA, 2010; QUEIROZ et al., 2011; WORDELL FILHO e SPAGNOLLO, 2013), essas doses de cama de frango disponibilizam quantidade de nitrogênio adequado para o desenvolvimento e produtividade do milho. Figura 6: Produtividade (A) e massa de mil grãos (B) de plantas de milho cultivadas no período de verão com doses crescente de cama de frango na região Oeste do Paraná, no ano agrícola de 2014/2015. Nessa linha, resultados positivos no uso da cama de frango na produtividade do milho são demostrados com produtividade superior a 13 mil kg ha-1 com uso de 15 t ha-1 de cama de frango (CASTRO et al., 2013). Em outro estudo com doses de cama de frango em sistema de cultivo convencional, foi obtido produtividade de 8196 kg ha-1 com aplicação de 10 t ha-1 (CONTE et al., 2014). Novakowiski et al. (2013), da mesma forma, obtiveram produtividade superior aos 8000 kg ha-1 com a aplicação de 8 t ha-1 de cama de frango. Máxima produtividade do milho foi obtida com a aplicação de 6 t ha-1 (FELINI e BONO, 2011). Em uma condição mais próxima a do presente estudo, ou seja, na região Oeste do Paraná, foi evidenciado maior lucratividade da cultura do milho quando adubada com cama de frango (BULEGON et al., 2012), sendo da mesma forma, demostrado por Santos et al. (2014), que a aplicação de doses de até 7500 kg ha-1 elevou a produtividade do milho até 8000 kg ha-1 . Deste modo é possível a implantação de modelos de produção mais sustentáveis em relação aos atualmente adotados (SANTOS et al., 2014). Com base nos presentes resultados, podemos confirmar que o uso da cama de frangoé uma opção para realizar a adubação da cultura do milho, apresentando resultados satisfatórios, quando comparado ao tratamento testemunha, outro fato que possibilita o uso da cama de frango está em que essa está disponível em grandes B A
- 150. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 15 139 quantidades e se apresentando com menor custo quando comparado os adubos químicos, o que pode trazer maior lucratividade para o produtor rural, além de incorporar ao solo matéria orgânica o que traz grandes benefícios a longo prazo. 4 | CONCLUSÕES O uso da cama de frango eleva as características altura de planta, altura de inserção da espiga e comprimento de espiga, até a doses de 20 t ha-1 . Não foram observadas diferenças significativas para diâmetro de colmo e espiga, bem como para número de grãos por fileira e de fileiras de grãos, e massa de mil grãos quando se realizou a adubação da cultura do milho com doses de cama de frango. As doses de 10,0; 15,0 e 20,0 t ha-1 de cama de frango elevaram a produtividade da cultura, com incrementos de 10,12%, 10,43% e 12,12% frente a testemunha, respectivamente. REFERÊNCIAS ALBUQUERQUE, F. A. Comportamento e dano de tripes na cultura do milho (Zea mays L.). 2004. 96 f. Tese (Doutorado em Agronomia-Proteção de Plantas) – Faculdade de Ciências Agrárias, Universidade Estadual de São Paulo, Botucatu. ALBUQUERQUE, F. A.; BORGES, L. M.; IACONO, T. O.; CRUBELATI, N. C. S.; SINGER, A. C. Eficiência de inseticidas aplicados em tratamento de sementes e em pulverização, no controle de pragas iniciais do milho. Revista Brasileira de Milho e Sorgo, v.5, n. 1, p. 15-25, 2006. ANDRADE, C, A.; BIBAR, M. P. S.; COSCIONE, A. R.; PIRES, A. M. M.; SOARES, A. G. Mineralização e efeitos de biocarvão de cama de frango sobre a capacidade de troca catiônica do solo. Pesquisa Agropecuária Brasileira, v. 50, n. 5, p. 407-416, 2015. BRASIL, Ministério de Abastecimento Pecuária e Agricultura. Regra Brasileira de sementes. Brasília: MAPA/ACS, 2009. 398 p. BRIEGER, F. G. Estudos experimentais sobre a origem do milho. Anais da Escola Superior de Agronomia Luiz de Queiroz. 1994. BULEGON, L. G.; CASTAGNARA, D. D.; ZOZ, T.; OLIVEIRA, P. S. R.; SOUZA, F. H. Análise econômica na cultura do milho utilizando adubação orgânica em substituição a mineral. Ensaios e Ciência, v. 16, n. 2, p. 81-91, 2012. CABEZAS, W. A. R. L.; COUTO, P. A. Imobilização de nitrogênio da ureia e do sulfato de amônio aplicado em pré-semeadura ou cobertura na cultura do milho, no sistema de plantio direto. Revista Brasileira de Ciência do Solo, v. 31, n. 5, p. 739-752, 2007. CASTOLDI, G.; COSTA, M. S. S. M.; COSTA, L. A. M.; PIVETTA, L. A.; STEINER, F. Sistemas de cultivo e uso de diferentes adubos na produção de silagem e grãos de milho. Acta Scientiarum. Agronomy, v. 33, n. 1, p. 139-146, 2011. CASTRO, A. N. C.; ZAPPAROLI, R. A.; CASTELLAR, J. H.; SCHMITT, J. A.; OLIVEIRA, A. B.; ALENCAR, M. C.; BONADIO, M. L.; RANDO, E. M. Cama de frango e os fatores de produção da cultura do milho no município de Carlópolis-PR. Revista Cultivando o Saber, v.6, n. 2, p. 150-156, 2013.
- 151. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 15 140 CASTRO, R. C.; KLUGE, R. A. Ecofisiologia de Cultivos Anuais: trigo, milho, soja, arroz e mandioca. São Paulo: Nobel, 1999. 129 p. COELHO, A. M.; FRANÇA, G. E. Seja o doutor do seu milho, nutrição e adubação. Arquivo do agrônomo, nº 2. Piracicaba: Potafos, 1995. 25 p. COMISSÃO DE QUÍMICA E FERTILIDADE DO SOLO RS/ SC - CQFS-RS/SC. Manual de adubação e de calagem para o Estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Porto Alegre, SBCS/Núcleo Regional Sul, UFRGS, 2004. 400 p. CONAB, Companhia Nacional de Abastecimento. Acompanhamento da safra brasileira de grãos. Brasília: Conab, 2016. 182 p. CONTE, A, M.; SATO, O.; RANDO, E. M.; ZUCARELLI, C.; SANTOS, K. H. Parâmetros fitométricos e produtividade da cultura do milho com aplicação de cama de frango em sistema de preparo convencional do solo e plantio direito. Revista Agrarian, v. 7, n. 25, p. 401-412, 2014. CORRÊA, J. C.; MIELE, M. A cama de aves e os aspectos agronômicos, ambientais e econômicos. Concordia: Embrapa Aves e Suínos, 2012. 28 p. COSTA, E. M.; SILVA, H. F.; RIBEIRO, P. R. A. Matéria orgânica do solo e seu papel na manutenção e produtividade dos sistemas agrícolas. Enciclopédia bioesfera, v. 9, n. 17, p. 1842- 1860, 2013. CRUZ, I.; MENDES, S. M.; VIANA, P. A. Importância econômica e manejo de insetos sugadores associados à parte aérea de plantas de milho Bt. Circular Técnica 175. Sete lagoas: Embrapa Milho e Sorgo, 2012. 14 p. CRUZ, I.; VIANA, P. A.; WAQUIL, J. M. Manejo das pragas iniciais do milho mediante o tratamento de sementes com inseticidas sistêmicos. Sete Lagoas: Embrapa Milho e Sorgo, 1999. 39 p. EMBRAPA – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Sistema de Produção do Milho. Sete Lagoas: Embrapa Milho e Sorgo, 2010. EMBRAPA. Sistema brasileiro de classificação de solos. Brasília/Rio de Janeiro: Embrapa Solos, 2013. 353 p. FANCELLI, A.L.; DOURADO-NETO, D. Tecnologia da produção de milho. Piracicaba: FEALQ/ ESALQ/USP, 1999. 360p. FELINI, F. Z.; BONO, J. A. M. Produtividade de soja e milho, em sistema de plantio com uso de cama de frango na região de Sidrolândia-MS. Ensaios e Ciência, v. 15, n. 5, p. 9-18, 2011. FERREIRA, A. C. B.; ARAÚJO, G. A. A.; PEREIRA, P. R. G.; CARDOSO, A, A. Características agronômicas e nutricionais do milho adubado com nitrogênio, molibdênio e zinco. Scientia Agrícola, v.58, n.1, p.131-138, 2001. FERREIRA, D. F. SISVAR: A computer statistical analysis system. Ciência e Agrotecnologia, Lavras, v. 35, n. 6, p. 1039–1042, 2011. GAZOLA, D.; ZUCARELI, C.; SILVA, R. R.; FONSECA, I. C. B. Aplicação foliar de aminoácidos e adubação nitrogenada de cobertura na cultura do milho safrinha. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, v.18, n.7. p. 700-707, 2014. GOES, R. J.; RODRIGUES, R. A. F.; ARF, O.; VILELA, R. G. Nitrogênio em cobertura para o milho (Zea mays L.) em sistema de plantio direto na safrinha. Revista Brasileira de Milho e Sorgo, v.11,
- 152. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 15 141 n. 2, p.169-177, 2012. HANISCH, A. L; FONSECA, J. A.; VOGT,G. A. Adubação do milho em um Sistema de produção de base agroecológica: desempenho da cultura e fertilidade do solo. Revista Brasileira de Agroecologia, v. 7, n. 1, p. 176-186, 2012. IAC – Instituto Agronômico de campinas. Avaliação regional de cultivares de milho no estado de São Paulo. Campinas: IAC, 2015. 55 p. KAPPES, C.; CARVALHO, M. A. C.; YAMASHITA, O. M.; SILVA, J. A N. Influência do nitrogênio no desempenho produtivo do milho cultivado na segunda safra em sucessão à soja. Pesquisa Agropecuária Tropical, v.39, n. 2, p.251-259, 2009. LEMOS, M. S.; MAIA, E.; FERREIA, E.; STACHIW, R. Uso da cama de frango como adubo na agricultura. Revista brasileira de Ciência da Amazônia, v. 3, n. 1, p. 57-68, 2014. LOBO, B. S.; SALES, E. C. J.; REIS, S. T.; MONÇÃO, F. P.; PEREIRA, D. A.; RIGUEIRA, J. P. S.; OLIVEIRA, P. M.; MOTA, V. A. C.; ALVES, D. D. Parâmetros morfogênicos e produtividade de capim-pioneiro submetido a doses de nitrogênio. Semina: Ciências Agrárias, v. 35, n. 6, p. 3305- 3318, 2014. LOPES, S. J.; LÚCIO, A. D.; STORCK, L.; DAMO, H. P.; BRUM, B.; SANTOS, V. J. Relações de causa e efeito em espigas de milho relacionadas aos tipos de híbridos. Ciência Rural, v.37, n.6, p.1536-1542, 2007. MELLO, S. C.; VITTI, G. C. Influência de materiais orgânicos no desenvolvimento do tomateiro e nas características químicas do solo em ambiente protegido. Horticultura Brasileira, v. 20, n. 3, p. 452- 458, 2002. MOREIRA, H. J. C.; ARAGÃO, F. D. Manual de pragas do milho. Campinas, 2009. NOVAKOWISKI, J. H.; SANDINI. I. E.; FALBO, M. K.; MORAES, A.; NOVAKOWISKI, J. H. Adubação com cama de frango na produção de milho orgânico em sistema de integração lavoura- pecuária. Semina: Ciências Agrárias, v. 34, n. 4, p. 1663-1672. 2013. PATÊS, N. M.; PIRES, A. J. V.; SILVA, C. C. F.; CARVALHO, G. G. C.; FREIRE, M. A. L. Características morfogênicas e estruturais do capim-tanzânia submetido a doses de fosforo e nitrogênio. Revista Brasileira de Zootecnia, v. 36, n. 6, p. 1736-1741, 2007. QUEIROZ, A. M.; SOUZA, C. H. E.; MACHADO, V. J.; LANA, R. M. Q.; KORDORFER, G. H.; SILVA, A. A. Avaliação de diferentes fontes e doses de nitrogênio na adubação da cultura do milho (Zea mays L.). Revista Brasileira de Milho e Sorgo, v.10, n.3, p. 257-266, 2011 RITCHIE, S. W.; HANWAY, J. J.; BENSON, G. O. Como a planta de milho se desenvolve. Potafos, v. 103, n. 35, p. 1–20, 2003. RODRIGUES, R. C.; MOURÃO, G. B.; BRENNECKE, K.; LUZ, P. H. C.; HERLING, V. R. Produção de massa seca, relação folha/colmo e alguns índices de crescimento do Brachiaria brizantha cv. Xaraés cultivado com a combinação de doses de nitrogênio e potássio. Revista Brasileira de Zootecnia, v. 31, n. 3, p. 394-400, 2008. SANGOI, L.; ERNANI, P. R.; LECH, V. A.; RAMPAZZO, C. Lixiviação afetada pela forma de aplicação da ureia e manejo dos restos culturais de aveia em dois solos com texturas contrastantes. Ciência Rural, v. 33, n. 1, p.65-70, 2003. SANTOS, L. B.; CASTAGNARA, D. D.; BULEGON, L. G.; ZOZ, T.; OLIVEIRA, P. S. R.; GONÇALVES JR, A. C.; NERES, M. A. Substituição da adubação nitrogenada mineral pela cama de frango na
- 153. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 15 142 sucessão aveia/milho. Bioscience Journal, v. 30, suplemento especial 1, p. 272-281, 2014. SILVA, T. R.; MENEZES, J. F.; SIMON, G. A.; ASSIS, R. L.; SANTOS, C. J. L.; GOMES, G. V. Cultivo do milho e disponibilidade de P sob adubação com cama de frango. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, v. 15, n, 9, p. 903-910, 2011. TAIZ, L.; ZEIGER, E. Fisiologia vegetal. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2013. 954 p. TASCA, F. A.; ERNANI, P. R.; ROGERI, D. A.; GATIBONI, L. C.; CASSOL, P. C. Volatização de amônia do solo após a aplicação de ureia convencional ou com inibidor de uréase. Revista Brasileira de Ciência do Solo, v. 35, n. 2, p. 493-502, 2011. TEIXIERA, F. F.; COSTA, F. M. Caracterização de recursos genéticos de milho. Comunicado Técnico. Sete Lagoas: Embrapa Milho e Sorgo, 2010. 10 p. TRIVELIN, P. C. O.; OLIVEIRA, M. W. VITTI, A. C.; GAVA, G. J. C.; BENDASSOLLI, J. A. Perdas de nitrogênio no sistema solo-planta em dois ciclos de cana-de-açúcar. Pesquisa Agropecuária Brasileira, v. 37, p. 2, p. 193-201, 2002. USDA – United States Department of Agriculture. World Agricultural Supply and Demand Estimates. WASDE-550 – February 9, 2016. WORDELL FILHO, J. A.; SPAGNOLLO, E. Sistema de cultivo e doses de nitrogênio na sanidade e no rendimento do milho. Ciência Rural, v.43, n.2, p.199-205, 2013.
- 154. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 16 143 CAPÍTULO 16 doi DESENVOLVIMENTO DE BETERRABA SUBMETIDA A NÍVEIS DE ÁGUA NO SOLO Guilherme Mendes Pio De Oliveira Universidade Estadual de Londrina Londrina – Paraná Mariana Magesto De Negreiros Universidade Estadual do Norte do Paraná Bandeirantes – Paraná Pedro Henrique De Souza Rangel Universidade Estadual do Norte do Paraná Bandeirantes – Paraná Stella Mendes Pio De Oliveira Instituto Federal Goiano Rio Verde – Goiás Hatiro Tashima Universidade Estadual do Norte do Paraná Bandeirantes – Paraná RESUMO: A produção de beterraba é influenciadapelaumidadedosolo,sendoodéficit ou excedente prejudicial ao desenvolvimento da cultura, tornando-se necessário a reposição de água na quantidade adequada e no momento correto. Objetivou-se avaliar o desenvolvimento da cultura da beterraba em função de diferentes níveis de água no solo. Utilizou-se delineamento experimental em blocos casualizados com cinco tratamentos e quatro repetições. Os tratamentos foram constituídos de cinco níveis de água no solo, sendo que T1 representa a umidade do solo na capacidade de campo correspondendo a uma tensão mínima de –0,01 MPa; os níveis T2, T3, T4 e T5 corresponde, respectivamente, as tensões mínimas de –0,03; –0,045; –0,06 e –0,07 MPa. Os teores de água com base em peso de solo correspondente a cada tensão (–0,01; –0,03; –0,045; –0,06 e –0,07 MPa) foram: 35,60%; 29,21%; 28,33%; 27,09% e 26,80% respectivamente e a densidade do solo, determinado com o auxílio de anel volumétrico, foi 1,18 g cm-3 . Foram semeados glomérulos da cultivar Early Wonder em vasos e instalados micro tensiômetros no centro com profundidade de 0,15 m, para o controle da tensão de água no solo e manejo da irrigação. Aos 75 DAS, avaliou-se a massa de matéria fresca da parte aérea e raiz das plantas. A massa de matéria fresca da parte aérea não diferiu estatisticamente nas tensões testadas. A tensão de água no solo de 0,045 MPa proporcionou maior produção de massa de matéria fresca das raízes. PALAVRAS-CHAVE: Beta vulgaris L.; cultivo protegido; déficit hídrico.; Early Wonder. ABSTRACT: Beet production is influenced by soil moisture, and the deficit or surplus is detrimental to the development of the crop, making it necessary to replenish water at the right amount and at the right time. The objective of this work was to evaluate the
- 155. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 16 144 development of the beet crop as a function of different levels of water in the soil. A randomized complete block design with five treatments and four replications was used. The treatments were constituted of five levels of water in the soil, and T1 represents the soil moisture in the field capacity corresponding to a minimum tension of -0.01 MPa; the levels T2, T3, T4 and T5 correspond respectively to the minimum voltages of -0.03; -0.045; -0.06 and -0.07 MPa. The water contents based on soil weight corresponding to each tension (-0.01, -0.03, -0.045, -0.06 and -0.07 MPa) were: 35.60%; 29.21%; 28.33%; 27.09% and 26.80% respectively, and the soil density, determined with the aid of a volumetric ring, was 1.18 g cm-3. Glomeruli of the Early Wonder cultivar were sown in pots and micro tensiometers were installed in the center with a depth of 0.15 m, to control soil water tension and irrigation management. At 75 DAS, the fresh matter mass of the shoot and root of the plants was evaluated. The fresh matter mass of the aerial part did not differ statistically in the tensions tested. Soil water tension of 0.045 MPa resulted in higher yield mass of fresh root matter. KEYWORDS: Beta vulgaris L.; protected cultivation; water deficit; Early Wonder. 1 | INTRODUÇÃO A beterraba (Beta vulgaris L.) é uma das principais hortaliças cultivadas no Brasil, sendo que as folhas e raízes da beterraba hortícola, também conhecida como vermelha ou de mesa são utilizadas na alimentação humana (TIVELLI, et al., 2011). As hortaliças são afetadas negativamente na ocorrência de déficit hídrico, principalmente pelo ciclo curto (SILVA et al., 2015), sendo que nos 60 dias após a semeadura da beterraba é estabelecido seu período crítico. No entanto, a escassez d’água no momento da colheita pode tornar as raízes fibrosas e murchas o que interfere na qualidade e rendimento da cultura. Assim, deve-se atentar a exigência hídrica da mesma durante todo o ciclo, realizando a irrigação no momento em que o déficit hídrico for suficiente para prejudicar as atividades morfofisiológicas e metabólicas da planta (MAROUELLI et al., 2011). O monitoramento da umidade do solo deve ser realizado na região de maior concentração das raízes através de tensiômetros, que possibilita irrigar quando o teor de água no solo atingir um valor crítico ou pré-estabelecido, fornecendo uma quantidade de água suficiente para elevar o armazenamento de água no solo até a capacidade de campo (FRIZZONE et al., 2012). Aqualidade das hortaliças e seu desenvolvimento estão diretamente relacionados com a adequação da quantidade de água retida no solo (SILVA et al., 2015), sendo fundamental estabelecer os níveis em que maximize os componentes da cultura. Diante do exposto, o objetivo do estudo foi avaliar o desenvolvimento da cultura da beterraba em função de diferentes níveis de água no solo.
- 156. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 16 145 2 | MATERIAL E MÉTODOS O experimento foi realizado na área de cultivo protegido da horta da Universidade Estadual do Norte do Paraná, Bandeirantes – PR, situada na latitude 230 06’ S, longitude 500 21’ W e altitude 440 m, entre 2011 e 2012. O clima da região, segundo a classificação de Köppen-Geiger é caracterizado por ser Cfa, temperado subtropical úmido. O solo utilizado foi peneirado e alocado em vasos plásticos com capacidade de 29 dm3 , que se constituíram como unidades experimentais, sendo semeado 31 glomérulos da cultivar Early Wonder em cada vaso. O solo foi classificado como Latossolo Vermelho Eutroférrico (Embrapa, 2013), cujas características químicas são descritas na Tabela 1. pH M.O P K Ca Mg Al H+Al V% CaCl2 g dm-3 mg dm-3 --------------------------cmolc dm-3 --------------------- --- 5,4 51,0 91,3 0,55 14,1 1,9 0,0 5,64 74,6 Tabela 1. Análise química do solo Latossolo Vermelho Eutroférrico Utilizou-se delineamento experimental blocos casualizados com cinco tratamentos e quatro repetições. Os tratamentos foram constituídos de cinco níveis de água no solo, sendo que T1 representa a umidade do solo na capacidade de campo correspondendo a uma tensão mínima de –0,01 MPa; os níveis T2, T3, T4 e T5 corresponde, respectivamente, as tensões mínimas de –0,03; –0,045; –0,06 e –0,07 MPa. Os teores de água com base em peso de solo correspondente a cada tensão (–0,01; –0,03; –0,045; –0,06 e –0,07 MPa) foram: 35,60%; 29,21%; 28,33%; 27,09% e 26,80% respectivamente e a densidade do solo, determinado com o auxílio de anel volumétrico, foi 1,18 g cm-3 . Após a semeadura dos glomérulos, aplicou-se 4 L de água em cada unidade experimental para restabelecer a umidade do solo na capacidade de campo. Durante 20 dias após a semeadura (DAS), foi irrigado diariamente 0,5 L de água por vaso a fim de garantir o estabelecimento da cultura. Em seguida, realizou-se o desbaste mantendo 12 plantas por vaso e instalados micro tensiômetros no centro dos vasos, com profundidade de 0,15 m, para o controle da tensão de água no solo e manejo da irrigação, conforme tratamentos definidos. Aos 75 DAS, três plantas de cada unidade experimental foram coletadas, separadas em folhas e raízes, acondicionadas em sacos de papel e pesados em balança de precisão de 0,0001 g para determinação da massa de matéria fresca da parte aérea (MMFPA) e da massa de matéria fresca das raízes (MMFR). Os dados foram analisados pela estatística descritiva para analisar as medidas de tendência central, de dispersão e verificação de presença de “outliers”. Após a análise exploratória foram realizados os testes de normalidade e homocedasticidade
- 157. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 16 146 por Shapiro-Wilk e Bartlett, respectivamente e em seguida realizadas as análises de variâncias. As médias foram comparadas pelo teste de Tukey a 5% de significância. 3 | RESULTADOS E DISCUSSÃO Os resultados da MMFPA e da MMFR estão apresentados na Tabela 2. Tratamentos Tensão MMFPA MMFR (MPa) (g) (g) T1 -0,01 42,75 a 52,64 c T2 -0,03 42,75 a 58,46 bc T3 -0,045 51,98 a 73,48 a T4 -0,06 44,58 a 65,08 b T5 -0,07 39,25 a 51,82 c CV (%) 17,17 5,33 Tabela 2. Média da massa de matéria fresca da parte aérea (MMFPA) e média da massa de matéria fresca das raízes (MMFR). Médias seguidas de letras iguais não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade; CV = coeficiente de variação Nas tensões avaliadas não houve diferença significativa entre si em relação a MMFPA. Resultados semelhantes foram obtidos por Stoffel et al. (2002). O déficit hídrico pode limitar a expansão foliar e consequentemente a MMFPA das plantas (TAIZ et al., 2017), sendo prejudicial a ausência desse mecanismo de resistência, pois o mesmo é capaz de suprir a quantidade de água limitada no solo por um período mais longo. Em condições de baixa disponibilidade de água no solo ocorre a redução da fotossíntese e transpiração, além do fechamento estomático e como consequência, tem-se o decréscimo do crescimento (PORTES et al., 2006). De acordo com os tratamentos utilizados observou-se diferença na MMFR em função do efeito da tensão de água no solo, sendo que a maior produção foi obtida pelo T3 (-0,045 MPa), o que pode ser explicado por ser o tratamento que apresentou maior frequência de irrigação, devido sua tensão média. O aumento da tensão da água no solo, dificulta o processo de absorção de água, refletindo na redução da produtividade, pois é necessário um gasto maior de energia para absorção de água e nutrientes (SILVA et al., 2012). Uma alternativa na redução do consumo hídrico das plantas de beterraba pode ser obtida de acordo com a composição da cobertura do solo (OLIVEIRA NETO et al., 2011). 4 | CONCLUSÃO A massa de matéria fresca da parte aérea não diferiu estatisticamente nas tensões testadas.Atensão da água no solo de 0,045 MPa proporcionou maior produção
- 158. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 16 147 de massa de matéria fresca das raízes. REFERÊNCIAS EMBRAPA. Centro Nacional de Pesquisa de Solos. Sistema Brasileiro de Classificação de Solos. Brasília: Embrapa, 2013. p. 353. FRIZZONE, J. A.; FREITAS, P. S. L.; REZENDE, R.; FARIA, M. A. Microirrigação: Gotejamento e microaspersão, 1 ed. Maringá: Eduem, p. 356, 2012. MAROUELLI W, A.; OLIVEIRA, Á. S.; COELHO, E. F.; NOGUEIRA, L. C.; SOUSA, V. F. Manejo da água de irrigação. In: SOUSA, V. F.; MAROUELLI, W. A.; COELHO, E. F.; PINTO, J. M.; COELHO FILHO, M. A (Ed.). Irrigação e fertirrigação em fruteiras e hortaliças. Brasília: Embrapa Informação Tecnológica. p. 157-232, 2011. OLIVEIRA NETO, D. H.; CARVALHO, D. F.; SILVA, L. D. B.; GUERRA, J. G. M.; CEDDIA, M. B. Evapotranspiração e coeficientes de cultivo da beterraba orgânica sob cobertura morta de leguminosa e gramínea. Horticultura Brasileira, v. 29, p. 330-334, 2011. PORTES, M. T.; ALVES, T. H.; SOUZA, G. M. Water deficit affects photosynthetic induction in Bauhinia forficata Link (Fabaceae) and Esenbeckia leiocarpa Engl. (Rutaceae) growing in understorey and gap conditions. Brazilian Journal of Plant Physiology, v. 18, n. 4, p. 491-512, 2006. SILVA, A. O.; SILVA, E. F. F.; BASSOI, L. H.; KLAR, A. E. Desenvolvimento de cultivares de beterraba sob diferentes tensões da água no solo. Horticultura Brasileira, v. 33, p. 12-18, 2015. SILVA, W. G.; CARVALHO, J. A.; OLIVEIRA, E. C.; REZENDE, F. C.; LIMA JÚNIOR, J. A.; RIOS, G. F. A. Manejo de irrigação para o feijoeiro-de-metro, nas fases vegetativa e produtiva, em ambiente protegido. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, v. 16, p. 978-984, 2012. STOFFEL, A. C.; ZARDO, K.; MENEGALI, I.; SANTOS, R. F. Efeito de lâminas de irrigação na cultura da beterraba. In: XI Encontro Anual de Iniciação Científica, 2002, Maringá. Disponível em <http://www.ppg.uem.br/Docs/pes/eaic/XI_EAIC/trabalhos>. Acesso em: 09 jan. 2019. TAIZ, L.; ZEIGER, E.; MØLLER, I. M.; MURPHY, A. Fisiologia e desenvolvimento vegetal. Porto Alegre: Artmed, 2017. p. 888. TIVELLI S. W.; FACTOR, T. L.; TERAMOTO, J. R. S.; FABRI, E. G.; MORAES, A. R. A.; TRANI, P. E.; MAY, A. Beterraba: do plantio à comercialização. Campinas: Instituto Agronômico, 2011. 45p. (Série Tecnologia APTA. Boletim Técnico IAC, 210)
- 159. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 17 148 CAPÍTULO 17 doi DESENVOLVIMENTO DE MUDAS DE CACAUEIRO GENÓTIPO COMUM BAHIA PRODUZIDOS NO OUTONO SOB DIFERENTES LÂMINAS DE IRRIGAÇÃO Robson Prucoli Posse Instituto Federal de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação do Espírito Santo – Ifes Campus Itapina Colatina – Espírito Santo Stefany Sampaio Silveira Ifes Campus Itapina Colatina – Espírito Santo Sophia Machado Ferreira Ifes Campus Itapina Colatina – Espírito Santo Francielly Valani Ifes Campus Itapina Colatina – Espírito Santo Rafael Jaske Ifes Campus Itapina Colatina – Espírito Santo Camilla Aparecida Corrêa Miranda Ifes Campus Itapina Colatina – Espírito Santo Inês de Moura Trindade Ifes Campus Itapina Colatina – Espírito Santo Sabrina Gobbi Scaldaferro Ifes Campus Itapina Colatina – Espírito Santo RESUMO: Vários são os fatores que podem interferirnaqualidadefinaldasmudasproduzidas em viveiro, dentre esses fatores estão a nutrição e a irrigação, comprometendo assim o sucesso da implantação da cultura. No presente capítulo objetivou-se, verificar o desenvolvimento de mudas de cacaueiro Comum Bahia, produzidas no período de outono, em função de diversas lâminas de irrigação, a fim de obter mudas de boa qualidade e com menor custo de produção. O experimento foi conduzido no setor de horticultura do Instituto Federal do Espírito Santo – IFES Campus Itapina, dentro de estufa agrícola, em seis ambientes individualizados com dimensões de 2,20 m de comprimento por 1,10 m de largura, isolados por lona plástica transparente nas laterais. Os tratamentos consistiram na aplicação de seis lâminas diárias de irrigação, correspondendo a 4, 6, 8, 10, 12 e 14 mm d-1 . O delineamento experimental foi inteiramente casualizado (DIC), onde cada tratamento foi composto por 36 plantas, todas úteis, totalizando no experimento 216 mudas. Por apresentar melhor índice de Dickson e, de forma a otimizar o recurso hídrico na produção de mudas com qualidade do cacaueiro do genótipo Comum Bahia, recomenda-se a lâmina de 10 mm.d-1 . PALAVRAS-CHAVE: Theobroma cacao L., mudas, índice de Dickson. ABSTRACT: There are several factors that can interfere in the final quality of the seedlings produced in nursery, among these factors are
- 160. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 17 149 nutrition and irrigation, thus compromising the success of the implantation of the crop. In the present chapter, the objective of this study was to verify the development of Common Bahia cacao seedlings, produced in the autumn period, due to several irrigation slides, in order to obtain seedlings of good quality and with lower production costs. The experiment was conducted in the horticulture sector of the Federal Institute of Espírito Santo - IFES Campus Itapina, in an agricultural greenhouse, in six individualized environments with dimensions of 2.20 m long and 1.10 m wide, isolated by a transparent plastic canvas on the sides. The treatments consisted in the application of six daily irrigation slides, corresponding to 4, 6, 8, 10, 12 and 14 mm d-1 . The experimental design was completely randomized (DIC), where each treatment was composed of 36 plants, all of them useful, totalizing in the experiment 216 seedlings. Due to the better index of Dickson, and in order to optimize the water resource in the production of seedlings with cacao quality of the Comum Bahia genotype, the 10 mm.d- 1 blade is recommended. KEYWORDS: Theobroma cacao L., seedlings, Dickson index. 1 | INTRODUÇÃO A O cacaueiro é uma planta tropical nativa da America Central e América do Sul, pertencente a familia Malvaceae. Possui a capacidade de se estabelecer em bosques úmidos e protegidos por árvores, assim como também, em florestas com umidade limitada e menor exuberancia (ALVERSON et al. 1999). De seu fruto, o cacau, são extraídas as sementes ainda envoltas na polpa, massa branca adocicada que pode ser empregada na confecção de bebidas e geleias. As sementes do cacau, após processo de fermentação, alcançam condição necessária para a produção de manteiga de cacau e cacau em pó, processado para a fabricação de chocolate. O Brasil historicamente sempre se destacou como um dos países com maior produção de cacau, atualmente ocupa a 6ª posição mundial em produção, com 256.186 toneladas, e a 5a posição em área colhida, com 689.276 hectares (AGRIANUAL, 2017). Sua produção está intimamente relacionada com o interior da Bahia, estado brasileiro que por muito tempo liderou o ranking em área de produção. Entretanto, com a disseminação da vassoura de bruxa no sistema predominante da região, sistema ecológico de cultivo agroflorestal cabruca, o estado vem perdendo em produção para o estado do Pará (SANTOS et al., 1998). Os principais estados produtores de cacau no Brasil atualmente, são o Pará (113.150 t), a Bahia (103.218 t) e o Espírito Santo (6.936 t) (IBGE, 2018). No estado do Espírito Santo as cidades de Linhares, São Mateus, Colatina e João Neiva se destacam, porém, o estado ainda apresenta grandes desafios em toda a cadeia produtiva cacaueira (INCAPER, 2017). EmsolosBrasileirosocacaueiroadaptou-seinteiramenteaoclima,proporcionando prosperidade e progresso para certas regiões do país, se tornando um dos pilares
- 161. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 17 150 fundamentais para o desenvolvimento de muitos cacauicultores (CUENCA; NAZÁRIO, 2014). No estado do Espírito Santo, a cultura tem papel secundário nas propriedades e ainda demanda pesquisas, principalmente no que diz respeito a deixar seu histórico de produção no sistema convencional cabruca, para ingressar em sistemas alternativos como “Pleno Sol” e “Sistemas Agroflorestais-SAF” (consórcios de culturas agrícolas com espécies arbóreas). Mais de 80% da mão de obra empregada na cultura do cacau no Espirito Santo é proveniente da agricultura familiar, onde o conhecimento dos custos de produção da cultura, constitui um dos mais importantes instrumentos para auxiliar na tomada de decisão (CEPLAC, 2017). Um dos fatores primordiais para o sucesso da fruticultura é a qualidade de mudas empregadas na formação do pomar (FRANZON, CARPENEDO e SILVA, 2010), sendo a baixa qualidade das mudas causada por diversos problemas, como os relacionados a irrigação, nutrição e a sua formação em viveiros. Em relação à irrigação, os problemas podem ser oriundos da má distribuição da água ou seu manejo, causando déficit ou excesso de irrigação, ambos prejudiciais comprometendo uma produção viável economicamente e satisfatória (THEBALDI, LIMA e SILVA, 2016). A ampliação de áreas irrigadas torna-se cada vez mais constante, impulsionada pela progressiva demanda por abastecimento de alimentos, contudo, o manejo da irrigação deve imprescindivelmente, acontecer de forma a potencializar o incremento da produtividade nas lavouras, bem como, fortalecer o desenvolvimento do propósito econômico, utilizando-se para tanto da redução da lâmina de água empregada na área a um nível ideal. Neste contexto, este trabalho teve como objetivo verificar o desenvolvimento de mudas de cacaueiro em função de diversas lâminas de irrigação, a fim de obter mudas de boa qualidade e com menor custo de produção. 2 | METODOLOGIA O estudo foi desenvolvido no setor de horticultura do Instituto Federal do Espirito Santo – IFES Campus Itapina, localizado no município de Colatina/ES, com coordenadas geográficas de 19°29’ de latitude Sul, 40°45’ de longitude Oeste e altitude de 62 metros. A região caracteriza-se pela irregularidade das chuvas e ocorrência de elevadas temperaturas, o clima da região é Tropical Aw, segundo a classificação Köppen (KÖPPEN, 1936). O experimento foi conduzido em mudas de Cacau (Theobroma cacao L.), do cultivar Comum Bahia, no período de 16 de março de 2017 a 12 de maio de 2017 (Outono), dentro de uma estufa do Campus, com dimensões lineares de 25 x 5 metros e pé direito de 3 metros, em seis ambientes individualizados (Boxes), cada um com 2,20 metros de comprimento por 1,10 metros de largura, isolados por lona plástica transparente nas laterais (Figura 01).
- 162. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 17 151 Figura 1 – Croqui dos seis boxes individualizados com os nebulizadores anti-gotas. Cada boxe era composto por seis nebulizadores antigotas da marca GREEN MIST da NaanDanJain® , situados a um metro acima das mudas e espaçados entre si a 0,8 metros, com frequência de rega controlada individualmente por controladores eletrônicos funcionando por um período de 10 horas por dia (07:00h as 17:00h) e por bombas centrífugas de 0,5 cv instaladas de forma independente para cada Box. Os tratamentos consistiram na aplicação de seis lâminas diárias de irrigação, correspondendo a 4, 6, 8, 10, 12 e 14 mm.dia-1 , para a produção de mudas do cultivar Comum Bahia. O delineamento experimental empregado, foi o inteiramente casualizado (DIC), com cada tratamento composto por 36 plantas, todas úteis, totalizando no experimento 216 mudas. As sementes das cultivares foram obtidas na Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira - CEPLAC Linhares, onde após serem retiradas do fruto foram lavadas para a extração da mucilagem e postas em solução fúngica para tratamento. Para pré-germinação as sementes permaneceram submersas em água por 24 horas, após esse período, foram plantadas, uma por tubete de 280 mL de capacidade volumétrica, com o substrato Tropstrato HT Hortaliças acrescido de Osmocote Plus 15-9-12 (3M), na dosagem de 3 g tubete-1 , já umedecido. As variações de temperatura e umidade relativa dentro da estufa foram monitoradas durante todo o período de produção das mudas por um Data Logger modelo 200 da WatchDog® . As mudas foram avaliadas ao final do experimento quanto as seguintes características morfológicas: a) altura da parte aérea (ALT), medida em cm, com utilização de régua graduada em milímetros, a partir do coleto até a gema apical; b) diâmetro do coleto (DC), medido a 2 cm acima da borda do tubete, em mm, com um paquímetro digital da marca Metrotools, modelo MPD-150; c) peso da massa seca da parte aérea (MSPA) e do sistema radicular (MSSR), expressas em gramas, através de pesagem das mesmas em balança eletrônica com 0,001g de precisão após serem acondicionadas separadamente em sacos de papel e submetidas a processo de secagem em estufa com circulação forçada de ar à 65°C até peso constante. Com estes dados, a qualidade das mudas foi determinada analisando-se: a) a relação entre a altura da parte aérea e diâmetro de coleto (RAD); b) a relação entre a
- 163. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 17 152 matéria seca da parte aérea e matéria seca do sistema radicular (RPAR); c) e índice de qualidade de Dickson (IQD), pela formula: IQD = [(MSPA + MSSR)/(RAD + RPAR)] (DICKSON, et al., 1960). Os resultados foram submetidos à análise de variância da regressão pelo teste F, a 1 % de probabilidade, e, quando significativos, ajustados modelos de regressão que melhor expliquem o efeito dos tratamentos, maior valor de coeficiente de determinação (R2 ), das lâminas de irrigação aplicadas, sobre as variáveis analisadas. 3 | RESULTADOS E DISCUSSÕES Através de análises de variância, verificou-se interação significativa a 1% de probabilidade entre as lâminas de água e todas as características morfológicas avaliadas, evidenciando desse modo o efeito das diferentes lâminas de irrigação, na qualidade da produção de mudas de cacau Comum Bahia. Durante o período de avaliação dentro da estufa agrícola, foram registrados os valores de temperatura mínima, média e máxima de 20,36 ºC, 29,74 ºC e 39,12 ºC, respectivamente. O diâmetro do coleto das mudas de cacaueiro apresentou comportamento quadrático com R2 0,9833 (Figura 2), apresentando crescimento de diâmetro em resposta ao aumento das lâminas de irrigação aplicadas, chegando ao máximo do diâmetro (4,12 mm) com aplicação da lâmina de irrigação de 10 mm.dia-1 , sendo a partir desta, apresentou redução do diâmetro com o aumento da irrigação. Em trabalho realizado por Ramos et al. (2015), com mudas de cacaueiro encontrou-se desempenho linear positivo do diâmetro em função da lâmina aplicada. Em trabalho realizado por Botan (2018), em mudas de cacaueiro (theobroma cacao) genótipo TSH 1188 produzidos também no outono sob diferentes lâminas de irrigação na região de Colatina-ES apresentou desempenho quadrático de crescimento do coleto com relação a quantidade de água. Figura 2 - Diâmetro do caule das mudas de cacaueiro Comum Bahia em resposta à diferentes lâminas de água, Colatina, 2018. A matéria seca da parte aérea apresentou comportamento quadrático com R2
- 164. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 17 153 0,9114. Pode-se observar que a menor lâmina empregada (4 mm.dia-1 ) apresentou maior valor de matéria seca da parte aérea (1,44 g) (Figura 3A). A massa seca das raízes apresentaram comportamento quadrático e R2 0,6405, havendo acréscimo de massa de acordo com o aumento da lâmina de água aplicada até a lamina 10 mm.d-1 , onde se obteve a máxima de 0,27 gramas no tratamento com 10 mm.d-1 e mínima de 0,23 gramas no tratamento com 4 mm d-1 (Figura 3B). A B Figura 3 – Matéria seca da parte aérea (A) e matéria seca da raiz (B) de mudas de cacaueiro comum em resposta à diferentes lâminas de irrigação, Colatina, 2018. A relação da massa seca da parte aérea pela massa seca da raiz (RPAR) apresentou comportamento quadrático com R2 0,7882, demonstrando que o tratamento com 10 mm.d-1 obteve melhor equilíbrio entre parte aérea e sistema radicular, por apresentar valor de 5,10 como sendo o menor dentre a relação entre os tratamentos aplicados (Figura 4). Em trabalho com mudas de café em tubete, Marana et al. (2008), observaram que os melhores valores de RPAR estavam entre 4 e 7. Figura 4 – Relação da massa seca da parte aérea com a massa seca da raiz (RPAR) das mudas de cacaueiro comum em resposta à diferentes lâminas de água, Colatina, 2018. A relação da altura da parte aérea com o diâmetro do caule (RAD) também apresentou comportamento quadrático com R2 0,7428, observando-se o menor valor encontrado (4,08) foi obtido com a lâmina de 9,2 mm d-1 , enquanto as mudas
- 165. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 17 154 submetidas aos tratamentos com 8 e 10 mm d-1 apresentaram valores de 4,12 e 4,10 respectivamente (Figura 5). De acordo com Pierezan et al. (2012), maiores valores de RAD e RPAR podem indicar, se muito elevados, estiolamento das plantas, e menor crescimento do sistema radicular. Figura 5 – Relação altura da parte aérea com o diâmetro do caule (RAD) das mudas de cacaueiro comum em resposta à diferentes lâminas de água, Colatina, 2018. Os índices de qualidade de Dickson (IQD) variaram entre 0,15 a 0,17 com comportamento quadrático em função das lâminas diárias aplicadas, apresentando uma regressão significativa a 1% de probabilidade com R2 0,7941 (Figura 6). Hunt (1990), estabelece 0,2 como valor mínimo para o IQD para produção de muda de boa qualidade. O tratamento que apresentou maior IQD (0,1726) foi a lâmina de 9,6 mm d-1 , corroborando com os resultados apresentados anteriormente. Morais et al. (2012), ao estudar mudas de Aroeira Vermelha, verificou que a lâmina ideal de irrigação diária ocorria entre 10 a 12 mm, mas que a utilização da lâmina de 10 mm promovia um desenvolvimento satisfatório da muda conciliado com utilização racional da água. Figura 6 – Índice de qualidade de Dickson (IQD) das mudas de cacaueiro comum em resposta à diferentes lâminas de irrigação, Colatina, 2018.
- 166. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 17 155 4 | CONCLUSÃO A relação massa seca da parte aérea com a massa seca da raiz (RPAR) apresentou melhor resultado no tratamento com a lâmina de 10 mm d-1 , pois, lâminas superiores apresentaram valores maiores de RPAR, evidenciando desequilíbrio. Por apresentar melhor índice de Dickson e, de forma a otimizar o recurso hídrico na produção de mudas com qualidade do cacaueiro do genótipo Comum Bahia, recomenda-se a lâmina de 10 mm.d-1 . REFERÊNCIAS ALVERSON, W.A.; WHITLOCK, B.A.; NYEFFELER, R.; BAYER, C. & BAUM, D.A. 1999. Phylogeny of Malvales: evidence from ndhF sequence data. American Journal of Botany 86: 1474-1486. AGRIANUAL. Anuário da agricultura brasileira. Cacau. São Paulo, OESP Gráfica, 2017. BOTAN, Á.B. Índice de qualidade e desenvolvimento de mudas de cacaueiro (Theobroma cacao) genótipo TSH 1188 produzidas no outono sob diferentes lâminas de irrigação. Dissertação (Bacharelado em agronomia) – Instituto Federal do Espirito Santo, campus Itapina, Colatina, p.34, 2018. CEPLAC - Comissão executiva do plano da lavoura cacaueira. Disponível em:<http://www. ceplac.gov.br/paginas/jornaldocacau>. Acesso em: 15 de dezembro de 2018. CUENCA, M.A.G.; NAZÁRIO, C.C. Importância Econômica e Evolução da Cultura do Cacau no Brasil e na Região dos Tabuleiros Costeiros da Bahia entre 1990 e 2002. Aracaju: Embrapa, 2004. 25 p. DICKSON, A.; LEAF, A.L.; HOSNER, J.F. Quality appraisal of white spruce and white pine seedling stock in nurseries. Forest Chronicle, v. 36, p.10-13, 1960. FRANZON, R.C.; CARPENEDO, S.; SILVA, J.C.S. Produção de mudas: principais técnicas utilizadas na propagação de frutriras. Embrapa Cerrados, Planaltina, p.56, 2010. HUNT, G.A. Efeito do projeto styroblock e tratamento cooper na morfologia de plântulas de coníferas. Em: Rose, R .; Campbell, S.J .; Landis, T. D., eds. Simpósio de seedling designado, reunião das associações de berçário de floresta ocidentais, relatório de technichal geral RM-200. 1990, Roseburg: Proceedings. Collins: Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, Serviço Florestal, 1990. 218-222p. https://rngr.net/publications/proceedings/1990/hunt.pdf/. 31 agosto. 2018. IBGE. Instituto brasileiro de geografia e estatística. Levantamento sistemático da produção agrícola: pesquisa mensal de previsão e acompanhamento das safras agrícolas no ano civil (2018). Disponível em: <ftp://ftp.ibge.gov.br/Producao_Agricola/Levantamento_Sistematico_da_Producao_ Agricola_[mensal]/Fasciculo/2016/lspa_201612_20170222_133000.pdf> Acesso em 19.12.2018. INCAPER – Instituto capixaba de pesquisa, assistência técnica e extensão rural. Polos de Fruticultura - Cacau. Disponível em: <https://incaper.es.gov.br/fruticultura-cacau>. Acesso em: 09 de dezembro de 2018. KÖPPEN, W. Das geographische system der klimate. In: Köppen GW.; Geiger MR. (eds.), Handbuch der Klimatologie, Berlin. 44p.; 1936. MARANA, João Paulo; MIGLIORANZA, Édison; FONSECA, Ésio de Pádua;
- 167. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 17 156 KAINUMA, Roberto Hiroshi. Índices de qualidade e crescimento de mudas de café produzidas em tubetes. Ciência Rural, Santa Maria, v. 38, n. 1, p.2-5, fev. 2008. MORAIS, Weslley Wilker Corrêa; SUSIN, Felipe; VIVIAN, Magnos Alan; ARAÚJO, Maristela Machado. Influência da irrigação no crescimento de mudas de Schinus terebinthifolius. Pesquisa Florestal Brasileira, [s.l.], v. 32, n. 69, p.23-28, 30 mar. 2012. PIEREZAN, Luciane; SCALON, Silvana de Paula Quintão; PEREIRA, Zefa Valdivina. Emergência de plântulas e crescimento de mudas de jatobá com uso de bioestimulante e sombreamento. Cerne, Lavras, v. 18, n. 1, p.127-133, jan/mar.2012. POSSE, R.; VALANI, F. GONÇALVES, A.M.S.; OLIVEIRA, E.C.; LOUZADA, J.M.; QUARTEZANI, W.Z & LEITE, M.C.T. Growth and Quality of Yellow Passion Fruit Seedlings Produced under Different Irrigation Depths. Journal Of Experimental Agriculture International, [s.l.], v. 22, n. 4, p.1-11, 21 abr. 2018. RAMOS, Adriana; SODRÉ George Andrade; PORTO, John Silva; COSTA, Rafael de Queiroz. Desenvolvimento de mudas de cacaueiro em função de níveis de aplicação de água. Agrotrópica, itabuna, [s.l.], v. 27, n. 1, p.19-24, 30 abr. 2015. Agrotropica. SANTOS, A. S.; ANDRADE, E. H. A.; ZOGHBI, M. G. B.; LUZ, A. I. R.; MAIA, J. G. S.Sesquiterpenes on Amazonian Piper Species. Acta Amazonica, v. 28, n. 2, p. 127-130, 1998. THEBALDI, M.S.; LIMA, L.A.; SILVA, A.C. Eficiência de sistemas de irrigação em mudas de espécies florestais nativas produzidas em tubetes. Ciência Florestal, Santa Maria, v. 26, n. 2, p.401-410, 2016.
- 168. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 18 157 CAPÍTULO 18 doi DESENVOLVIMENTO DE UM MICROPULVERIZADOR AUTOPROPELIDO PARA APLICAÇÃO EM ENTRELINHAS ESTREITAS Francisco Faggion Universidade de Brasília, Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária Brasília – DF Natália Patrícia Santos Nascimento Benevides Universidade de Brasília, Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária Brasília – DF Tiago Pereira Da Silva Correia Universidade de Brasília, Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária Brasília – DF RESUMO: A pulverização em pequenas propriedades rurais ou em estufas apresenta custo elevado tanto para a aquisição das máquinas quanto para a realização da atividade. Além disso, existem poucas alternativas tecnológicas disponíveis no mercado que permitem passar nas entre linhas estreitas de cultivosarbustivossemcausardanosàsplantas. Este trabalho teve por objetivo desenvolver um micropulverizador autopropelido aplicador de produtos via líquida em pequenas áreas (estufas) com cultivos arbustivos e entre linhas estreitas. Inicialmente foram estudadas as possíveis alternativas para a pulverização em pequenas áreas, associadas ao levantamento de máquinas com bitola estreita existentes no mercado local. A partir desse estudo foram organizadas as possíveis alternativas das partes da máquina capazes de associadas, atender o objetivo principal. Posteriormente foi proposto, construído e testado a campo o micropulverizador autopropelido desenvolvido. Osresultadosmostramserpossívelaconstrução de um micropulverizador autopropelido estreito com dois eixos a partir de um motor estacionário ciclo diesel com 5.148 W, reservatório de polietileno com capacidade de 200 L, bomba de 3 pistões, filtro e barra com duas seções com 1,75 m de altura cada e bicos espaçados 0,35 m, montados sobre um chassi de ferro perfil em U e tubular. O micropulverizador desenvolvido pulveriza duas seções verticais (uma para cada lado) até 2,00 m de altura, em cultivos arbustivos com vão livre entre linhas mínimo de 0,6 m sem causar danos às plantas. PALAVRAS-CHAVE: Máquinas Agrícolas, Projeto, Pulverização. ABSTRACT: Spraying in small farms or greenhouses has a high cost both for the acquisition of the machines and for the performance of the activity. In addition, there are few technological alternatives available in the market that allow to pass between narrow lines of shrub crops without causing damage to plants. The objective of this work was to develop a self-propelled microsprayer to apply
- 169. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 18 158 liquid products in small areas (greenhouses) between narrow lines of shrub cultures. Initially the possible alternatives for spraying in small areas were studied, associated to the survey of machines with narrow gauge existing in the local market. From this study the possible alternatives of the machine parts capable of associated were organized to meet the main objective. Subsequently the self-propelled microsprayer developed was proposed, constructed and tested in the field. The results show that it is possible to construct a self-propelled two-axle self-propelled microsprayer from a stationary diesel engine with 5,148 W, polyethylene reservoir with 200 L capacity, 3 piston pump, filter, two sections boom with 1,75 m each and nozzles spaced 0.35 m, mounted on a U-shaped iron and tubular chassis. The microsprayer developed sprays in two vertical sections (one each side) up to 2.00 m high, in shrub cultivations with at least 0.6 m free space between lines without causing damage to the plants. KEYWORDS: Agricultural Machinery, Design, Spraying. 1 | INTRODUÇÃO A maioria das aplicações de agrotóxicos em estufas agrícolas são feitas por pulverizadores costais, salvo os casos onde são retiradas algumas linhas para a máquina passar, perdendo assim espaço de cultivo. Os pulverizadores hidráulicos de barra são as máquinas mais utilizadas na aplicação dos agrotóxicos com a finalidade de subdividir a calda uniformemente ao longo da barra, distribuindo-a na superfície a ser tratada.Para tanto a escolha e formas de uso desses equipamentos são fundamentais para que se obtenha a ação eficaz dos agrotóxicos (DORNELLES et al., 2011; SILVEIRA, 2001). Segundo LOPES et al. (2011), os pulverizadores costais são de baixo custo, porém possuem desvantagens como serem carregados e acionados manualmente, ficando sujeitos a variação de pressão de trabalho e a redução da capacidade operacional. Esse problema pode ser minimizado quando o acionamento e o transporte são mecanizados. Conforme (BAUER et al., 2009; GANDOLFO et al. 2013) a comunidade envolvida no processo de produção de alimentos tem como desafio a necessidade de produzir mais com menos custo, com redução da utilização de agrotóxicos e das perdas destes, sem agredir ao homem e ao meio ambiente. BAESSO et al., (2009) alertam para a necessidade de máquinas mais eficientes que propiciem menos desperdício dos produtos aplicados para a preservação do ambiente e a produção de alimentos livre de contaminação. Segundo ALVARENGA e CUNHA (2010), qualquer técnica de aplicação de agrotóxicos deve conseguir controlar as doenças, plantas daninhas e pragas, utilizando dose mínima e com distribuição adequada do produto, sem afetar o ambiente. Entre os componentes do pulverizador que merecem atenção no momento da concepção estão o chassi, propulsor, depósito, filtros, bomba, mangueiras, válvula de
- 170. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 18 159 comando, barra, manômetro, sistema de agitação e conexões. Os bicos de pulverização possuem padrões de distribuição característicos, que determinam a distância entre este e o alvo e o espaçamento destes na barra de pulverização, conforme PERESSIN et al. (1996). As máquinas agrícolas, incluindo os pulverizadores, devem ser testadas e ensaiadas antes de serem utilizadas a fim de conhecer as suas características, evitar desperdícios e melhorar a eficiência. Esses trabalhos podem ser feitos por técnicos, pelo fabricante ou ainda por instituições oficiais, no caso de ser necessária a emissão de certificados ou relatórios de inspeção, de acordo com DORNELLES et al., (2011). O objetivo deste trabalho foi desenvolver um conjunto micropulverizador para aplicação de agrotóxicos na vertical em pequenas áreas com cultivos arbustivos e entre linhas estreitas. 2 | MATERIAL E MÉTODOS Para a realização deste trabalho foi feito um estudo dos modelos de pulverizadores comercializados na região do Distrito Federal, seus componentes e o princípio de funcionamento das diferentes partes que os compõe, associado a um levantamento bibliográfico das possíveis alternativas de máquinas pulverizadoras para aplicação vertical, em cultivos com entrelinhas estreitas, como é o caso de estufas com produção de hortaliças arbustivas. Após organizar essas informações, foram descritos os componentes necessários para que cada conjunto de peças ou partes da máquina atenda aos requisitos de suas funções no todo de um micropulverizador autopropelido. Cada parte foi avaliada para que o conjunto funcione adequadamente sem, no entanto, utilizar uma metodologia de desenvolvimento de projeto mais apurada a exemplo da descrita por ROMANO, (2013). A partir desses conhecimentos foi proposta a montagem de um micropulverizador autopropelido com bitola estreita e barra vertical para aplicação de agrotóxicos até 2,00 m de altura em cultivos arbustivos com vão livre mínimo entre linhas de 0,6 m. Foi construído um chassi de ferro com perfil em U e redondo para receber os esforços dos demais componentes (Figura 1).
- 171. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 18 160 Figura 1. Chassi, eixo traseiro com rodado, banco e barras. Sobre chassi foi colocado um motor de combustão interna, transmissão com direção e eixo dianteiro de uma enxada rotativa, bomba com estabilizador de pressão, reservatório de calda, mangueiras e barra com bicos, além de outros componentes necessários para o funcionamento. Por fim, foram feitas avaliações da eficiência do funcionamento do micropulverizador autopropelido em estufa com cultivo de pimentão com vão livre entre linhas de 0,6 m e até 2,00 m de altura. 3 | RESULTADOS E DISCUSSÃO Após o levantamento das partes (máquinas, componentes e materiais) capazes de associados constituírem uma máquina que atenda às necessidades especificadas no projeto, foi definida a construção de um micropulverizador autopropelido com dois eixos, tração e direção dianteiras. Para o acionamento foi utilizado um motor estacionário ciclo diesel com 5.148 W, montado num sistema de transmissão, direção e eixo dianteiro tracionador pertencente a uma enxada rotativa. Para a complementação do chassi foi utilizado tubo de ferro redondo e barra de fero com perfil em U. Um reservatório de polietileno com capacidade de 200 L serviu para o depósito da calda. Foi utilizada uma bomba de 3 pistões com capacidade de 15 L.min-1 e uma válvula estabilizadora da pressão. A fim de controlar a aplicação para aplicar em toda a barra, apenas em uma seção ou fechar, foi utilizada uma válvula de controle com duas seções, associada a um manômetro e regulador de pressão de trabalho. No circuito hidráulico da calda foram utilizadas mangueiras, registro e filtro de passagem. O chassi da barra foi feito de ferro tubular quadrado. A tubulação da barra foi feita de cano PVC 20 mm, tendo suportes para dois bicos cada com regulagem para serem fechados a fim não pulverizar acima das plantas quando pequenas e válvula antigotejamento. A barra foi construída em duas seções verticais de 1,75 m, posicionadas a 0,15 m de altura do solo, equipada com bicos do tipo cone vazio espaçados 0,35 m.
- 172. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 18 161 Os resultados mostram a viabilidade da construção de um micropulverizador autopropelido estreito para aplicação vertical em cultivos arbustivos com entre linhas estreitas (Figura 2). Figura 2. Micropulverizador autopropelido sendo testado na cultura do pimentão cultivado em estufa. Os testes iniciais realizados durante todo o ciclo do pimentão com espaçamento entrelinhasde1,2mcultivadoemestufascompédireitoaltomostraramofuncionamento adequado da máquina. Para que o micropulverizador desenvolvido transite nas entre linhas sem causar danos às plantas o vão livre mínimo deve ser de 0,6 m o que para o caso do cultivo de pimentão é obtido com 1,2 m de espaçamento entre linhas. O micropulverizador desenvolvido pulveriza na vertical em cultivos arbustivos com vão livre mínimo de 0,6 m numa altura de até 2,00 m sem causar danos às plantas. 4 | CONCLUSÕES É possível construir um micropulverizador autopropelido estreito para aplicação na vertical em cultivos arbustivos utilizando um motor estacionário, sistema de transmissão, direção e rodado de uma enxada rotativa, chassi de ferro em U e tubular, bomba de pistões com válvula estabilizadora de pressão, válvula de comando com regulador de pressão, manômetro, reservatório de polietileno e tubulação da barra de PVC. O micropulverizador autopropelido desenvolvido tem barra com duas seções verticais de 1,75 m cada, vão livre do solo de 0,15 m e altura do último bico de 1,90 m. A máquina desenvolvida mostrou-se satisfatória para aplicação em cultivos arbustivos com até 2,00 m de altura e vão livre entre linhas mínimo de 0,6 m sem causar danos às plantas.
- 173. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 18 162 REFERÊNCIAS ALVARENGA, C. B. A. e CUNHA, J. P. A. R. Aspectos qualitativos da avaliação de pulverizadores hidráulicos de barra na região de Uberlândia, Minas Gerais. Engenharia Agrícola, Jaboticabal, v.30, n.3, p.555-562, maio/jun. 2010. BAESSO, M. M.; TEIXEIRA, M. M.; VIEIRA, R. F.; PAULA JUNIOR, T. J. E CECON, P. R. Deposição de gotas de um pulverizador hidráulico com assistência de ar na barra de pulverização na cultura do feijão. Engenharia na Agricultura, Viçosa, v.17 n.6, 438-445p. nov/dez 2009. BAUER, F. C.; PEREIRA, F. A. R.; SCHEEREN, B. R.; BRAGA, L. W. Diagnóstico das condições, tempo de uso e manutenção de pulverizadores no Estado de Mato Grosso do Sul. Engenharia Agrícola, Jaboticabal, v. 29, n. 3, p. 501-507, 2009. DORNELLES, M. E.; SCHLOSSER, J. F.; BOLLER, W; RUSSINI, A.; CASALI, A. L. Inspeção técnica de tratores e pulverizadores utilizados em pulverização agrícola. Engenharia na Agricultura, Viçosa, V.19 N.1, jan/fev 2011. GANDOLFO, M. A.; ANTUNIASSI, U. R.; GANDOLFO, U. D.; MORAES, E. D.; RODRIGUES, E. B. e ADEGAS, F. S. Periodic inspection of sprayers: diagnostic to the northern of Paraná. Engenharia Agrícola, Jaboticabal, v.33, n.2, p.411-421, mar./abr. 2013. LOPES, E. S.; OLIVEIRA, F. M.; RODRIGUES, C. K. Determinação da carga física de trabalho na atividade manual de herbicida. Ambiência, Guarapuava, v.7, n.2, p.329-337, 2011. PERESSIN, V. A.; MATUO, T.; PERECIN, D.; PIO, L. C. e BRAZ, B. A. Aplicação em jato dirigido em cana-de-açúcar. II: espaçamento entre bicos turbo floodjet para a aplicação de herbicidas. Planta daninha [online], Viçosa, vol. 14, n. 2, 1996. ROMANO, L. N. Desenvolvimento de máquinas agrícolas: planejamento, projeto e produção. São Paulo: Blucher Acadêmico, 2013. 310p. SILVEIRA, G. M. Máquinas para plantio e condução de culturas. Viçosa: Aprenda Fácil, 2001. 334p. (Série Mecanização, v.3).
- 174. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 19 163 CAPÍTULO 19 doi DESENVOLVIMENTO DE UMA BEBIDA DE AMENDOIM Gerônimo Goulart Reyes Barbosa Universidade Federal de Pelotas (UFPel), Curso de Bacharelado em Química de Alimentos, Pelotas – RS Rosane da Silva Rodrigues Universidade Federal de Pelotas (UFPel), Centro de Ciências Químicas, Farmacêuticas e de Alimentos, Pelotas – RS Mirian Ribeiro Galvão Machado Universidade Federal de Pelotas (UFPel), Centro de Ciências Químicas, Farmacêuticas e de Alimentos, Pelotas – RS Josiane Freitas Chim Universidade Federal de Pelotas (UFPel), Centro de Ciências Químicas, Farmacêuticas e de Alimentos, Pelotas – RS Liane Slawski Soares Universidade Federal de Pelotas (UFPel), Curso de Bacharelado em Química de Alimentos, Pelotas – RS. Thauana Heberle Universidade Federal de Pelotas (UFPel), Curso de Bacharelado em Química de Alimentos, Pelotas – RS RESUMO: O trabalho teve como objetivo desenvolver uma bebida vegetal de amendoim, propondo uma alternativa para a demanda por bebidas não alcoólicas produzidas à base de vegetais. A bebida foi elaborada na proporção 1:8 (grão:água, m/v) e adicionada de sacarose comercial até SST de 10°Brix, sendo posteriormente pasteurizada, envasada e mantida sob refrigeração. A caracterização da bebida de amendoim revelou uma composição química de 12,76 °Brix, 0,53 % de açúcares redutores e 10,35 % de açúcares totais, 1,7 % de proteínas, 6,07 % de lipídeos, 196,81 g L-1 de extrato seco, 0,01 % de acidez (% de solução normal), pH 6,21 e coloração amarela de baixa intensidade (86,63 °Hue e croma de 4,54); tais resultados mostraram-se condizentes com às condições de processo e a matéria- prima utilizada. A avaliação sensorial se deu mediante teste de aceitação apoiado em escala hedônica de nove pontos para os atributos: cor, brilho, aroma, sabor, textura e qualidade global, obtendo-se notas médias entre 6,5 e 7,3, as quais correspondem aos termos “gostei ligeiramente” e “gostei regularmente” da escala hedônica. Conforme a avaliação do índice de aceitabilidade para a qualidade global, onde o a bebida apresentou valor superior a 75 %, acredita-se que mesma tenha demonstrado potencial para que seja aprimorada e possa contribuir para atender à demanda do mercado deste segmento de bebidas. PALAVRAS-CHAVE: bebida vegetal; processamento; Arachis hypogaea L.; aceitação; avaliação físico-química. ABSTRACT: The aim of this work was to
- 175. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 19 164 develop a peanut vegetable drink, proposing an alternative to the demand for non - alcoholic beverages produced from vegetables. The beverage was prepared in the proportion 1:8 (grain:water, m/v) and added with commercial sucrose up to 10 °Brix, then pasteurized, bottled and kept under refrigeration. The characterization of the peanut beverage showed a chemical composition of 12,76 °Brix, 0.53 % of reducing sugars and 10, 35 % of total sugars, 1,7 % of proteins, 6,07 % of lipids, 196,81 g L-1 dry extract, 0,01% acidity (% normal solution), pH 6,21 and low intensity yellow coloration (86,63 °Hue and 4,54 chroma); the results are consistent with the process conditions and the raw material used. The sensorial evaluation was based on an acceptance test using a nine points hedonic scale for attributes: color, brightness, aroma, taste, texture and overall quality. Mean scores between 6,5 and 7,3 were obtained, which correspond to the terms “slightly liked” and “regularly enjoyed” of the hedonic scale.According to the evaluation of the acceptability index for global quality, where the beverage presented a value greater than 75 %, it is believed that it has shown potential to be improved and can contribute to meet the market demand of this segment of beverages. KEYWORDS: vegetable drink; processing; Arachis hypogaea L.; acceptance; physicochemical evaluation. 1 | INTRODUÇÃO O mercado de bebidas não alcoólicas aumentou 3 % em 2016 em comparação com o ano anterior, entretanto, devido à crise, o Brasil vem sofrendo uma retração desde o ano de 2014, impactado principalmente pela queda nas vendas de refrigerantes. Em contrapartida, as bebidas saudáveis apresentaram um desempenho positivo, tendo em vista que o consumidor continua comprando as bebidas com diferenciais na funcionalidade, mas com características sensoriais satisfatórias (SALADO, 2017). A produção de bebidas à base de vegetais (não frutas) vem apresentando considerável crescimento, em virtude da demanda do mercado por produtos alternativos como fontes de proteínas, com teor reduzido de açúcar e isentos ou com baixo teor de compostos relacionados à algum tipo de restrição alimentar, a exemplo da intolerância à lactose (FELGATE; SAVARA, 2014). A soja era considera a principal alternativa para a produção de bebidas sem lactose, entretanto, atualmente, bebidas à base de diferentes vegetais como outras leguminosas e cereais estão disponíveis para o mercado consumidor (REGO et al., 2016) Inserido no contexto de bebida à base de vegetais, o amendoim demonstra ser um potencial ingrediente base, uma vez que se apresenta como um alimento com boa aceitação, altamente energético, composto por 48,7 % de lipídeos, dos quais 80% são ácidos graxos insaturados, com quantidade relevante de proteínas, fibras dietéticas, vitaminas, antioxidantes, minerais (selênio, magnésio e manganês) e fitoquímicos como o resveratrol e alguns polifenóis (OLIVEIRA et al., 2016; UNICAMP, 2011). O extrato solúvel de amendoim é muito consumido na Índia e outros países do
- 176. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 19 165 continente asiático, particularmente por crianças e idosos, vegetarianos e indivíduos alérgicos às proteínas do leite de vaca. Através de tecnologia simples de produção pode ser utilizado em outras regiões, atendendo à crescente demanda por produtos alternativos ao leite (KOUANE et al., 2005). Com base no exposto objetivou-se produzir um extrato vegetal de amendoim caracterizando-a quanto a parâmetros físicos e químicos e avaliar a sua aceitabilidade. 2 | METODOLOGIA O extrato de amendoim foi elaborado utilizando grãos de amendoim (Arachis hypogaea L.) torrados e despeliculados, disponíveis comercialmente (Dacolonia Alimentos Naturais Ltda.). Os grãos foram macerados em água destilada a temperatura ambiente por 12 horas. Após drenagem, foram triturados à quente por 5 minutos com água a 97°C em liquidificador doméstico, na proporção de uma parte de amendoim para oito de água (grão:água - 1:8, p/v). Seguiu-se a filtragem do resíduo insolúvel em pano de algodão e à bebida foi adicionado sacarose comercial até o teor de sólidos solúveis totais de 10°Brix. O extrato obtido foi pasteurizado por aquecimento durante 10 minutos a 95-98°C, sob agitação, e imediatamente envasado em garrafas de vidro higienizadas. O produto foi mantido sob refrigeração até o momento de realização das análises. Foram determinados, em triplicada, pH, acidez titulável total, sólidos solúveis totais, extrato seco, lipídios, proteínas, açúcares totais e açúcares redutores, de acordo com as metodologias descritas nas Normas Analíticas do Instituto Adolfo Lutz (2008). A análise de cor foi feita com base no sistema CIELAB utilizando-se os parâmetros L*, a* e b*, através do Colorímetro Minolta CR - 300. Tais parâmetros foram utilizados para calcular o ângulo Hue (º Hue = tan - 1b* / a*) e cromaticidade (C* = a+2 + b2+ )1/2 . Para os resultados das análises foi calculado a média e o desvio padrão. A análise microbiológica de coliformes totais, realizada segundo a metodologia proposta por Silva et al. (2007), indicou que a bebida foi produzida em condições higiênico-sanitárias adequadas (< 3NMP mL-1 ). Seguiu-se a análise sensorial, tendo sido o projeto aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Pelotas, parecer nº. 1.377.045. Abebida de amendoim foi avaliada por 70 provadores não treinados, de ambos os sexos, faixa etária entre 18 e 55 anos, os quais assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Na ficha de avaliação responderam qual a frequência de consumo de extratos vegetais, apontando qual tipo de extrato é consumido e o motivo do consumo. A amostra foi servida em copo plástico contendo em torno 15mL da bebida à temperatura entre 8-10°C. Para avaliação do extrato de amendoim utilizou-se método afetivo, teste de aceitação, apoiado em escala hedônica estruturada de nove pontos cujos extremos corresponderam aos termos (1) “desgostei muitíssimo” e (9) “gostei muitíssimo” considerando os atributos: cor, brilho aroma, sabor, textura, qualidade
- 177. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 19 166 global (ABNT, 1998; DUTCOSKY, 2013; STONE; SIDEL, 1993). Calculou-se o Índice de Aceitabilidade do produto pela expressão: IA (%) = A x 100/B, em que: A = nota média obtida para o produto, e B = nota máxima dada ao produto (DUTCOSKY, 2013). Os dados obtidos foram expressos como médias e seus desvios padrão. 3 | RESULTADOS E DISCUSSÃO Os resultados das análises físicas e químicas da bebida de amendoim estão apresentados na Tabela 1. Determinação Resultado* Sólidos solúveis totais (°Brix) 12,76 ± 0,90 Açúcares redutores (% glicose) 0,53 ± 0,02 Açúcares totais (% glicose) 10,35 ± 0,85 Proteínas (%) Lipídios (%) 1,70 ± 0,11 6.07 ± 0,44 Extrato seco (g L-1 ) 196,81 ± 0,64 Acidez titulável total (% de solução normal) 0,01 ± 0,00 Ph 6,21 ± 0,03 Cromaticidade 4,54 ± 0,09 °Hue** 86,63 ± 0,71 Tabela 1 – Características físicas e químicas de bebida de amendoim (Arachis hypogaea L.) *Médias de três repetições ± estimativa de desvio padrão. ** °Hue - tonalidade de cor. A legislação brasileira não estabelece padrão de identidade e qualidade para bebidas vegetais obtidas de matérias-primas que não frutas. A bebida foco deste estudo, contudo, pode ser enquadrada como suco pois atende às premissas para este tipo de bebida. Segundo a legislação, suco é a bebida não fermentada, não concentrada e não diluída, produzida por meio de processo tecnológico adequado que assegure a sua apresentação e conservação até o momento do consumo (BRASIL, 2009). A normativa não estabelece a quantidade mínima do vegetal. A bebida em pauta, contudo, foi formulada com 12,5%(p/v) de amendoim, resultando em 1,7% de proteína, valor acima do estabelecido para bebidas de soja (0,5 %) (BRASIL, 2013). A composição química de extratos vegetais está diretamente relacionada com a composição dos grãos, o processo de moagem, os procedimentos de extração, a temperatura de extração e o tempo de trituração (TURATTI et al., 1979). O valor estimado para sólidos solúveis totais (SST) (12,76°Brix) está condizente com o esperado, uma vez que foi adicionada sacarose comercial na elaboração da bebida (até 10°Brix) e também pela presença de carboidratos e de outros compostos solúveis do grão em menor quantidade, como proteínas e sais minerais (MORAIS; SILVA, 1996). O valor médio de SST apresenta-se superior ao observado por Oliveira et al. (2014) em extrato de amendoim 1:8 (proporção grão:água) que foi de 4,66°Brix e próximo ao encontrado por Isanga e Zhang (2007) que que foi de 13,29°Brix; este
- 178. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 19 167 fato está associado à matéria-prima e à concentração de sacarose adicionada na elaboração das bebidas. Da mesma forma que para SST, o teor de açúcares totais (ART) corresponde à adição de sacarose até 10 °Brix à bebida. O baixo percentual de açúcares redutores (AR) (0,53%) indica que o tratamento térmico aplicado na pasteurização da bebida, associado ao pH próximo à neutralidade (6,2), não resultou em relevante reação de hidrólise da sacarose utilizada para adoçar a bebida. Barros e Venturini Filho (2016) obtiveram valores próximos para AR (0,1%) e ART (10,1%) em extrato hidrossolúvel de soja preparado na proporção 1:10 (proporção soja:água), adoçado com sacarose até 12°Brix. Com base na tabela TACO (UNICAMP, 2011), a bebida de amendoim apresentou um menor teor de proteína e lipídeos quando comparada proporcionalmente ao grão in natura (27,2% de proteína e 43,9% de lipídeos), fato este justificado pelo processo de maceração seguido de filtração em que parte destes compostos foram separados do produto final. Extratos de amendoim elaborados na mesma proporção do deste trabalho (1:8 de grão e água) por Isanga e Zhang (2007), Lopes (2012), Pontes (2015) e Silva et al. (2016) mostraram-se aproximados no que diz respeito ao teor de proteínas (de 3,16 – 2,46 – 3,0 e 2,98%, respectivamente) e concentração de lipídeos (de 6,83 – 4,97 – 4,76 e 5,86%, respectivamente). A determinação do extrato seco total compreende o conjunto dos açúcares, proteínas, lipídeos e sais minerais que tipificam a bebida. Pontes (2015), ao avaliar o extrato seco de bebida aquosa de amendoim na mesma proporção de grão e água utilizada neste estudo, obteve um valor médio de 97g L-1 , inferior ao determinado no presente trabalho (196,8 g L-1 ), o qual corresponde efetivamente a soma dos valores médios de proteína, lipídeos e carboidratos. O valor encontrado para acidez neste estudo é inferior ao estimado por Barros e Venturini Filho (2016) em extrato de soja (0,1%) e ao encontrado por Pretti e Carvalho (2012) uma vez que o mesmo realizou um processo de fermentação lática após a obtenção do extrato aquoso de amendoim, o que faz com que a acidez aumente em função do ácido láctico produzido pelos microrganismos durante o processo fermentativo. A bebida de amendoim apresentou tendência para cor amarela (°Hue) de baixa intensidade (cromaticidade) devido à presença de compostos inerentes ao grão de amendoim, a exemplo das vitaminas do complexo B como a riboflavina (coloração amarelada) (FENNEMA, 1993). No que diz respeito à avaliação sensorial, dos 70 provadores que participaram da pesquisa, 66 % eram do sexo feminino e 44 % do sexo masculino, com faixa etária entre 18 e 24 anos (47 %), 25 e 35 anos (37 %), 36 e 55 anos (7 %) e o restante entre 46 e 55 anos (4 %). Na ficha utilizada para análise sensorial os provadores deveriam indicar se consomem extratos vegetais e, em caso afirmativo, qual o ingrediente base do extrato,
- 179. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 19 168 a frequência de consumo e o motivo que o leva a consumir tal produto. Com relação ao consumo, 57,14 % afirmaram “não consumir extratos ou leites vegetais”. Entre os 42,86 % provadores que consomem este tipo de bebida, a maioria indicou consumir produtos à base de soja (65,79 %), seguido de extratos de aveia, arroz, coco e girassol, representando 15,79 %, 10,53 %, 5,26 % e 2,63 %, respectivamente. Quando questionados quanto ao motivo que os leva a consumir extratos vegetais (Gráfico 1), a maioria dos provadores (66,67 %) afirma buscar “benefícios à saúde”, seguido de 13,33 % que consomem devido a “dietas vegetarianas/veganas”; os demais, afirmam consumir devido à “intolerância à lactose”, “dieta para controle de peso”, “influência de outras pessoas” ou “outros motivos” representando 6,67, 6,67, 3,33 e 3,33 %, respectivamente. Os resultados deste questionamento vão ao encontro da crescente preocupação por parte da população com alimentos que venham a contribuir para uma melhora na qualidade de vida e aumento de adeptos a dietas vegetarianas/veganas (FELGATE; SAVARA, 2014). Gráfico 1 – Percentual de provadores versus motivo do consumo de extratos vegetais A frequência de consumo de extratos vegetais está disposta no Gráfico 2, onde verifica-se que 55,71 % dos entrevistados relataram “nunca consumir a bebida”. Dentre os 44,29 % que consomem, 37 % “consomem eventualmente”, 4 % relatam consumir “mais de uma vez por semana” e 3 % bebem ao “menos uma vez por semana”. Pode- se observar, com base nos dados obtidos, que os provadores não têm o hábito de consumir extratos vegetais e que, quando os consome, acaba optando pelo extrato de soja, provavelmente devido ao menor custo e a maior variedade e disponibilidade no mercado quando comparado aos demais. De acordo com Bechmann (2001) a indústria de alimentos deve voltar-se para os produtos análogos aos tradicionais, uma vez que se apresentam como resultado da evolução da tecnologia e da demanda de mercado.
- 180. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 19 169 Gráfico 2 – Frequência de consumo de extratos vegetais pelos provadores (n=70). As médias dos julgamentos e o índice de aceitabilidade do produto podem ser visualizados na Tabela 2. Atributo Notas* IA (%)** Cor 6,5 ± 1,6 72,70 Brilho 6,6 ± 1,7 73,49 Aroma 7,1 ± 1,6 79,05 Sabor 7,3 ± 1,6 80,95 Textura 6,7 ± 1,7 74,60 Qualidade global 7,1 ± 1,4 78,89 Tabela 2 – Aceitabilidade do extrato vegetal de amendoim. *Média de 70 provadores ± estimativa do desvio padrão; usando escala hedônica estruturada de 1 (desgostei muitíssimo) a 9 (gostei muitíssimo) pontos. ** Índice de aceitabilidade. Os atributos cor, brilho, aroma, sabor e textura obtiveram nota média entre 6,5 e 7,1, correspondendo aos termos “gostei ligeiramente” e “gostei regularmente” da escala hedônica. Como comentário adicional, alguns provadores sugeriram que a textura do produto poderia ser um pouco mais consistente e com mais presença do amendoim, tanto para melhor caracterização da cor quanto do aroma. Tal avaliação pode ter sido influenciada pelo número de provadores (55,7%) que não estão familiarizados com o consumo de bebidas vegetais. Abebida de amendoim alcançou índice de aceitabilidade (IA) maior para o atributo sabor, seguido pelo aroma e pela textura, atendendo a premissa de que para ser considerado aceito, conforme percepção global de suas características sensoriais de qualidade, é necessário que o produto obtenha índice de aceitação de no mínimo 70 % (GULARTE, 2009). Considerando-se o IA da bebida em estudo como a média entre os atributos analisados (qualidade global), o produto recebeu 78,89 % de aceitação. Este resultado indica a possibilidade de dar sequência a estudos com este produto, tendo em conta a melhoria dos aspectos sensoriais, particularmente aqueles apontados com menor aceitação. Em estudos futuros deve ser considerada a avaliação por parte de provadores que tenham o hábito de consumo de tais bebidas.
- 181. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 19 170 Lopes (2012) elaborou um extrato fermentado de amendoim para o qual obteve valor médio de aceitação de 5,9 em escala hedônica de 9 pontos. Para produtos à base de amendoim resultados satisfatórios para aceitação também foram obtidos utilizando saborizantes e leite em pó (SUNNY-ROBERTS et al., 2004). Conforme Chan e Beuchat (1991) o processo de fermentação melhora as características sensoriais do extrato de amendoim devido às alterações nas concentrações de componentes responsáveis pelo sabor de feijão cru. Outro benefício da fermentação do extrato vegetal é a formação de compostos que conferem aroma e sabor característicos oriundos direta ou indiretamente dos microrganismos fermentadores, além de aumentar a vida útil de produtos alimentícios fermentados (AGUIAR; CATANEO, 1998). Na bebida deste estudo, contudo, tais aspectos sensoriais limitantes (como sabor de feijão cru) não foram apontados pelos provadores, alguns dos quais manifestaram nas fichas de avaliação que o produto poderia apresentar “mais amendoim”, referindo-se ao aroma e sabor. 4 | CONCLUSÕES A bebida vegetal de amendoim apresentou características químicas compatíveis com as matérias-primas utilizadas, com composição média de 196,81g L-1 de extrato seco, 12,76 °Brix, 0,53 % de açúcares redutores e 10,35 % de açúcares totais, 1,7 % de proteínas, 6,07 % de lipídeos, 0,01 % de acidez, pH de 6,21 e tendência para cor amarela de baixa intensidade. Apoiado na análise sensorial, a bebida de amendoim obteve aceitação descrita como “gostei ligeiramente” e “gostei regularmente” para os atributos cor, brilho, aroma, sabor e textura, com índice aceitabilidade para a qualidade global superior a 75 %, o que infere que a mesma demonstra potencial para que seja aprimorada e possa contribuir para atender à demanda do mercado deste segmento de bebidas. REFERÊNCIAS ABNT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14141: Escalas utilizadas em análise sensorial de alimentos e bebidas, Rio de Janeiro, 1998. AGUIAR, D. M. P.; CATANEO, A. L. Proposta de uma bebida amilácea naturalmente acidulada obtida de fécula de mandioca gomificada e leite em pó. Energia na Agricultura, v. 3, n. 1, p. 48-58, 1998. BARROS, E. A.; VENTURINI FILHO, W. G. Caracterização Físico-Química e Sensorial de Extrato Hidrossolúvel de Soja Obtido por Diferentes Métodos de Processamento. Revista Brasileira de Tecnologia Agroindustrial, v. 10, n. 1, 2016. BECHMANN, H. P. Cheese analogues: a review. International Dairy Journal, v. 11, n. 4, p. 505-515, 2001. BRASIL. Decreto nº 6.871, de 4 de junho de 2009. Regulamenta a Lei no 8.918, de 14 de julho de 1994, que dispõe sobre a padronização, a classificação, o registro, a inspeção, a produção e a fiscalização de bebidas. Diário Oficial da União, Poder Executivo, Brasília, DF, 4 jun. 2009.
- 182. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 19 171 BRASIL. Instrução Normativa nº 19, de 19 de junho de 2013. Estabelece em todo território nacional a complementação dos padrões de identidade e qualidade para bebidas e dá outras providências. Diário Oficial da União, Poder Executivo, Brasília, DF, 20 jun. 2013. CHAN, L.; BEUCHAT, L. R. Changes in chemical composition and sensory qualities of peanut milk fermented with lactic acid bacteria. Intern. Journal of Food Microbiology, v. 13, n. 4, p. 273-282, 1991. DUNCAN, C. E.; GORBET, D. W.; TALCOTT, S. T. Phytochemical content and antioxidant capacity of water-soluble isolates from peanuts (Arachis hypogaea L.). Food Research International, v. 39, n. 8, p. 898-904, 2006. DUTCOSKY, S. D. Análise sensorial de alimentos. 4. ed. Curitiba: Champagnat, 2013. 531 p. FELGATE, M.; SAVARA, T. Consumer and Innovation Trends in Milk 2014: the latest trends in fresh and ambient milk, concentrated milk, powdered milk, milk-based beverages, and dairy alternative milks. UK: Datamonitor, 2014. FENNEMA, O.R. Química de los alimentos. 2.ed. Zaragoza: Acribia, 1993. FREIRE, R. M. M.; NARAIN, N.; MIGUEL, A. M. R. O.; SANTOS, R. C. Aspectos nutricionais de amendoim e seus derivados. In: Santos, R. C. O Agronegócio do Amendoim no Brasil. Campina Grande: Embrapa Algodão, 2005. cap. 9. p. 389-421. IAL – Instituto Adolfo Lutz. Métodos físico-químicos para análise de alimentos. 4. ed. São Paulo: Instituto Adolfo Lutz, 2008. 1020 p. ISANGA, J.; ZHANG, G. N. Preliminary investigation of the production and characterization of peanut milk based stirred yoghurt. Journal of Dairy Science, v. 2, n. 3, p. 207-216, 2007. KOUANE, D.; ZHANG, G.; GEN, J. Peanut milk and peanut milk based products production: A Review. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, v. 46, p. 405-423, 2005. LOPES, G. A. Z. Caracterização química, física e sensorial de produtos à base de amendoim. 2012. 96 f. Dissertação (Doutorado em Ciência dos Alimentos) – Universidade Estadual Paulista, Araraquara, São Paulo, 2012. MORAIS, A. A. C.; SILVA, A. L. Soja: suas aplicações. Rio de Janeiro: Médici Editora Médica e Científica, 1996. 259 p. OLIVEIRA, T. K. B.; ALMEIDA, F. DE A. C.; DE CASTRO, D. S.; NUNES, J. S.; RAMOS, K. R. DE L. P. Análise físico-química do extrato aquoso do amendoim. Revista Verde, v. 9, n. 2, p. 121-124, 2014. OLIVEIRA, T. K. B.; ALMEIDA, F. DE A. C.; PORTELA, A. S.; ALMEIDA, I. B.; DE MELO, B. A. Efeitos metabólicos da suplementação oral do amendoim in natura e do seu extrato aquoso em ratos wistar. Revista Expressão Científica, v. 1, n. 1, p. 1-10, 2016. PONTES, F. L. Desenvolvimento biotecnológico do extrato aquoso de amendoim na elaboração de leite fermentado. 2015. 50 f. Trabalho de conclusão de curso (Graduação em Química Industrial) – Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, 2015. PRETTI, T.; CARVALHO, M. R. B. Tecnologia para produção de extrato aquoso de amendoim. Brazilian Journal of Food & Nutrition, v. 23, n. 1. p. 39-44, 2012. REGO, R. A.; VIALTA, A.; MADI, L. F. C. Brasil Beverage Trends 2020: Tendências do Mercado de Bebidas Não Alcoólicas. Campinas: ITAL, 2016.
- 183. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 19 172 SALADO, A. O mercado de bebidas não alcoólicas no Brasil. Revista Aditivos e Ingredientes. p. 8-10, 2017. SILVA, L. M. de M.; ALMEIDA, F. de A. C.; DE SOUZA, F. C.; LIMA, J. P.; DE CASTRO, D. S. Produção de extrato aquoso integral de amendoim. In: Congresso Técnico Científico da Engenharia e da Agronomia (CONTECC), 2016, Foz do Iguaçu. Anais... 2016. SILVA, N.; JUNQUEIRA, V. C. A.; SILVEIRA, N. F. A.; TANIWAKI, M. H.; DOS SANTOS, R. F. S.; GOMES, R. A. R. Manual de métodos de análise microbiológica de alimentos. 3. ed. São Paulo: Livraria Varela, 2007. STONE, H.; SIDEL, J. L. Sensory evaluation on practices. Orlando: Academic Press, 1993. SUNNY-ROBERTS, E. O.; OTUNOLA, E. T.; IWAKUN, B.T. An evaluation of some quality parameters of laboratory-prepared fermented groundnut milk. European Food Research Technology. v. 218, n. 5, p. 452-455, 2004. TURATTI, J. M.; SALLES, A. M.; SANTOS, L. C.; MORI, E. E. M.; FIGUEIREDO, I. B. Estudos preliminares com cultivares de soja para produção de leite. Boletim do Instituto Tecnológico de Alimentos, v. 16, n. 3, p. 289-305, 1979. UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS – UNICAMP. Tabela Brasileira de Composição de Alimentos. 4. ed. Campinas: UNICAMP/NEPA, 2011, 161 p.
- 184. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 20 173 CAPÍTULO 20 doi DESENVOLVIMENTO INICIAL DE MUDAS DE IPÊ-ROXO EM DIFERENTES SUBSTRATOS Jeniffer Narcisa-Oliveira UCDB – Universidade Católica Dom Bosco, Faculdade de Agronomia. Campo Grande – Mato Grosso do Sul Renata do Nascimento Santos UCDB – Universidade Católica Dom Bosco, Faculdade de Agronomia. Campo Grande – Mato Grosso do Sul Beatriz Santos Machado UCDB – Universidade Católica Dom Bosco, Departamento de Ciências Ambientais e Sustentabilidade Agropecuária (CASA). Campo Grande – Mato Grosso do Sul Juliane Gonçalves da Silva UCDB – Universidade Católica Dom Bosco, Departamento de Ciências Ambientais e Sustentabilidade Agropecuária (CASA). Campo Grande – Mato Grosso do Sul Raíra Andrade Pelvine UNESP – Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Ciências Agrárias. Botucatu – São Paulo Rudieli Machado da Silva UNESP – Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Ciências Agrárias. Botucatu – São Paulo Nathalia Pereira Ribeiro UNESP – Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Ciências Agrárias. Botucatu – São Paulo Lorene Tiburtino-Silva UCDB – Universidade Católica Dom Bosco, Departamento de Desenvolvimento Local (DL). Campo Grande – Mato Grosso do Sul RESUMO: O emprego da vegetação na recuperação de áreas degradas, sejam elas rurais ou urbanas, tem-se constituído em um dos instrumentos primordiais de uso, com resultados satisfatórios. A espécie do presente estudo, Handroanthus heptaphyllus tem sido utilizada para reconstituição de Reserva Legal, recuperação de áreas degradadas rurais e urbanas. Nesse cenário, produção de mudas com o intuito de recuperar áreas impactadas possui extrema importância, o que acarreta estudos relacionados às formulações e características de substratos, como a promoção de crescimento inicial superior, qualidade e uniformidade. Portanto, este trabalho teve por objetivo avaliar o desenvolvimento inicial de mudas de Ipê-Roxo em diferentes substratos, por meio da mensuração de percentual de emergência,índicedevelocidadedeemergência (IVE), médias de altura (H), diâmetro do coleto (DC), matérias secas da parte aérea (MSPA), das folhas (MSF), do sistema radicular (MSR), massa da matéria seca total (MST), de mudas de H. heptaphyllusem quatro substratos distintos I) solo; II) solo + esterco bovino (2:1); III) solo + areia + esterco bovino (2:1:1); IV) solo + areia (1:1). Os maiores índices de germinação e IVE foram obtidos em mudas formadas no
- 185. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 20 174 tratamento formulado apenas com solo (I). Porém, os resultados mais favoráveis relacionados ao desenvolvimento das mudas foram alcançados no tratamento que consistia no emprego de solo + esterco bovino (2:1), prontamente, o substrato mais indicado para a produção de mudas de ipê-roxo é o II. PALAVRAS-CHAVE: Ações antrópicas, espécie nativa, mudas florestais, degradação ambiental. ABSTRACT: The use of vegetation in the recovery of degraded areas, be they rural or urban, has been constituted in one of the primordial instruments of use, with satisfactory results. The species used in the present study, Handroanthus heptaphyllus has been used for reconstitution of Legal Reserve, recovery of degraded rural and urban areas. In this scenario, production of seedlings with the aim of recovering impacted areas is extremely important, which leads to studies related to the formulations and characteristics of substrates, such as the promotion of superior initial growth, quality and uniformity. The objective of this work was to evaluate the initial development of Ipê- Roxo seedlings in different substrates, by means of the measurement of emergency percentage, emergence rate index (ERI), mean height (H), collar diameter (CD), shoot dry matter (SDM), leaves dry matter (LDM), root system dry matter (RSDM), and total plant dry matter (TPDM) of H. heptaphyllusem seedlings on four different substrates I) soil; II) soil + bovine manure (2:1); III) soil + sand + bovine manure (2:1:1); IV) soil + sand (1:1). The highest rates of germination and ERI were obtained in seedlings formed in the treatment formulated with soil (I) alone. However, the most favorable results related to the development of the seedlings were achieved in the treatment of soil + bovine manure (2:1), hence the most suitable substrate for the production of ipê- roxo seedlings is II. KEYWORDS: Anthropogenic actions, native species, forest seedlings, environmental degradation. 1 | INTRODUÇÃO Quando se fala em áreas degradadas, não se refere apenas àquelas estabelecidas nas zonas rurais, mas também, as localizadas em zonas urbanas. As ações antrópicas, como extração de recursos naturais de forma inadequada, ocupação desordenada, supressão vegetal, entre outros inúmeros fatores, diretamente ou indiretamente, lesam a biodiversidade local, onde ocorre erosão e o assoreamento dos cursos D’água, empobrecimento dos solos, esgotamento de águas residuais em leitos de rios, além da extinção de várias espécies da fauna e flora (NETO et al., 2004; SANTOS et al., 2017). No Brasil, os biomas Mata Atlântica e Cerrado são os que mais sofrem com a influências antrópicas e, devido ao alto grau de devastação e endemismo, são julgadas áreas prioritárias para defesa da biodiversidade – hotspots (MYERS et al.,
- 186. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 20 175 2000). Diversos autores relatam que a restauração ecológica é uma saída para tornar os danos causados ao meio ambiente mínimos, conservar a biodiversidade e retomar os serviços ecossistêmicos (CHAZDON, 2008; RIO DE JANEIRO, 2010; RODRIGUES et al., 2011). Nesse cenário crescente, o emprego da vegetação na recuperação de áreas degradas, sejam elas rurais ou urbanas, tem-se constituído em um dos instrumentos primordiais de uso, com resultados satisfatórios. A espécie do presente estudo, Handroanthus heptaphyllus (Vell.) Mattos tem sido muito utilizada para projetos paisagísticos, reconstituição de Reserva Legal, recuperação de áreas degradadas rurais e urbanas, além de ser empregada na medicina popular (POTT & POTT, 1994; CONAMA, 2002, NETO & MORAIS, 2003, CRUZ et al., 2004, NETO et al., 2004). Conhecida popularmente como ipê-roxo, ipê-preto, ipê-roxo-anão, pau-d’arco, entre outros, o H. heptaphyllus é uma árvore pertencente à família Bignoniaceae, nativa do Brasil e também da Argentina, Bolívia e Paraguai (LORENZI, 2014). Há relatos de que a espécie tem sido alvo de estudo em função da diminuição considerável do número de indivíduos encontrados em áreas de ocorrência natural, estando relacionada na lista de espécies para conservação genética ex situ no Instituto Florestal de São Paulo (SIQUEIRA & NOGUEIRA, 1992; ETTORI et al., 1996; MARTINS et al., 2007). Delarmelina et al., (2014) explanam que a produção de mudas com o intuito de recuperar áreas impactadas possui extrema importância. Com isso, estudos relacionados às formulações e características dos substratos têm sido primordiais. Caldeira et al., (2000) afirmam que a germinação de sementes, a iniciação radicular e o enraizamento estão correlacionados às características biológicas, físicas e químicas do substrato. Freitas et al., (2013) explanam que a produção de mudas é uma fase condicionada a utilização de insumos, sendo o substrato o que mais tem se destacado. Para Martins et al., (2012), variações em sua composição implicam na inutilidade ou irregularidade de germinação em função de sua aeração, capacidade de retenção de água, estrutura, propensão à infestação por patógenos, dentre outros fatores. Em detrimento dessas intempéries, podem ser acarretadas más formações das plantas e o aparecimento de sintomas de deficiências ou excessos nutricionais (Souza et al., 2013). Segundo Morais et al., (1996), estudos detalhados relacionados à combinação de materiais para compor um substrato, a fim de promover maior crescimento inicial de mudas com qualidade e de forma rápida, é primordial para a melhoria e tecnificação da produção na fase de viveiro. Fonseca, (2001) acrescenta, que também se deve levar em conta aspectos econômicos, como por exemplo, baixo custo e disponibilidade. Portanto, este trabalho teve por objetivo avaliar o desenvolvimento inicial de mudas de Ipê-Roxo em diferentes substratos, visando o baixo custo de confecção, a disponibilidade dos componentes e a qualidade das mudas.
- 187. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 20 176 2 | MATERIAL E MÉTODOS O experimento foi realizado na Base de Pesquisas da Universidade Católica Dom Bosco – UCDB, no município de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, no período de 10 de julho a 29 de agosto de 2017. O município está localizado à 592 m de altitude, longitude de 20.4697° S e latitude de 54.6201° W. O clima da região, de acordo com a classificação de Köeppen é Aw, definido como clima tropical úmido e com temperatura média anual de 24,5ºC. As sementes de Ipê-Roxo foram coletadas em árvores na região de Jaraguari – MS, no mês de julho de 2017. As sementes foram lavadas em água corrente e imersas em água por 24 horas. Após isso, foram secadas à sombra e armazenadas em câmara seca, com temperatura de 20°C, e umidade relativa de 45% até o momento da semeadura (COSTA, 2009). A avaliação do crescimento inicial das mudas se deu em distintos substratos: I) solo de barranco; II) solo de barranco + esterco bovino (2:1); III) solo de barranco + areia (1:1); IV) solo de barranco + areia + esterco bovino (2:1:1). O solo de barranco e o esterco que compuseram os substratos foram coletados na Base de Pesquisas, a areia foi comprada no comércio local. O solo de barranco foi retirado na camada inferior a 20 cm no perfil do solo e submetido a análises químicas (Tabela 1). Todos os substratos receberam calagem e adubação (Tabela 2). Análise Unidade Areia Solo de Barranco Teor de argila g kg -1 10 61 pH H2 O -log [H+] 5,05 5,28 M.O. g dm -3 9,47 31,74 P mg dm -3 4,52 2,07 K cmol dm -3 0,02 0,43 Ca cmol dm -3 *** 2,05 Mg cmol dm -3 *** 1,1 Ca+Mg cmol dm -3 0,45 3,15 H+Al cmol dm -3 2,13 5,73 SB cmol dm -3 0,47 3,58 T cmol dm -3 2,6 9,31 V cmol dm -3 18,9 38,45 Tabela 1. Composição físico-química dos solos utilizados como substrato. Nutriente Quantidade Fonte Nitrogênio (N) 40 mg L -1 Sulfato de amônio Fósforo (P) 160 mg L -1 Superfosfato triplo Potássio (K) 24 mg L -1 Cloreto de potássio Cálcio (Ca) 1 g L -1 Calcário dolomítico Tabela 2. Calagem e adubação em substratos para mudas de Ipê-Roxo (Handroanthus heptaphyllus).
- 188. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 20 177 Foram utilizados sacos de polietileno (11x18 cm) como recipientes para a produção das mudas. A semeadura ocorreu dia 10 de julho de 2017, sendo semeadas duas sementes por saco. Os recipientes foram alocados em viveiro de telado agrícola (Sombrite®), malha de 50% de sombreamento. Foi efetuado o raleio quando as plântulas estavam com duas folhas definitivas. Depois de observada a primeira plântula emergida aos 5 dias após a semeadura (DAS), foi realizada a contagem do número de plântulas emergidas diariamente durante 25 dias de avaliação. Com isso, pode-se obter a porcentagem de número de plântulas emergidas e o índice de velocidade de emergência, que foi calculado de acordo com Maguire, (1962). Aos 50 DAS foram realizadas as mensurações de altura (H) e diâmetro do coleto (DC). Após isso, aferiu-se a massa fresca das plantas e estas foram alocadas em estufa com circulação de ar forçada (105ºC por 24 horas) para a secagem e a obtenção das massas das matérias secas da parte aérea (MSPA), das folhas (MSF), do sistema radicular (MSR). Somaram-se as MSPA, MSF e MSR para obtenção de massa da matéria seca total (MST). Foi utilizado o delineamento inteiramente casualizado, com vinte repetições (recipientes semeados). As médias foram comparadas pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade, utilizando o software Assistat, Versão 7.7 beta (SILVA & AZEVEDO, 2016). 3 | RESULTADOS E DISCUSSÃO Houve efeito de tratamento para todas as variáveis analisadas (Tabela 3). Aos 30 DAS, verificou-se alto percentual de emergência em todos os substratos estudados, sendo que o substrato formulado com solo + areia + esterco bovino (2:1:1) apresentou IVE e emergência total superiores, havendo um total de 95% de plântulas emergidas. Substrato I II III IV CV%* Emergência Total (%) 85 c 90 b 95 a 75 d 1,77 IVE 1,02 b 1 c 1,31 a 0,88 d 1,67 H (cm) 7,26 b 10,29 a 7,35 b 6,6 b 4,39 DC (cm) 2,54 ab 4,15 a 2,93 b 2,44 b 3,60 MSPA (g) 0,85 b 1,77 a 0,95 b 0,73 b 1,08 MSF (g) 0,62 b 1,6 a 0,61 b 0,53 b 1,38 MSR (g) 0,93 b 1,75 a 0,66 c 0,54 c 3,14 MST (g) 2,41 b 5,13 a 2,23 bc 1,81 c 1,86 Tabela 3. Percentual de emergência, índice de velocidade de emergência (IVE), médias de altura (H), diâmetro do coleto (DC), matérias secas da parte aérea (MSPA), das folhas (MSF), do sistema radicular (MSR), massa da matéria seca total (MST), de mudas de Handroanthus heptaphyllusem quatro substratos distintos I) solo; II) solo + esterco bovino (2:1); III) solo + areia + esterco bovino (2:1:1); IV) solo + areia (1:1). Médias seguidas de letras iguais, nas linhas, não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey (P≤0,05).
- 189. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 20 178 Nos demais parâmetros analisados (médias de altura, diâmetro do coleto, matéria seca da parte aérea, das folhas, do sistema radicular e massa da matéria seca total) as mudas produzidas no substrato confeccionado com solo + esterco bovino (2:1) apresentaram melhor desenvolvimento aos 50 DAS. As mudas oriundas de substrato formulado com solo + areia (1:1) foram menos favorecidas, apresentando-se inferires em todas as variáveis analisadas. Segundo Carvalho, (1994), isso se deve ao fato de que as plantas de H. heptaphyllusem se desenvolvem melhor em substratos com boa drenagem e de textura franco argilosa a argilosa. Levando-se em conta o fato de que a função do substrato é dar suporte químico e físico as plantas, para boa germinação e desenvolvimento destas (MINAMI & SALVADOR, 2010; TESSARO et al., 2013), o substrato III é o mais indicado para a produção de mudas de Ipê Roxo em um curto espaço de tempo (IVE) e com qualidade. Além disso, o solo de barranco e o esterco bovino são de fácil obtenção para produtores de mudas florestais de pequena a larga escala de produção. 4 | CONSIDERAÇÕES FINAIS Os maiores índices de germinação e IVE foram alcançados em mudas formadas no tratamento formulado apenas com solo (I). Porém, os melhores resultados relacionados ao desenvolvimento das mudas foram obtidos no tratamento que consistia no emprego de solo + esterco bovino (2:1), logo, o substrato mais indicado para a produção de mudas de ipê-roxo com qualidade e baixo custo é o II. 5 | AGRADECIMENTOS: À CAPES, ao CNPq e à FUNDECT pelo auxílio financeiro e bolsas concedidas. REFERÊNCIAS CALDEIRA, M.V.W.; SCHUMACHER, M.V.; BARICHELLO, L.R.; VOGEL, H.L.M.; OLIVEIRA, L.S. Crescimento de mudas de Eucalyptus saligna Smith em função de diferentes doses de vermicomposto. Revista Floresta, Curitiba, v. 28, n. 1-2, p. 19-30, 2000. Disponível em: < http:// dx.doi.org/10.5380/rf.v28i12.2305 >. Acesso em: 12 de setembro de 2017. CHAZDON, R. L. Beyond deforestation: restoring forests and ecosystem services on degraded lands. Science, v. 320, n. 5882, p. 1458–1460, 2008. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1126/science.1155365>. Acesso em: 14 de maio de 2018. CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE – CONAMA (Brasil). Resolução nº 307, de 05 de julho de 2002. Diário Oficial da União, Brasília, 30 de agosto de 2002. Seção I, p.17.241. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/port/conama/processos/18018FE8/PropResol_EMENDAS_2oGT.p df>. Acesso em: 10 de setembro de 2017.
- 190. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 20 179 COSTA, C.J. Armazenamento e Conservação de Sementes de Espécies do Cerrado. 1. Ed. Planaltina: Embrapa Cerrados, 2009. Disponível em: <https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/ bitstream/doc/664379/1/doc265.pdf>. Acesso em 11 de setembro de 2017. CRUZ, C.A.F.; PAIVA, H.N.; GOMES, K.C.O.; GUERREIRO, C.R.A. Efeito de diferentes níveis de saturação por bases no desenvolvimento e qualidade de mudas de ipê-roxo (Tebebuia impetiginosa (Mart.) Standley). Scientia Forestalis, Piracicaba, v. 2, n. 66, p. 100-107, 2004. Disponível em: <http://www.ipef.br/publicacoes/scientia/nr66/cap10.pdf>. Acesso em: 12 de setembro de 2017. DELARMELINA, W.M.; CALDEIRA, M.V.W.; FARIA J.C.T.; GONÇALVES, E.O.; ROCHA, R.L.F. Diferentes Substratos para a Produção de Mudas de Sesbania virgata. Floresta e Ambiente, Seropédica, v. 21, n. 2, p. 224-233, 2014. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.4322/floram.2014.027>. Acesso em: 11 de setembro de 2017. FONSECA, T. G. Produção de mudas de hortaliças em substratos de diferentes composições com adição de CO2 na água de irrigação. 2001. Dissertação (Mestrado em Agronomia) - Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Piracicaba.Disponível em: <http://www.teses.usp.br/teses/ disponiveis/11/11136/tde08042002094507/Publico/taysa.pdf>. Acesso em: 12 de setembro de 2017. FREITAS, G.A.; SILVA, R.R.; BARROS, H.B.; VAZ-DE-MELO, A.; ABRAHÃO, W.A.P. Produção de mudas de alface em função de diferentes combinações de substratos. Revista Ciência Agronômica, Fortaleza, v. 44, n. 1, p. 159-166, 2013. Disponível em: <http://ccarevista.ufc.br/seer/index.php/ccarevista/article/view/1813>. Acesso em: 11 de setembro de 2017. MAGUIRE, J. D. Speed germination-aid in selection and evaluation for seedling emergence and vigor. Crop Science, Madison, v. 2, p. 176-177, 1962. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.2135/cropsci1962.0011183X000200020033x>. Acesso em: 14 de maio de 2018. MARTINS, C.C.; MACHADO, C.G.; SANTANA, D.G.; ZUCARELI, C. Vermiculita como substrato para o teste de germinação de sementes de ipê-amarelo. Semina: Ciências Agrárias, Londrina, v. 33, n. 2, p. 533-540, 2012. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.5433/16790359.2012v33n2p533>. Acesso em: 11 de setembro de 2017. MARTINS, L.; LAGO, A.G.; ANDRADE, A.C.S.; SALES, W.R.M. Conservação de sementes de ipê-roxo (Tabebuia impetiginosa (Mart. ex DC.) Standl.) em nitrogênio líquido. Revista Brasileira de Sementes, Londrina, v. 31, n. 2, p.71-76, 2009. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/S0101- 31222009000200008>. Acesso em: 10 de setembro de 2017. MARTINS, L.; SILVA, W.R.; LAGO, A.A. Conservação de sementes de tangerina ‘Cleópatra’: teor de água e temperatura do ambiente. Revista Brasileira de Sementes, Londrina, v.29, n.1, p.178- 185, 2007.Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/S0101-31222007000100025>. Acesso em: 12 de setembro de 2017. MINAMI, K.; SALVADOR, E.D. Substrato para mudas. 1. ed. Piracicaba: Editora Degaspari, 2010. MYERS, N.; MITTERMEIER, R.A.; MITTERMEIER, C.G.; FONSECA, G.A.B.; KENT, J. Biodiversity hotspots for conservation priorities. Nature, v. 403, n. 6772, p. 853–858, 2000. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1038/35002501>. Acesso em: 14 de maio de 2018. NETO, G. G.; MORAIS, R. G. Recursos medicinais de espécies do cerrado de Mato Grosso: um estudo bibliográfico. Acta Botânica Brasileira, Belo Horizonte, v. 17, n. 4, p. 561-584, 2003. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/S0102-33062003000400009>. Acesso em: 14 de setembro de 2017. NETO, G.A.; ANGELLIS, B.L.A.; OLIVEIRA, D.S. O uso da vegetação na recuperação de áreas urbanas degradadas. Acta Scientiarum, Maringá, v. 26, n. 1, p. 65-73, 2004. Disponível em: <http://
- 191. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 20 180 ojs.uem.br/ojs/index.php/ActaSciTechnol/article/viewFile/1555/898>. Acesso em: 12 de setembro de 2017. POTT, A.; POTT, V. J. Plantas do Pantanal. Corumbá: Editora Embrapa/CPAP, 1994. Rio de Janeiro. Secretaria de Estado do Ambiente. Superintendência de Biodiversidade. Diagnóstico da produção de mudas de espécies nativas no estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2010. Disponível em: <http://www.itpa.org.br/?p=75>. Acesso em: 10 de setembro de 2017. RODRIGUES, R.R.; GANDOLFIA, S.; NAVEA, A.G.; ARONSON, J.; BARRETOA, T.E.; VIDAL, C.Y. BRANCALION, P.H.S. Large-scale ecological restoration of high-diversity tropical forests in SE Brazil. Forest Ecology and Management, v. 261, n. 10, p. 1605-1613, 2011. Disponível em: <https:// doi.org/10.1016/j.foreco.2010.07.005>. Acesso em: 14 de maio de 2018. SANTOS, I.J.A.; SILVA, J.A.G.; SILVA, J.; MENDES, T.R.M.; SOUZA, D.O.S.; SILVA, G.S. Levantamento dos impactos ambientais e medidas mitigadoras para a recuperação de áreas degradadas do Rio Estiva. Cadernos de Graduação, Aracaju, v.4, n. 2, p. 171-182, 2017. Disponível em: <https://periodicos.set.edu.br/index.php/fitsexatas/article/view/4398>. Acesso em 14 de maio de 2018. SILVA, F.A.S.; AZEVEDO, C.A.V. The Assistat Software Version 7.7 and its use in the analysis of experimental data. African Journal of Agricultural Research, v.11, n.39, p. 37333740, 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.5897/AJAR2016.11522>. Acesso em: 14 de maio de 2018. SIQUEIRA, A.C.M.F.; NOGUEIRA, J.C.B. Essências brasileiras e sua conservação genética no Instituto Florestal de São Paulo. Revista do Instituto Florestal, São Paulo, v.4, n. 4, p. 1187, 1992. SOUZA, D.R.; PIRES, R.A.; PONTE, C.M.A.; AMORIM, C.H.F. Efeito de diferentes substratos no desenvolvimento inicial de mudas de cenoura. Cadernos de Agroecologia, Recife, v. 8, n. 2, 2013. Disponível em: <http://revistas.abaagroecologia.org.br/index.php/cad/article/view/14289>. Acesso em: 14 de maio 2018. TESSARO, D.; MATTER, J.M.; KUCZMAN, O.; FURTADO, L.; COSTA, L.A.M.; COSTA, M.S.S.M. Produção agroecológica de mudas e desenvolvimento a campo de couvechinesa. Ciência Rural, Santa Maria, v. 43, n. 5, p. 831-837, 2013. Acesso em: < http://dx.doi.org/10.1590/S0103- 84782013005000036>. Acesso em: 12 de setembro de 2017.
- 192. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 21 181 DESENVOLVIMENTO INICIAL DE PLÂNTULAS DE DIFERENTES VARIEDADES DE FEIJÃO INOCULADAS COM AZOSPIRILLUM BRASILENSE CAPÍTULO 21 doi Juliana Yuriko Habitzreuter Fujimoto Programa de Pós-Graduação em Agronomia – PPGA, Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Unioeste Marechal Cândido Rondon – Paraná Vanessa de Oliveira Faria Programa de Pós-Graduação em Agronomia – PPGA, Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Unioeste Marechal Cândido Rondon – Paraná Caroline Maria Maffini Engenheira Agrônoma, Biolabore Santa Helena – Paraná Bruna Caroline Schons Programa de Pós-Graduação em Agronomia – PPGA, Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Unioeste Marechal Cândido Rondon – Paraná Gabriele Larissa Hoelscher Programa de Pós-Graduação em Agronomia – PPGA, Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Unioeste Marechal Cândido Rondon – Paraná Bruna Thaina Bartzen Programa de Pós-Graduação em Agronomia – PPGA, Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Unioeste Marechal Cândido Rondon – Paraná Eloisa Lorenzetti Programa de Pós-Graduação em Agronomia – PPGA, Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Unioeste Marechal Cândido Rondon – Paraná Olivia Diulen Costa Brito Programa de Pós-Graduação em Agronomia – PPGA, Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Unioeste Marechal Cândido Rondon – Paraná RESUMO: O feijão é um grão muito consumido no país e sua produção é muito importante para a economia do Brasil. Atualmente vem se pesquisando novas formas de aumentar a produção em uma mesma área sem que isso agrida o meio ambiente. Uma das alternativas que vem sendo estudadas é a inoculação de bactériaspromotorasdecrescimentodeplantas. O objetivo do trabalho é analisar a influência da inoculação de A. brasilense em diferentes variedades de feijão. Para isso a bactéria foi inoculada nas sementes de feijão preto, branco e jalo, semeadas em papel germitest e após uma semana foram realizadas as avaliações de percentagem de germinação, comprimento de raiz, diâmetro de hipocótilo, massa seca de parte aérea, de raiz e total de plântulas de feijão. As diferenças entre as variedades se dão pelas diferenças varietais de cada feijão. Não houve diferença estatística entre a inoculação e não inoculação, concluindo que no desenvolvimento inicial da plântula o efeito dos hormônios vegetais ainda não se manifesta.
- 193. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 21 182 PALAVRAS-CHAVE: Bactérias promotoras de crescimento de plantas, feijão preto, feijão branco, feijão jalo. ABSTRACT: Beans are a very consumed grain in the country and their production is very important for the Brazilian economy. At present, new ways of increasing production in the same area are being researched without harming the environment. One of the alternatives that has been studied is the inoculation of plant growth promoting bacteria. The objective of this work is to analyze the influence of inoculation of A. brasilense on different bean varieties. For this, the bacterium was inoculated in seeds of black, white and jalo bean, seeded in germitest paper and after one week the germination percentage, root length, hypocotyl diameter, and dry mass were evaluated. The differences between varieties are due to the varietal differences of each bean. There was no statistical difference between inoculation and no inoculation, concluding that in the initial development of the seedling the effect of plant hormones is not yet evident. KEYWORDS: Plant growth promoting bacteria, black bean, white bean, jalo bean. 1 | INTRODUÇÃO O feijão é um alimento básico no prato dos brasileiros, possuindo grande importância social e econômica no país. Este grão é parte fundamental da dieta diária de mais de 400 milhões de pessoas no mundo, por ser um alimento altamente nutritivo, contendo proteínas, fibras, carboidratos complexos, vitaminas e micronutrientes (CIAT, 2016). Devido a isso, sua produção é significativa no Brasil, que na safra 17/18 produziu cerca de 3.308 mil toneladas do grão, onde a região sul concentrou a maior produção do país, e destes, o estado do Paraná representa a maior parcela, com 596,6 mil toneladas totais (CONAB, 2018). A produção deve ser máxima ocupando menores áreas, com baixo custo e pouco impacto ambiental. De acordo com Carneiro & Parré (2005), pelo fato do Brasil ser um grande produtor mundial desta cultura, a demanda de mão de obra menos qualificada aumenta, gerando emprego e renda nas pequenas propriedades onde se encontra. A planta do feijoeiro, por ser uma leguminosa, geralmente não é associada com adubações nitrogenadas, sendo utilizada a inoculação com microrganismos fixadores de nitrogênio. No entanto, há um crescimento atual na utilização de bactérias promotoras do crescimento em plantas. A utilização destes organismos pode contribuir com o fornecimento, de todo ou parte, deste nutriente às plantas, reduzindo custos de produção e proporcionando sustentabilidade a produção agrícola. (GITTI, 2012). Um exemplo desses organismos é a bactéria Azospirillum brasilense, que é promotora de crescimento de plantas, pois realiza a conversão do N2 da atmosfera em amônia, e excreta uma parte no nitrogênio fixado diretamente para a planta na qual
- 194. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 21 183 está associada, fato que melhora o desenvolvimento da planta sem causar impactos e estresses ambientais (BERGAMASCHI; ROESCH, 2007) Além disso, segundo Hungria (2011), na literatura existem vários trabalhos confirmando que Azospirillum sp. produz hormônios vegetais que estimulam o crescimento das raízes de diversas espécies de plantas. Além de relatos de maior tolerância à agentes fitopatogênicos, devido melhor nutrição das plantas. Um destes trabalhos é de Tien et al. (1979), onde demonstra-se que é a antiga a identificação de substancias que promovem o crescimento vegetal sendo produzida por A. brasilense, como ácido indol-acético, citocinina e giberelina. Gitti et al. (2012), concluíram que a inoculação de sementes de feijão com A. brasilense gerou aumento na produção e consequentemente no lucro do produtor. A inoculação proporcionou aumento de aproximadamente 1,2 sacas de feijão por hectare no lucro final. Este fato corrobora com a premissa de produzir mais agredindo menos o meio ambiente. Para isto é necessário garantir um bom desenvolvimento inicial da cultura. Portanto, o objetivo do presente trabalho é analisar a influência da inoculação de A. brasilense em diferentes variedades de feijão. 2 | MATERIAL E MÉTODOS O experimento foi conduzido sob delineamento de blocos casualizados, consistindo em esquema fatorial 3 x 2, sendo o primeiro fator variedades de feijão e o segundo fator com e sem a inoculação das sementes com A. brasilense. Para cada tratamento foi realizado 4 repetições, totalizando 24 parcelas experimentais. Para a realização deste estudo foram utilizados feijão branco, feijão preto e feijão jalo. A inoculação foi realizada em câmara de fluxo vertical contínuo, utilizando a dosagem de 1 mL para 250 sementes, em saco plástico seguida por agitação para melhor distribuição. Em seguida foi realizada a semeadura em papel germitest umedecido em água na quantidade equivalente à 2,5 vezes a sua massa, 50 sementes foram distribuídas no papel úmido e acondicionadas em câmara de germinação tipo BOD a 30 ºC com fotoperíodo de 12 horas. Após uma semana da data de semeadura, fez-se a contagem de sementes germinadas, então dez plântulas de cada tratamento foram escolhidas ao acaso e foi realizada a avaliação do diâmetro do hipocótilo por meio da utilização de paquímetro e comprimento de raiz com uso de régua graduada. As raízes e a parte aérea foram destacadas e levadas à estufa de circulação fechada de ar para secagem à 65 ºC até a estabilização da massa, afim de obter os valores de massa seca de raiz, massa seca da parte aérea e massa seca total. Após a coleta e tabulação dos dados, estes foram submetidos ao teste de
- 195. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 21 184 normalidade de Kolmogorov-Smirnov, a análise estatística foi realizada com o auxílio do software Sisvar (Ferreira, 2014). 3 | RESULTADOS E DISCUSSÃO A variedade de feijão branco apresentou percentual de germinação superior às demais (Tabela 1.). Essa diferença pode estar associada à diferença de características varietais. O valor pode ser considerado baixo, mas é justificado pelas sementes terem sido adquiridas em supermercado, onde são comercializadas como grãos para consumo. A utilização de A. brasilense não afetou a percentagem de germinação, não diferindo estatisticamente da não inoculação. O comprimento de raiz não apresentou diferenças estatísticas, tanto entre as variedades quanto entre os tratamentos inoculado e não inoculado (Tabela 1.). Burdman et al (1997) afirma que a presença de bactérias do gênero induz a formação de pelos radiculares no feijão por meio da produção de hormônios vegetais, o que não resultaria em maior comprimento de raiz. O diâmetro de hipocótilo do feijão preto foi inferior ao feijão branco e jalo. Este resultado pode ser atribuído ao fato de o feijão preto ser um grão menor em relação aos outros dois o que resulta em menos reserva nutritiva para a formação da plântula. Essa diferença é varietal. Variedade/Tratamento G (%) CR (cm) DH (mm) Feijão Branco 75,25 A 9,37 A 4,801 A Feijão Preto 62,25 B 9,92 A 2,950 B Feijão Jalo 56,00 C 10,50 A 4,693 A Com A. brasilense 66,83 A 9,69 A 4,192 A Sem A. brasilense 62,16 A 10,17 A 4,104 A Tabela 1. Germinação (G), comprimento de raiz (CR) e diâmetro de hipocótilo (DH) de plântulas oriundas de diferentes variedades de feijão., inoculadas e não inoculadas com A. brasilense Médias acompanhadas de letras maiúsculas iguais na vertical não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade de erro. Justamente por essa diferença varietal é que se pode relatar valores inferiores de massa seca de parte aérea, raiz e total, onde o feijão preto foi inferior estatisticamente aos demais (Tabela 2.) Não houve diferença estatística para os tratamentos de inoculação e não inoculação para os valores de massa seca. Veronezi et al. (2012), em estudo com medição apenas de massa seca de parte aérea, concluíram que a inoculação de A. brasilense também não proporcionou maiores valores quando comparados à não- inoculação.
- 196. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 21 185 Variedade/Tratamento MSPA (g) MSR (g) MST (g) Feijão Branco 0,325 A 0,030 A 0,356 A Feijão Preto 0,108 C 0,013 B 0,122 C Feijão Jalo 0,205 B 0,029 A 0,235 B Com A. brasilense 0,210 A 0,024 A 0,234 A Sem A. brasilense 0,216 A 0,024 A 0,241 A Tabela 2. Massa seca de parte aérea (MSPA), massa seca de raiz (MSR) e massa seca total (MST) de plântulas oriundas de diferentes variedades de feijão., inoculadas e não inoculadas com A. brasilense Médias acompanhadas de letras maiúsculas iguais na vertical não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade de erro. Pode-se inferir com estes resultados que o efeito dos hormônios vegetais sintetizados por A. brasilense ainda não pode ser percebido em plântulas das variedades de feijão estudadas, não alterando o desenvolvimento inicial do feijoeiro. 4 | CONCLUSÕES A inoculação de A. brasilense não apresentou incremento nas características percentagem de germinação, comprimento de raiz, diâmetro de hipocótilo, massa seca de parte aérea, de raiz e total de plântulas de feijão. REFERÊNCIAS BERGAMASCHI, C.; ROESCH, L. F. W.; QUADROS, P. D. de.; CAMARGO, F. A. O. Ocorrência de bactérias diazotróficas associadas a cultivares de sorgo forrageiro. Ciência Rural, v. 37, p. 727-733, 2007. BURDMAN, S.; KIGEL, J.; OKON, Y. Effects of Azospirillum brasilense on nodulation and growth of common bean (Phaseolus vulgaris L.). Soil Biology & Biochemistry, v.29, p. 923-929, 1997. CARNEIRO, P. T.; PARRE, J. L. A importância do setor varejista na comercialização de feijão no Paraná. Revista de Economia e Agronegócio. v. 3, p. 277-298, 2015. COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO. Acompanhamento da Safra Brasileira de Grãos, Safra 2017/2018. Brasília: CONAB, v. 5, n. 10, 2018. 145 p. FERREIRA, D. F. Sisvar: a Guide for its Bootstrap procedures in multiple comparisons. Ciência e Agrotecnologia. v. 38, p. 109-112, 2014. GITTI, D. C.; ARF, O.; KANEKO, F.H.; RODRIGUES, R. A. F.; BUZETTI, S.; PORTUGAL, J. R.; CORSINI, C. D. C. Inoculação de Azospirillum brasiliense em cultivares de feijões cultivados no inverno. Revista Agrarian. v. 5, p. 36-46, 2012. HUNGRIA, M. Inoculação de Azospirillum brasilense: inovação em rendimento a baixo custo. Londrina: Embrapa soja, 38p. International Center for Tropical Agriculture. (2016). About bean research. CIAT. Disponível em: <https://ciat.cgiar.org/bean-research>. Acesso em: 16 abr. 2016.
- 197. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 21 186 TIEN, T. M.; GASKINS, M. H.; HUBBELL, D. H. Plant Growth Substances Produced by Azospirillum brasilense and Their Effect on the Growth os Pearl Millet (Pennisetum americanun L.). Applied and Environmental Microbiology, v. 37, n. 5, p. 1016-1024, 1979. VERONEZI, S. D. F.; COSTA, M. R.; SILVA, A. T.; MERCANTE, F. M. Co-Inoculação de Rizóbio e Azospirillum brasilense em feijoeiro (Phaseolus vulgaris L.). Cadernos de Agroecologia. v. 7, p. 1-5, 2012.
- 198. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 22 187 CAPÍTULO 22 doi DETERMINAÇÃO DA CURVA DE UMIDADE DO GRÃO DE MILHO POR MEDIDA DE CAPACITÂNCIA Jorge Gonçalves Lopes Júnior Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais – IFNMG, Januária, Minas Gerias Letícia Thália da Silva Machado Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais – IFNMG, Januária, Minas Gerias Daiana Raniele Barbosa Silva Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais – IFNMG, Januária, Minas Gerias Edinei Canuto Paiva Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais – IFNMG, Januária, Minas Gerias Wagner da Cunha Siqueira Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais – IFNMG, Januária, Minas Gerias Selma Alves Abrahão Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais – IFNMG, Januária, Minas Gerias RESUMO: Sendo a determinação do teor de umidade um parâmetro de fundamental importância para manutenção da qualidade dos grãos durante as etapas de pós colheita, tem- se a necessidade de se apresentar métodos rápidos e precisos, visto isso, objetivou-se com esse trabalho determinar a equação de ajuste e o coeficiente de determinação entre o método oficial de estufa e as leituras feitas pelo capacímetro digital realizadas num capacitor cilíndrico concêntrico, utilizando como material de análise grãos de milho inteiros e moídos. As amostras foram induzidas a diferentes teores de umidade e após atingirem a umidade de equilíbrio foram feitas as leituras no capacitor e depois levadas à estufa por 24h a 105C°. Por meio do Microsoft Excel obteve-se a curva de umidade e a equação de ajuste, sendo o modelo logaritmo o que melhor expressou a similaridade entre os dois métodos com: y = 0,0194ln(x) + 0,1261 e R² de 0,97 para grãos inteiros e y = 0,0174ln(x) + 0,1438 com R² de 0,8612 para grãos moídos. PALAVRAS – CHAVE: Grãos, capacitância, teor de umidade ABSTRACT: The determination of the moisture contentisaparameteroffundamentalimportance for the maintenance of grain quality during the post harvest phases, there is a need to perform fast and accurate methods, see the aim with this job determine the equation of adjustment and the determination coefficient between the official method and the readings made by digital capacimeter performed a concentric cylindrical capacitor, using whole and milled corn grains as the analytical material. The samples were
- 199. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 22 188 induced to different moisture levels and after reaching equilibrium moisture readings were made in the capacitor and then taken to the greenhouse by 24 hours the 105° C. Through Microsoft Excel obtained moisture curve and equation, being the logarithm model which best express the similarity between both methods with: y = 0, 0194ln (x) + 0.1261 and R ² of 0.97 for whole grains and y = 0, 0174ln (x) + 0.1438 with R ² of 0.8612 for milled grains. KEYWORDS : Grains, capacitance, moisture content. INTRODUÇÃO A cultura do milho (Zea mays L.) é considerada uma das principais culturas cultivadas no mundo, em razão de sua elevada importância na alimentação humana, animal e como matérias-primas para a indústria (BASTOS, 1987) A determinação do teor de umidade durante as etapas de colheita, beneficiamento e armazenamento é necessária para manutenção da qualidade dos grãos pois influencia diretamente em sua qualidade fisiológica, grãos quando armazenados em inadequadas condições de umidade podem favorecer a deterioração pela propagação de fungos, insetos, processos químicos e enzimáticos, além de influenciar no seu valor econômico (SARMENTO, 2015; CADDICK, 2002). Os métodos para determinação de umidade são divididos em diretos e indiretos. Nos métodos diretos a água é retirada geralmente por aquecimento e a umidade é calculada pela diferença de peso no início e no final do processo (PUZZI, D; 1986). Nos métodos indiretos a determinação da umidade é feita através de um equipamento calibrado, visto que o grau de umidade afeta ás suas características físico-químicas e elétricas, e a calibração é obtida utilizando o método de estufa como referência. (BRASIL, 2009) Os métodos oficiais são os mais precisos, porém requerem muito tempo para obtenção dos resultados o que o torna menos prático quando se deseja conhecer de maneira rápida o teor de umidade em grãos. Entre os métodos indiretos os modelos dielétricos podem ser utilizados para a determinação do teor de água em grãos, ditos como métodos práticos e rápidos na determinação do teor de umidade os determinadores elétricos ou eletrônicos podem ser empregados no controle de secagem, da armazenagem e em transações comerciais (OLIVO, 2010). Visto isso, objetivou-se com esse trabalho analisar e comparar os dados de capacitância, utilizando um capacitor de cilindros concêntricos e determinar a equação de calibração com o método oficial de estufa a 24h/105° utilizando grãos de milho inteiro e moído.
- 200. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 22 189 MATERIAL E MÉTODOS O presente trabalho foi realizado nas dependências do laboratório de física do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais – Campus Januária. O dispositivo escolhido para análise das propriedades dielétricas foi um capacitor cilíndrico concêntrico feito por dois tubos de PVC, sendo o externo de diâmetro com 84mm e o interno com 51mm e para mantê-los concêntricos utilizou-se 3 cilindros de PVC de 12mm de diâmetro encaixado aos dois cilindros. O cilindro maior foi coberto por papel alumínio na sua parte interna e o cilindro menor na sua parte externa de modo e permitir o contato elétrico e a base feita em madeira (Figura 1). Figura 1: Capacitor cilíndrico concêntrico e suas respectivas dimensões (mm). Para a leitura das umidades utilizou-se 10,5 kg de grãos de milho inteiro e moídos armazenados no próprio em recipientes plásticos e fechados para que não ocorresse variação de umidade, foram feitas 21 amostras cada uma com 500g, foi utilizado 7 tratamentos com 3 repetições, sendo o primeiro tratamento na condição natural que se encontrava os grãos e as demais submetidas a seis diferentes volumes de água de modo a alcançarem a umidade desejada, em seguida foram acondicionadas em sacos plásticos durante dois dias para atingirem equilíbrio hidroscópico. As medições das amostras foram feitas através de um capacímetro digital da marca INSTRUTHERM modelo CP – 400. Como amostra no interior do recipiente do capacitor foram colocadas as garras tipo jacaré no cilindro externo e a outra no interno ambas em contato com o papel alumínio. As leituras foram ajustadas para escala de 200nF, a temperatura média de 25°C medidas por um termômetro digital, o tempo de leitura das amostras variaram entre 2 a 10s, conforme o aparelho se estabilizava. Depois de medidos foram retirados 50g de cada amostra de milho inteiro para determinação da umidade pelo método de estufa 105°C/24h e 100g de milho moído para
- 201. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 22 190 determinação da umidade pelo método de estufa 130°C/4h, seguindo as metrologias prescritas pela RAS (BRASIL 2009). A umidade em base úmida foi estimada conforme equação 1. Eq.(1) Onde: Ubu = Umidade base úmida (%); Pi = Peso inicial da amostra (g); Pf = Peso final da Amostra (g) e; t = Peso do recipiente (g). Os valores obtidos de capacitância e teor de umidade foram plotados no software Excel (2010) e correlacionados através de um gráfico de dispersão ajustados a um modelo de regressão. RESULTADOS E DISCUSSÃO Conforme figuras 2 e 3, observa-se uma relação crescente entre valores de umidade e as medidas de capacitância. Segundo Y.L. Ding, (2003) O teor de umidade dos grãos aumentam a constante dielétrica e uma maior capacitância. Constatou-se também que a variação da capacitância é mais elevada para teores de umidade maiores e em teores de umidade menores a variação é mais lenta, conforme foi evidenciado por Olivo (2010). Comparando as figuras 2 e 3, podem-se observar diferenças nas respostas de capacitância do grão inteiro e moído entre as umidades de 16% e 20%. Segundo Moura, (2012), como o sensor é preenchido por uma mistura ar/grão, variações da massa específica aparente poderão influenciar nos sinais elétricos, introduzindo uma fonte de erro. Figura 2: Gráfico de dispersão; estufa 105°C/24 vs Capacitância para grãos de milho inteiros
- 202. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 22 191 Figura 3: Gráfico de dispersão; estufa 130°C/4h vs Capacitância para grãos de milho moído. Conforme-se observa-se na figura 2 e 3, o modelo que expressou os melhores resultados para comparar a medição do capacímetro e a medição de umidade através do método de estufa foi o de regressão logarítmica, nota-se que ambos os métodos apresentaram um bom coeficiente de determinação tanto para grãos inteiros quanto para os grãos moídos conforme tabela 1. Grãos Equações R2 Inteiros y = 0,0194ln(x) + 0,1261 0,97 Moídos y = 0,0174ln(x) + 0,1438 0,8612 Tabela 1. Modelos gerados para a estimativa de umidade. REFERÊNCIAS BASTOS, E. Guia para o cultivo do milho. São Paulo: Ícone, 1987. 190 p. citado por SEVERINO, F.J. et al. BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Regras para análise de sementes. Brasília: SNDA/DNPV/CLAV, 2009. p. 308 a 326. CADDICK, L. Correct calibration lifts moisture meter accuracy. Farming Ahead, n.129, p.36-38, 2002. MOURA, E. Proposta computacional para medição on-line do teor de água de grãos de sorgo. 2012. OLIVO, T.E. Determinação da Umidade da Soja Por Medida Capacitiva. 2010. 78 p. Dissertação; UFPR, Curitiba, 2010. PUZZI, D. Abastecimento e armazenagem de grãos. Campinas, Instituto Campineiro de Ensino Agrícola, 1986. 603 p.
- 203. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 22 192 SARMENTO et al. Determinação Do Teor De Água Em Sementes de Milho, Feijão e Pinhão- Manso por Métodos Alternativos. Revista Energia na Agricultura Botucatu, vol.30, n.3p 249 a 256 junho-setembro,2015 Y. L. Ding, “Grain’s moisture teller based on capacitive sensor”, Journal of Transducer Technology, vol.22, no.4, pp.54-56, 2003.
- 204. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 23 193 CAPÍTULO 23 doi DETERMINAÇÃO DA FOLHA MAIS ADEQUADA PARA A AVALIAÇÃO DO NITROGÊNIO NA PLANTA DE ARROZ Juliana Brito da Silva Teixeira Universidade Federal de Pelotas, Programa de Pós-Graduação em Manejo e Conservação do Solo e da Água, Pelotas-RS Letícia Ramon de Medeiros Universidade Federal de Pelotas, Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Semetes, Pelotas-RS Luis Osmar Braga Schuch Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Pelotas-RS Ariano Martins de Magalhaes Júnior Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Pelotas-RS Ledemar Carlos Vahl Universidade Federal de Pelotas, Programa de Pós-Graduação em Manejo e Conservação do Solo e da Água, Pelotas-RS Matheus Walcholz Thiel Universidade Federal de Pelotas, Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel, Pelotas-RS Larissa Soria Milanesi Universidade Federal de Pelotas, Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel, Pelotas-RS RESUMO: O uso da diagnose foliar, ou seja, da avaliação do estado nutricional das culturas constitui uma ferramenta indispensável para atingir alta produtividade sendo a análise química de folhas um dos principais métodos para avaliar o estado nutricional das culturas. O objetivo deste trabalho é avaliar, entre as quatro folhas superiores do arroz (F1 , F2 , F3 e F4 ), qual delas pode indicar melhor o estado nutricional de plantas de arroz em nitrogênio. O delineamento experimental foi de blocos ao acaso com quatro repetições no esquema fatorial 2x5, composto por duas cultivares de arroz irrigado (BRS Pampeira e a IRGA 424 RI) e cinco doses de adubação nitrogenada em cobertura (0, 60, 120, 180 e 240 kg de N ha-1 ) conduzido em um Planossolo Háplico. As amostras de folhas e plantas inteiras foram coletadas em R0 imediatamente antes da aplicação da segunda dose de N. Os resultados mostraram que: a terceira folha é mais sensível a variação do suprimento de nitrogênio para a planta de arroz do que a folha 1 e pode ser um indicador mais adequado do estado de nutrição nitrogenada da planta; o teor crítico de N na terceira folha é ao redor de 25 g/kg. PALAVRAS-CHAVE: Adubação. Cultivares. Oryza Sativa L. ABSTRACT: The use of foliar diagnosis, that is, the evaluation of the nutritional status of the crops, is an indispensable tool to achieve high productivity and the chemical analysis of leaves is one of the main methods to evaluate the nutritional status of the crops. The objective of this work is to evaluate, among the four upper rice leaves (F1 , F2 , F3 and F4 ), which may better
- 205. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 23 194 indicate the nutritional status of rice plants in nitrogen. The experimental design was a conducted block design with four replicates in the 2x5 factorial scheme, composed of two cultivars of irrigated rice (BRS Pampeira and IRGA 424 RI) and five doses of nitrogenous fertilization (0, 60, 120, 180 and 240 kg of N ha-1 ) conducted on a Solodic Planosol. Leaf samples and whole plants were collected at R0 immediately prior to application of the second dose of N. The results showed that: the third leaf is more sensitive to the nitrogen supply variation for the rice plant than leaf 1 and can be a more adequate indicator of the nitrogenous state of the plant; the critical content of N in the third sheet is around 25 g/kg. KEYWORDS: Fertilizing. Cultivars. Oryza Sativa L. 1 | INTRODUÇÃO O nitrogênio é um componente fundamental de muitos compostos de primordial importância para a unidade fisiológica do metabolismo, tais como clorofila, nucleotídeos, proteínas, enzimas, hormônios, vitaminas. (Epstein e Bloom, 2005; Furlani, 2004). Aproximadamente 75% do nitrogênio das folhas estão associados com os cloroplatos que são fisiologicamente importantes na produção de matéria seca através da fotossíntese (Dalling, 1985). O uso da diagnose foliar, ou seja, da avaliação do estado nutricional das culturas constitui uma ferramenta indispensável para atingir alta produtividade. Um dos principais métodos para avaliar o estado nutricional das culturas é a análise química de folhas. Com a interpretação da análise química de folhas é possível emitir um parecer indicando possível deficiência ou excesso de nutrientes e contribuindo para estabelecimento de programas de adubação com maior eficiência agronômica e econômica. O órgão considerado mais adequado para a avaliação do estado nutricional de uma planta pela maioria dos autores que tratam do assunto é a folha mais recentemente madura. Nos cereais, como o arroz, é a folha superior, completamente expandida, referida como a folha número 1. As folhas abaixo desta são mais velhas e numeradas como folha 2, 3, e assim por diante. O argumento usado para considerar a folha 1 como melhor indicador do estado nutricional de uma planta é que esta está em sua máxima atividade fisiológica, que decresce com o envelhecimento da folha. Logo, sendo a folha mais ativa é pressuposto que represente melhor a atividade da planta. Entretanto, Wang et al (2006) coloca esta escolha em dúvida. Segundo este autor, uma vez que o nitrogênio é facilmente movido das folhas mais velhas para as folhas jovens, quando ocorre deficiência deste nutriente, as folhas mais velhas são mais sensíveis às condições de disponibilidade de nitrogênio na planta do que as folhas mais novas. Assim, o objetivo deste trabalho é avaliar, entre as quatro folhas superiores do arroz (F1 , F2 , F3 e F4 ), qual delas pode indicar melhor o estado nutricional de plantas
- 206. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 23 195 de arroz em nitrogênio. 2 | MATERIAL E MÉTODOS Foi utilizado um experimento que está sendo realizado para outros propósitos. O delineamento experimental foi de blocos ao acaso com quatro repetições no esquema fatorial 2x5, composto por duas cultivares de arroz irrigado (BRS Pampeira e a IRGA 424 RI) e cinco doses de adubação nitrogenada em cobertura (0, 60, 120, 180 e 240 kg de N ha-1 ). O experimento foi conduzido no sistema de cultivo convencional em um Planossolo Háplico, classe textural 4,0; 17% de argila, 1,6% de M.O; 1,9 e 43 mg dm-3 de P e K, respectivamente; CTC igual a 3,1 cmolc dm-3 e pH em água 5,2. A semeadura foi realizada com semeadora de parcelas composta de 9 linhas de 5m espaçadas de 0,2 m entre si. As práticas de manejo da cultura foram realizadas de acordo com as Recomendações Técnicas para o Cultivo de Arroz Irrigado no Sul do Brasil (SOSBAI, 2016). Como adubação de base foi aplicada uma dose equivalente a 260 kg/ha da fórmula 5-25-25. A fonte de nitrogênio em cobertura utilizada foi a ureia, aplicando metade da dose imediatamente antes da entrada da água de inundação e a outra metade por ocasião da iniciação da panícula (Ro). Como o foco do presente trabalho foi o desempenho da planta até o Ro, as amostras de folhas e plantas inteiras foram coletadas nesta fase, imediatamente antes da aplicação da segunda dose de N. Logo, todas as parcelas tinham recebido metade da dose total de N planejadas para cada uma, ou seja: 0, 30, 60, 90 e 120 kg de N ha-1 . Para a determinação da produção de matéria seca total e teor de nitrogênio na planta inteira foram colhidas todas as plantas de 0,5 m de linha em cada parcela, cortando-se os caules rente ao solo. No mesmo dia foram colhidas os limbos das quatro primeiras folhas a partir do ápice do colmo principal de 30 plantas por parcela, designadas como folhas 1, 2, 3 e 4, sendo a folha 1 a mais recentemente madura e as demais em sequência descendente. Cada folha foi colocada em um saco de papel identificado pela posição na planta e estas foram colocadas em estufa a 60ºC para a posterior determinação do N total pelo método Kjeldahl (Tedesco et al., 1995). 3 | RESULTADOS E DISCUSSÃO Houve acentuada resposta de ambas cultivares a adubação nitrogenada quanto a produção de matéria seca da parte aérea (dados apresentados em outro trabalho), duplicando a massa entre a dose zero e a de 90 kg/ha, ao redor da qual atingiu a máxima produção. Isto significa que havia deficiência de nitrogênio para as plantas de arroz no solo utilizado, condição necessária para avaliar o efeito do N aplicado na nutrição das plantas.
- 207. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 23 196 O teor de nitrogênio na planta inteira variou muito pouco com a aplicação de N e foi menor do que em qualquer folha analisada em ambas as cultivares (Tabela 1). A ausência de variação no teor de N na planta indica que o N absorvido foi diluído pelo aumento de produção de massa das plantas e o menor teor de N na planta inteira em comparação com as folhas é consequência da natural menor concentração de N no caule, que contribui com massa, mas possui muito pouco nitrogênio. Nas folhas, os teores de N diminuíram com a idade da folha (1 a 4), sendo tal diminuição mais acentuada nas doses mais baixas de N e quase nula na dose mais alta. Na cultivar IRGA 424, entretanto, as folhas 1 e 2 tiveram um teor de N muito próximos, com leve vantagem para a folha 2 (Tabela 1). O efeito da adubação nitrogenada nos teores de N foi mais acentuado nas folhas mais velhas do que nas folhas mais novas. Isto está de acordo com o esperado fisiologicamente. Sendo o N muito móvel na planta, quando há deficiência ele é remobilizado das folhas mais velhas para as mais novas, de modo que o teor de N nestas últimas tende a ser mantido menos dependente da disponibilidade de N no solo, pelo menos em condições de deficiência leve no solo, como é o caso do presente experimento. Isto justifica as relações entre os teores de N nas folhas de diferentes idades (posições na planta) e o rendimento relativo de matéria seca da parte aérea mostradas na Figura 1. Partes da Planta Doses de nitrogênio (kg ha-1 ) Média 0 30 60 90 120 Teores de nitrogênio na planta ou folha (mg g-1 ) Cultivar IRGA 424 Planta inteira 14,6 17,2 15,9 17,2 16,8 16,3 Folha 1* 24,4 23,8 23,0 23,1 28,4 24,5 Folha 2 25,8 25,1 21,0 26,8 28,3 25,4 Folha 3 19,0 19,7 21,8 24,0 29,7 22,8 Folha 4 20,6 16,7 21,5 19,7 26,6 21,4 Cultivar Pampeira Planta inteira 17,2 16,9 19,2 17,4 18,6 17,9 Folha 1 24,3 23,7 26,3 29,5 28,8 26,5 Folha 2 22,5 20,8 25,6 27,2 26,3 24,5 Folha 3 22,4 21,6 22,7 25,2 27,3 23,8 Folha 4 17,1 18,7 18,7 23,9 25,0 20,7 Tabela 1- Teores de nitrogênio total na planta inteira e nas folhas de duas cultivares de arroz no estágio Ro submetidas a cinco doses de adubação nitrogenada. *Folha 1 é a folha superior, mais recentemente madura, e as demais seguem sequência descendente
- 208. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 23 197 Figura 1- Relação entre o rendimento relativo de matéria seca da parte aérea e os teores de nitrogênio nas folhas 1, 2, 3 e 4 de duas cultivares de arroz no estágio Ro . O teor de N nas folhas 1 e 2 variaram muito pouco e não se relacionaram com a produção de matéria seca das plantas, mas o teor do nutriente na folha 3 mostrou boa relação com a produção em ambas as cultivares e na folha 4 houve boa relação entre a produção e o teor de N na cultivar Pampeira (Figura 1). Isto está parcialmente de acordo com Wang et al (2006). Este autor constatou que as folhas inferiores responderam mais ao suprimento de nitrogênio do que as folhas superiores e sugeriu que a folha 4 pode ser a amostra ideal para diagnóstico da nutrição nitrogenada. No caso do nosso trabalho, a folha 3 foi melhor do que a 4 quando se considera as duas cultivares. Cabe ressaltar, entretanto, que tal evidência contraria a visão consagrada nos textos técnicos sobre análise de tecido vegetal, como Marchner (1995), Reuter e Robinson (1977) e Cantarutti et al (2007), nos quais parece muito sólido o conceito de que a folha mais recentemente madura é o órgão mais adequado para propósitos de avaliação do estado nutricional das plantas. Logo, são necessárias mais evidências experimentais e com uma faixa de variação nos teores de N nas folhas mais ampla para embasar conclusões mais robustas. 4 | CONCLUSÔES 1) A terceira folha é mais sensível a variação do suprimento de nitrogênio para
- 209. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 23 198 a planta de arroz do que a folha 1 e pode ser um indicador mais adequado do estado de nutrição nitrogenada da planta; 2) O teor crítico de N na terceira folha é ao redor de 25 g/kg. REFERÊNCIAS CANTARUTTI, R. B.; BARROS, N. F.; MARTINEZ, H. E. P.; NOVAIS, R. F. Avaliação da fertilidade de solo e recomendação de fertilizantes. In: NOVAIS, R. F.; ALVAREZ V., V. H.; BARROS, N. F.; FONTES, R. L. F.; CANTARUTTI, R. B.; NEVES, J. C. L. (Ed.). Fertilidade do solo. Viçosa: SBCS, 2007. p.769-850. DALLING, M.J. The physiological basis of nitrogen redistribution during grain filling in cereals. In: HARPER, J.E.; SCHRADER, L.E.; HOWELL, R.W., (Eds.). Exploitation of physiology and genetic variability to enhance crop productivity. Rockville MD: American Society of Plant Physiology, 1985. p. 55–71. EPSTEIN, E.; BLOOM, A.J. Mineral nutrition of plants: Principles and perspectives. Suderland:Sinauer Associates, 2005. FURLANI, A.M.C. Nutrição Mineral. In: KERBAUY G.B. (Org.). Fisiologia Vegetal. Rio de Janeiro (Ed.) Guanabara Koogan, 2004. p.40-75. MARSCHNER, H. Mineral nutrition of higher plants. New York: Academic Press, 1995. REUTER, D. J; ROBINSON, J. B. Plant analysis: an interpretation manual. Melbourne: Inkata, 1988. SOCIEDADE SUL-BRASILEIRA DE ARROZ IRRIGADO (SOSBAI). Arroz Irrigado. Recomendações técnicas da pesquisa para o Sul do Brasil. Pelotas, RS: SOSBAI, 2016. TEDESCO, M. J.; GIANELLO, C.; BIASSANI, C. A.; BOHNEN, H.; VOLKWEISS, S.J. Análises de Solo, plantas e outros materiais. Porto Alegre: Departamento de Solos -Faculdade de Agronomia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 1995. WANG S. et al. Positional differences in nitrogen and sugar concentrations of upper leaves relate to plant N status in rice under different N rates. Field Crops Reserch., v.96, p.224–234, jul. 2006. Disponível em: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378429005001498. Acesso em: 16 mai. 2017.
- 210. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 24 199 CAPÍTULO 24 doi DETERMINAÇÃO DAS PROPRIEDADES FÍSICAS DE GRÃOS DE GIRASSOL BRS G57 Dhenny Costa da Mota Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais (IFNMG) – Campus Januária Januária - MG Bruna Cecília Gonçalves Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais (IFNMG) – Campus Januária Januária - MG Dhemerson da Silva Gonçalves Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais (IFNMG) – Campus Januária Januária - MG Selma Alves Abrahão Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais (IFNMG) – Campus Januária Januária - MG Wagner da Cunha Siqueira Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais (IFNMG) – Campus Januária Januária - MG Antonio Fabio Silva Santos Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais (IFNMG) – Campus Januária Januária – MG RESUMO: A determinação das propriedades físicas dos Grãos é muito importante para o dimensionamento,desenvolvimentoeexecução das etapas que abrangem os processos de colheita, pós-colheita e armazenamento dos grãos. Em vista disso, objetivou-se com este trabalho determinar as propriedades físicas dos grãos de girassol BRS G57 procedentes de um experimento realizado no IFNMG – Campus Januária, tais como: comprimento, largura, espessura, circularidade, esfericidade, massa, porosidade, massa específica granular, massa de mil grãos onde foi determinada por equações. O teste realizou-se no laboratório de Hidráulica do IFNMG com teor de umidade 5% (base úmida). Os métodos empregados foram corretamente utilizados uma vez que a média, desvio padrão e coeficiente de variação apresentou valores aceitáveis para os parâmetros analisados. PALAVRAS-CHAVE: Helianthus annuus L., características físicas, armazenamento, colheita, sementes. ABSTRACT: The determination of the physical properties of the grains is very important for the design, development, and execution of the stages that cover the harvesting, post- harvest and storage processes of the grains. The objective of this work was to determine the physical properties of BRS G57 sunflower
- 211. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 24 200 grains from an experiment conducted at IFNMG - Campus Januária, such as length, width, thickness, circularity, sphericity, mass, porosity, specific mass granular mass of a thousand grains where it was determined by equations. The test was performed at IFNMG Hydraulics laboratory with 5% moisture content (wet basis).The methods were correctly used since the mean standard deviation and coefficient of variation has presented acceptable values to the analyzed parameters. KEYWORDS: Helianthus annuus L., physical characteristics, storage, harvest, seeds. 1 | INTRODUÇÃO O girassol (Helianthus annuus L.), é uma cultura de grande capacidade de adaptação às diversas condições de latitude, longitude e fotoperíodo. Nos últimos anos, vem se apresentando como opção de rotação e sucessão de culturas em regiões produtoras de grãos, essencialmente após a soja na região Centro-Oeste (EMBRAPA, s.d.). De cultura anual é uma planta oleaginosa, de importância agronômica, e econômica, sendo regularmente usada para a produção de biodiesel (na extração de óleos), e na alimentação animal em substituição de grão, sendo rico em nutrientes usado como silagem e ou ração (GONÇALVES et al., 2005). A correta determinação das propriedades físicas dos grãos é de grande importância na otimização de processos industriais e dimensionamento de equipamentos utilizados nas etapas de colheita e pós-colheita (RESENDE et al., 2008). Objetivou-se com este trabalho determinar as propriedades físicas dos grãos de girassol BRS G57 tais como: comprimento, largura, espessura, circularidade, esfericidade, massa, porosidade, massa específica granular, massa de mil grãos onde foi determinada por equações. 2 | MATERIAL E MÉTODOS O experimento realizou-se no laboratório de Hidráulica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais - Campus Januária (IFNMG), com grãos de girassol BRS G57 procedentes de um experimento realizado no próprio campus (15° 26’ 52.83” S; 44° 22’ 08.23” O). Aprincípio foi utilizado 2 kg de grãos de girassol BRS G57, colocado em estufa por 24h a 105 °C feitos em três repetições obteve-se o teor de umidade 5% (base úmida). Em seguida para a determinação do tamanho dos grãos, separou-se aleatoriamente 15 grãos de toda a amostra e mediu-se as dimensões dos seus eixos ortogonais em três posições, referentes ao comprimento (a), largura (b) e espessura (c), utilizando-se um paquímetro digital com resolução de 0,01mm. A circularidade e a esfericidade do grão de girassol na posição natural de repouso
- 212. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 24 201 foram obtidas através das equações (1) e (2), conforme proposto por Mohesenin (1986), e Área projetada pela equação (3). Onde Es – Esfericidade (%); Cr – Circularidade (%); Ap – área projetada (cm²) A área superficial foi determinada pelo modelo de Mohsenin (1986), realizando- se ajustes nas medições características do produto, pela equação 4. Em que: Onde: S – área superficial (cm²); B – média geométrica entre comprimento (cm²) e largura; E – excentricidade. Os valores da massa unitária de cada grão foram obtidos através de uma balança analítica. A determinação do volume foi feita com base na equação proposta por Mohsenin (1986), conforme a equação 7 visando a determinação do volume dos grãos. Onde: Vu - Volume unitário (cm³). Para determinação da massa específica aparente foi pesado uma proveta graduada, e após obtida a sua tara a mesma foi preenchida por um volume conhecido de grãos e aferido o seu peso. Onde: pap – massa específica aparente (g/cm³); Mg – massa de certa quantidade de grão (g); Vp – volume da proveta (cm³). A massa específica unitária foi determinada pela razão volume de cada grão e sua massa conforme a equação 9. Onde: pu – Massa específica unitária (g/cm³); Mu - massa unitária do grão (g). A porosidade foi calculada pela equação 10.
- 213. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 24 202 Onde: € - porosidade (%). A massa de mil grãos foi determinada conforme as recomendações da Regra de Análise de Sementes (Brasil, 2009), a qual conta-se manualmente 100 sementes e pesou-se através de uma balança analítica, sendo o procedimento repetido oito vezes e através da equação 11 obteve-se o peso de mil grãos (PMS). A massa específica granular (peso hectolitro) foi determinado através de um protótipo, onde os grãos foram colocados sobre um funil elevado de um recipiente com capacidade para um litro, após encher o funil a amostra caiu sobre o recipiente e o excedente retirado com o auxílio de uma régua e pesou-se a amostra descontando- se o peso do recipiente em uma balança analítica, o procedimento foi feito em duas repetições. 3 | RESULTADOS E DISCUSSÃO Amostra a (cm) b (cm) c (cm) Esfericidade Circularidade Área Projetada (cm²) Área Superficial (cm²) 1 1,169 0,651 0,321 53,5% 55,7% 0,598 1,474 2 1,150 0,615 0,334 53,8% 53,5% 0,555 1,443 3 1,147 0,675 0,386 58,3% 58,8% 0,608 1,725 4 1,193 0,618 0,330 52,3% 51,8% 0,579 1,465 5 1,101 0,644 0,349 57,0% 58,5% 0,557 1,510 6 1,174 0,639 0,372 55,7% 54,4% 0,589 1,626 7 1,158 0,627 0,347 54,5% 54,1% 0,570 1,511 8 1,097 0,629 0,402 59,5% 57,3% 0,542 1,653 9 1,070 0,659 0,397 61,1% 61,6% 0,554 1,683 10 1,115 0,601 0,366 56,1% 53,9% 0,526 1,495 11 1,127 0,622 0,378 57,0% 55,2% 0,551 1,581 12 1,107 0,620 0,364 56,9% 56,0% 0,539 1,519 13 1,093 0,621 0,328 55,5% 56,8% 0,533 1,397 14 1,109 0,612 0,416 59,2% 55,2% 0,533 1,670 15 1,145 0,605 0,384 56,2% 52,8% 0,544 1,578 Média 1,130 0,629 0,365 0,564 0,557 0,559 1,555 D.P 0,034 0,020 0,028 0,023 0,025 0,024 0,095 C.V. % 2,998 3,176 7,779 4,119 4,457 4,332 6,102 Tabela 1. Valores do comprimento (a), largura (b), espessura (c), esfericidade em (%), área da projeção na posição de repouso (cm²), área superficial (cm²), da média, desvio padrão e coeficiente de variação (%). Na tabela 1 calculou-se as medidas referentes ao tamanho e a forma do girassol coletadas pelo paquímetro de 15 amostras, com base nos resultados. Os coeficientes de variação foram baixos e satisfatórios, constatando-se que o grão apresenta boa
- 214. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 24 203 uniformidade nestes parâmetros. Grão Massa (g) Volume Unitário рun.(g/cm²) рap. (g/cm²) Porosidade 1 0,0820 0,1279 0,6411 0,4113 35,84% 2 0,0760 0,1237 0,6145 33,06% 3 0,0850 0,1565 0,5432 24,28% 4 0,0820 0,1274 0,6437 36,10% 5 0,0850 0,1296 0,6560 37,30% 6 0,0820 0,1461 0,5612 26,70% 7 0,0920 0,1319 0,6974 41,02% 8 0,0720 0,1452 0,4957 17,03% 9 0,0770 0,1466 0,5253 21,70% 10 0,0810 0,1284 0,6307 34,79% 11 0,0850 0,1387 0,6127 32,86% 12 0,0780 0,1308 0,5963 31,02% 13 0,0770 0,1166 0,6606 37,73% 14 0,0800 0,1478 0,5411 23,99% 15 0,0830 0,1393 0,5959 30,97% Média 0,0811 0,1358 0,6010 0,3096 D.P 0,0046 0,0106 0,0553 0,0659 C.V.% 5,726 7,813 9,200 21,285 Tabela 2. Valores da massa (g), do volume (cm³), massa específica real (g/cm³), massa específica aparente (g/cm³), porosidade (%), média, desvio padrão e coeficiente de variação (%). Na Tabela 2 foram utilizados os valores das massas dos grãos, e o volume unitário pap a massa específica real (g/cm³), a massa específica aparente (g/cm³), a porosidade (%) de quinze grãos. Tal como o tamanho e forma do grão a massa e o volume também apresentaram uniformidade, a massa específica unitária deu maior que a aparente, resultado já esperado pelo fato de existir espaços vazios entre os grãos dentro do recipiente fato também constatado por Araújo et al., (2017). Sendo estes vazios a porosidade, sendo o parâmetro que apresentou maior variação entre os analisados. Repetições Massa de mil grãos (g) Repetições Massa esp. granular (Kg/m³) 1 74,50 1 406,62 2 74,80 2 406,8 3 74,40 Média 406,71 4 75,30 5 72,60 6 72,00 7 72,60 8 71,70 Média 73,49 D.P 1,407 C.V.% 1,91% Tabela 3. Valores da massa de mil grãos (g), da média, desvio padrão e coeficiente de variação
- 215. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 24 204 (%); Massa específica granular/Peso Hectolitro (Kg/m³) e sua média. A tabela 3 apresenta os valores da massa de mil grãos, no qual com oito repetições apresentou resultados satisfatórios, ratificando que os 15 grãos coletados representaram bem a massa da amostra. A tabela também mostra os valores de massa específica granular (kg/m³) foi maior em comparação com a massa específica real e aparente, como o esperado, pois este parâmetro considera o volume do produto com seus espaços intragranulares. Segundo Braga Filho (1986), em 10,8% de umidade o girassol apresenta massa específica granular de 400,1 kg/m³, valor próximo ao encontrado, pelo protótipo, indicando seu bom funcionamento. De modo geral, todas as análises apresentaram baixos valores do coeficiente de variação, indicando que os métodos utilizados foram eficientes para determinar as propriedades físicas do grão de girassol. REFERÊNCIAS ARAÚJO, K. T. A.; et al., Congresso Técnico Científico da Engenharia e da Agronomia, 2017, Belém - PA. Determinação das Propriedades Físicas de Grãos de Milho (Zea mays L.).2017. 5 p. Disponível em: <http://www.confea.org.br/media/contecc2017/agronomia/49_ddpfdgdmzml>. Acesso em: 09 jul. 2018. BRAGA FILHO, J.M. Curvas de secagem em camada delgada e propriedades físicas de girassol (Helianthus annus L.). Viçosa, 100p Dissertação. Mestrado em Engenharia Agrícola) Universidade Federal de Viçosa, 1986. CEPE – Congresso de Ensino, Pesquisa e Extensão da UEG. IV. 2017. Pirenópolis-GO. FARIAS, H. F. L. et al., Propriedades Físicas, Térmicas e Aerodinâmicas de Grãos de Mamona, 2017. EMBRAPA SOJA, Girassol. Disponível em: <https://www.embrapa.br/soja/cultivos/girassol>. Acesso em: 24 jul. 2018. GONÇALVES, L. C.; et al. Silagem de girassol como opção forrageira. In: HENNING, Ademir Assis et al. Girassol no Brasil. Londrina: Embrapa, 2005. Cap. 7. p. 123-143. MOHSENIN, N. N. Physical properties of plant and animal materials. New York: Gordan and Breach, 1974. RESENDE, O.; CORRÊA, P.C.; GONELI, A.L.D.; RIBEIRO, D.M. Propriedades físicas do feijão durante a secagem: determinação e modelagem. Ciência e Agrotecnologia, Lavras, v.32, n.1, p.225- 230, 2008. 9ª Jornada Científica e Tecnológica do IFSULDEMINAS: 6° Simpósio Da Pós-Graduação, Silva, C. M. da, et al., Desempenho de Genótipos de Girassol para Sistemas de Colheita Mecanizada, 2017.
- 216. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 25 205 CAPÍTULO 25 doi DETERMINAÇÃO DE ALGUMAS PROPRIEDADES FÍSICAS DE GRÃOS DE QUINOA E AMARANTO EM FUNÇÃO DO TEOR DE ÁGUA Natasha Ohanny da Costa Monteiro Universidade de Brasília, Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária Brasília – DF Fabiana Carmanini Ribeiro Universidade de Brasília, Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária Brasília – DF Gervásio Fernando Alves Rios Universidade de Brasília, Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária Brasília – DF João Batista Soares Universidade de Brasília, Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária Brasília – DF Samuel Martin Universidade de Brasília, Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária Brasília – DF RESUMO: Este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de avaliar algumas propriedades físicas de grãos de quinoa e amaranto. Nele investigou-se o efeito do teor de água na massa específica aparente e real, ângulo de repouso, massa de 1000 grãos e porosidade nas cultivares BRS Syetetuba (Chenopodium quinoa) e BRS Alegria (Amaranthus spp.). Os grãos colhidos na Fazenda Água Limpa pertencente a Universidade de Brasília, foram submetidos a um processo de reumidificação, trabalhou-se com três diferentes teores de água (T0= 10±0,5%, T1= 16±0,5% e T2= 20±0,5%). Com base nos resultados obtidos, concluiu-se que para os grãos de amaranto o aumento no teor de água diminuiu a massa específica real e aparente e a porosidade, e aumentou o ângulo de repouso e a massa de 1000 grãos. Quanto aos grãos de quinoa, com o aumento do teor de água, ocorre inicialmente uma diminuição nas massas específicas reais e aparentes, posteriormente um aumento nesses valores. Houve também um aumento significativo no ângulo de repouso e na massa de 1000 grãos. No que se diz respeito ao teor de água, provou- se que existe interferência direta do mesmo nas propriedades físicas dos grãos. PALAVRAS-CHAVE: amaranto, quinoa, propriedades físicas ABSTRACT: This work was developed with the objective of obtaining values and evaluating some physical properties of quinoa and amaranth, which are necessary for the sizing of storage silos, dryers, transport systems and adaptation of existing technologies. The effect of the water content on the values of apparent and real specific mass, resting angle, mass of 1000 grains and porosity in the cultivars BRS Syetetuba (Chenopodium quinoa) and BRS Alegria (Amaranthus spp.) was investigated. The grains harvested at the Água Limpa Farm belongingtotheUniversityofBrasília,underwent a process of moisturizing. We worked with three different water contents (T0= 10±0,5%, T1= 16±0,5% e T2= 20±0,5%). Based on the results
- 217. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 25 206 obtained, it was concluded that for amaranth grains the increase in water content decreased the real and apparent specific mass and the porosity and increased the resting angle and the mass of 1000 grains. About the quinoa grains, with the increase of the water content, initially a decrease occurs in the real and apparent specific masses and later an increase. There is also a significant increase in the resting angle and in the mass of 1000 grains. Regarding the water content it has been proved that exist a direct interference in the physical properties of the grains. KEYWORDS: quinua, amaranth, physical properties 1 | INTRODUÇÃO O Brasil é um dos maiores produtores mundiais de produtos agrícolas, porém, mesmo com toda tecnologia disponível neste meio, ainda nos dias de hoje existe um elevado número de perdas pós-colheita. De acordo com Villa e Roa (1979), apud Alencar et al. (2009), o teor de água, a temperatura, os grãos quebrados, o tempo de armazenamento, são uns dos principais fatores que podem interferir de maneira a acelerar ou retardar a deterioração dos produtos armazenados. Para manter uma elevada qualidade dos produtos armazenados, garantir e agregar valor final ou mesmo viabilizar o armazenamento do produto por mais tempo, é necessário conhecer as características desse produto, conhecer suas propriedades físicas. O conhecimento das propriedades físicas dos grãos é de grande importância no processo de beneficiamento, armazenamento, na construção e operação de sistemas de transporte, no dimensionamento de silos e secadores ou mesmo adaptação de equipamentos que já são utilizados para outros fins. São parâmetros relevantes na otimização dos processos industriais e no desenvolvimento de novos projetos e equipamentos utilizados nas operações pós-colheita (CORRÊA et al., 2006). A importância em se determinar as propriedades físicas dos grãos pode ser evidenciada em diversos trabalhos encontrados na literatura com diferentes tipos de produtos agrícolas, como com a cultura do trigo e milho (NELSON, 1980), café (COUTO et al., 1999), a soja (RIBEIRO et al., 2005), o trigo (CORRÊA et al., 2006), o feijão-fradinho (BAJAY et al., 2011), quinoa e o amaranto (MOSCON, 2015) e muitos outros. A quinoa e o amaranto são pseudocereais ricos em proteínas, vitaminas e minerais, são livres de glúten, trazendo muitos benefícios a saúde, além de serem uma boa alternativa para diversificação de cultivos no Brasil. Por mais antigo que seja o cultivo da quinoa e do amaranto, estudos relacionados as propriedades físicas desses grãos são limitados na literatura. O trabalho tem como objetivo determinar e avaliar as propriedades físicas de grãos de quinoa e de amaranto com diferentes teores de água.
- 218. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 25 207 2 | MATERIAL E MÉTODOS O experimento foi conduzido no Laboratório de Armazenamento e Pré- processamento de Produtos Agrícolas e no Laboratório de Tecnologia de Sementes pertencentes a Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária da Universidade de Brasília. No período de janeiro a maio de 2017. Os grãos secos, limpos e selecionados de quinoa, Cultivar BRS Syetetuba (Chenopodium quinoa) e amaranto, cultivar BRS Alegria (Amaranthus spp.), foram obtidos da Fazenda Água Limpa (FAL), área experimental da Universidade de Brasília, localizada em Brasília-DF. Os grãos apresentaram um teor de água inicial de 8,5% para quinoa e 10,9% para o amaranto em base úmida. 2.1 Reumidificação dos grãos A partir do teor de água inicial, os grãos foram reumidificados para obtenção de outros três níveis de teor de água (10±0,5 %, 16±0,5% e 20±0,5% em b.u.). Os grãos de quinoa e amaranto tiveram seus teores de água modificados adicionando- se água destilada com o auxílio de um borrifador. Os grãos foram acondicionados em sacos plásticos com propriedade de barreira ao vapor de água, sendo mantidos em refrigerador em temperatura de 5±1°C por 5 dias (LANARO et al. 2011, adaptado). 2.2 Teor de água As amostras foram umedecidas até alcançarem aos valores escolhidos para cada tratamento. O teor de água foi determinado utilizando como base o método direto da estufa a 105±3°C, durante 24 horas, com quatro repetições de cada tratamento e 10 g de grãos para cada amostra, de acordo com a RAS (Regras para Análise de Sementes) (BRASIL, 2009, adaptado). Os grãos de amaranto apresentaram teor de água inicial médio de 10±0,5% b.u que foi mantido como tratamento T0. Para o tratamento T1, foi borrifado aproximadamente 57 ml de água para se chegar a um valor médio de 16±0,5% b.u. E para o tratamento T2 foi borrifado aproximadamente 99 ml de água para chegar em um valor médio de 20±0,5% b.u. Os grãos de quinoa tinham o teor de água inicial médio de 8,5% b.u, portanto, foi necessário o umedecimento para aproximar aos valores das umidades estabelecidas para o amaranto para fins de comparação. No tratamento T0 foi borrifado aproximadamente 17 ml de água, no T1 43,6 ml e T2 64 ml. É possível notar que foi necessária uma quantidade menor de água para que os teores de água pré- estabelecidos para a quinoa fossem atingidos, mostrando que o tegumento desse tipo de grão tem maior facilidade na absorção de água. Na figura 1 abaixo é possível observar os materiais usados para reumidificação.
- 219. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 25 208 Figura 1. (a) Recipiente plástico, borrifador e sacos plásticos, usados para o umedecimento dos grãos de quinoa e amaranto. (b) Balança eletrônica para pesagem das amostras. (c) Estufa. (d) Dessecador. 2.3 Massa Específica Aparente Para se encontrar a massa específica aparente dos grãos de quinoa e amaranto, utilizou-se uma proveta com capacidade para 50 ml, uma balança eletrônica com precisão de 0,001g e um funil comum para auxiliar na queda dos grãos dentro da proveta graduada (Figura 2). Foram realizadas quatro repetições para cada tratamento e as massas de grãos foram escolhidas aleatoriamente no montante. Esse método foi adaptado do trabalho de Siqueira, Resende e Chaves (2012). Figura 2. Balança analítica, proveta graduada de 50ml e funil, usados para determinar a massa específica aparente. Para se chegar ao valor da massa específica aparente é necessário ter conhecimento da massa de grãos utilizada em quilos, do volume da proveta ou recipiente em metros cúbicos e usar a equação número 1 descrita abaixo: (1)
- 220. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 25 209 onde: : Massa específica aparente (kg/m³); m grãos: massa dos grãos (kg); V grãos: volume dos grãos (m³). 2.4 Massa Específica Real Para determinação da massa específica real utilizou-se uma balança eletrônica com precisão de 0,001g, um balão volumétrico com capacidade para 50ml, bureta graduada de 25ml, óleo de soja refinado e uma massa de grãos de 15g coletadas aleatoriamente de cada tratamento (Figura 3). A massa específica real é obtida através da relação de uma massa de grãos conhecida em quilogramas, o valor do volume do balão utilizado e o volume do líquido usado para complementar o balão, ambos volumes em metros cúbicos. O volume pode ser determinado através da metodologia da complementação de volume descrito por Moreira et al. (1985), apud Couto et al. (1999), Magalhaes et al. (2000), Moscon (2015), entre outros. Os grãos foram colocados nos balões volumétricos e o volume foi completado com óleo de soja refinado através de uma bureta graduada. Foram realizadas 4 repetições de cada tratamento. Com isso, utilizando-se dos valores encontrados, calcula-se a massa especifica real com a equação 2 descrita abaixo: (2 onde: 𝝆µ: Massa específica real (kg/m³); m grãos: massa dos grãos (kg); V. balão: volume do balão (m³); V. óleo: volume do óleo (m³).
- 221. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 25 210 Figura 3. Bureta graduada, óleo de soja e balão volumétrico, usados para encontrar a massa específica real dos grãos de quinoa e amaranto. 2.5 Porosidade A porosidade está em função da relação dos valores encontrados para a massa específica aparente e a massa específica real. Pode ser determinada de forma indireta a partir da equação 3 abaixo, que foi descrita no livro Physical Properties of Plant and Animal Materials por Mohsenin (1986), apud Correa et al. (2005), Ribeiro et al. (2005), Moscon (2015), entre outros. 3) onde: ℇ: porosidade (%); 𝝆ap: massa específica aparente (kg/m³); 𝝆µ: massa específica real (kg/m³). 2.6 Ângulo de Repouso ou Talude Para determinar o ângulo de repouso, foi utilizado um instrumento de madeira baseado no trabalho de Magalhaes et al. (2000), adaptado para grãos de pequeno tamanho (Figura 4).
- 222. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 25 211 Figura 4. Equipamento utilizado para encontrar o ângulo de repouso. O instrumento utilizado baseia-se em uma caixa retangular feita de MDF com uma escala em centímetros fixada ao fundo e vidro na parte frontal e lateral, para que fosse possível fazer a leitura dos valores encontrados. A lateral do instrumento possuía um valor fixo de 8 cm, equivalendo ao valor do cateto adjacente ao ângulo formado dentro do equipamento. A escala ao fundo fornecia o valor do cateto oposto ao ângulo (Figura 5). Figura 5. Esquematização do funcionamento do equipamento para obtenção do ângulo de repouso. Foi utilizado também um becker de valor conhecido, o mesmo foi apoiado na lateral superior do equipamento, para que fosse possível manter uma mesma altura de queda dos grãos nas quatro repetições de cada tratamento (MOSCON, 2015). Após a obtenção dos valores, utilizou-se a equação 4 para encontrar o ângulo de 5
- 223. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 25 212 repouso da massa de grãos: (4) onde: arc tan: arco tangente (°) C.O.: Cateto oposto (mm) C.A.: Cateto adjacente (mm) 2.7 Massa de mil grãos A massa de 1000 grãos foi determinada fazendo a contagem de forma aleatória de 500 grãos, com quatro repetições para cada tratamento, foi realizado com base no trabalho de Moscon (2015), que foi uma forma adaptada da Regras para Análises de Sementes (BRASIL, 2009). Por se tratar de grãos pequenos e para facilitar a contagem dos mesmos, utilizou- se como material de apoio duas cartolinas pretas e uma pinça comprida (Figura 6). Figura 6. Cartolina preta e pinça longa, usadas para a contagem dos grãos de quinoa e amaranto. Após a contagem, pesou-se a massa de grãos em uma balança analítica com precisão de 0,0001g. Ao fim, multiplicou-se por duas vezes o valor encontrado. 2.8 Análise estatística O delineamento experimental utilizado foi o DIC (Delineamento Inteiramente Casualizado) em esquema fatorial 2x3 (2 tipos de grãos e 3 teores de água) com 4 repetições, totalizando 24 parcelas. Os valores experimentais obtidos da massa específica real e aparente, ângulo de repouso, massa de 1000 grãos e porosidade foram submetidos à análise de variância e a comparação entre médias foi efetuada por meio do teste Scott-Knott (1974), com um 6
- 224. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 25 213 nível de significância de 5%. Os dados obtidos foram analisados através do Software SISVAR 5.3 (FERREIRA, 2011). 3 | RESULTADOS E DISCUSSÃO Observa-se que houve diferença estatística entre os diferentes teores de água dos grãos de amaranto. Já para os grãos de quinoa, não houve diferença significativa entre os teores de 10 e 16%. Verifica-se, que houve diferença significativa na massa específica aparente entre os grãos de quinoa e amaranto, que diferiram entre si para três teores de água estudados com relação ao amaranto, observa-se uma redução da massa específica aparente com o aumento do teor de água do grão. Variando de 823,1 a 725,6 kg/m³, com teores de água de 10±0,5 a 20±0,5% (b.u.) (Tabela 1). Ruffato et al. (1999), Corrêa et al. (2006), Costa e Devilla (2007) e Bajay et al. (2011), observaram o mesmo fenômeno com milho pipoca, trigo, quinoa e feijão fradinho, respectivamente. De acordo com Corrêa et al. (2006), além do teor de água, a massa específica aparente é influenciada pelo processo de adsorção ou dessorção, que consiste em ganho e perda de água. Teor de água (bu.) Amaranto (kg/m³) Quinoa (kg/m³) 10±0,5% 823,1 aA 595,6 bA 16±0,5% 792,1 aB 574,6 bA 20±0,5% 725,6 aC 650,0 bB Tabela 1 – Valores médios de massa específica aparente dos grãos de quinoa e de amaranto em função do teor de água. Médias seguidas pela mesma letra, minúscula na linha e maiúscula na coluna, não diferem entre si a 5% de probabilidade pelo teste Scott-Knott. Observa-se (Tabela 2) que houve diferença estatística na massa específica real entre os três diferentes teores de água para os grãos de amaranto. Já para os grãos de quinoa não houve diferença significativa entre os teores de água de 10 e 16%. Observa-se também, que houve diferença significativa na massa específica real entre os grãos de quinoa e amaranto para os diferentes teores de água. Osvaloresdemassaespecíficarealparaosgrãosdeamarantovariaramde1366,1 e 1306,2 kg/m³, para os teores de água de 10±0,5 e 20±0,5% (b.u.), respectivamente. Mendonza et al. (2003), apud Moscon (2015), encontraram em suas pesquisas com Amaranthus hypochondriacus valores médios para massa específica real em torno de 1370 kg/m³ em um intervalo de 5 a 20% de teor de água. Teor de água (bu.) Amaranto (kg/m³) Quinoa (kg/m³) 10±0,5% 1366,1 aA 1218,9 bA 16±0,5% 1333,7 aB 1205,2 bA 20±0,5% 1306,2 aC 1242,2 bB Tabela 2 - Valores médios de massa específica real dos grãos de quinoa e de amaranto em
- 225. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 25 214 função do teor de água. Médias seguidas pela mesma letra, minúscula na linha e maiúscula na coluna, não diferem entre si a 5% de probabilidade pelo teste Scott-Knott. A porosidade dos grãos de amaranto decresceu com o aumento no teor de água, variando de 39,7 a 44,4%, com teores de água de 10±0,5 e 20±0,5%, respectivamente (Tabela 3), comportamento como o esperado da maioria dos produtos agrícolas. Corrêa et al. (2006) e Bajay et al. (2011), observaram em grãos de trigo e feijão fradinho, respectivamente, o aumento da porosidade com o aumento do teor de água do grão. Teor de água (bu.) Amaranto (%) Quinoa (%) 10±0,5% 39,7 aA 51,1 bA 16±0,5% 40,5 aA 52,2 bA 20±0,5% 44,4 aB 47,6 bB Tabela 3 – Valores médios da porosidade dos grãos de quinoa e de amaranto em função do teor de água. Médias seguidas pela mesma letra, minúscula na linha e maiúscula na coluna, não diferem entre si a 5% de probabilidade pelo teste Scott-Knott. Verifica-se que houve diferença estatística para os ângulos de repouso entre os grãos de quinoa e amaranto, que diferiram entre si para os três teores de água estudados. No entanto, não houve diferença estatística para os grãos de quinoa e amaranto para os teores de água de 16 e 20%, como pode ser observado nas colunas da Tabela 4. Teor de água (bu.) Amaranto (°) Quinoa (°) 10±0,5% 28,1 aA 36,6 bA 16±0,5% 33,0 aB 37,7 bB 20±0,5% 33,7 aB 37,6 bB Tabela 4 – Valores médios para o ângulo de repouso dos grãos de quinoa e de amaranto em função do teor de água. Médias seguidas pela mesma letra, minúscula na linha e maiúscula na coluna, não diferem entre si a 5% de probabilidade pelo teste Scott-Knott. Os valores para massa de 1000 grãos para quinoa aumentaram de 2,97 a 3,24 g com o aumento do teor de água de 10±0,5 a 20±0,5%, respectivamente (Tabela 5). Teor de água (bu.) Amaranto (g) Quinoa (g) 10±0,5% 0,70 aA 2,97 bA 16±0,5% 0,72 aA 3,06 bB 20±0,5% 0,74 aA 3,24 bC Tabela 5 – Valores médios da massa de 1000 grãos dos grãos de quinoa e de amaranto em função do teor de água. Médias seguidas pela mesma letra, minúscula na linha e maiúscula na coluna, não diferem entre si a 5% de probabilidade pelo teste Scott-Knott.
- 226. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 25 215 Nos grãos de amaranto, os valores médios variaram de 0,70 a 0,74 g, mostrando que houve apenas um pequeno aumento na massa de 1000 grãos com relação ao aumento do teor de água. Os resultados concordam com os valores obtidos por outros pesquisadores, como com a cultura do feijão (RESENDE et al., 2008), feijão fradinho (BAJAY et al., 2011), quinoa e amaranto (MOSCON, 2015), com amendoim (ARAUJO et al., 2014). Mostrando que se houve aumento na massa dos grãos, o processo de reumidificação foi eficiente. 4 | CONCLUSÕES O teor de água interfere diretamente nas propriedades físicas dos grãos de quinoa e amaranto. Para a quinoa, o aumento do teor de água, promoveu uma redução nos valores de massas específicas reais e aparentes, e posteriormente um aumento nesses valores. Ocorreu um aumento significativo no ângulo de repouso e na massa de 1000 grãos. Para o amaranto, o aumento no teor de água, promove uma redução significativa na massa específica real, massa específica aparente e a porosidade. O ângulo de repouso e a massa de 1000 grãos aumentaram. REFERÊNCIAS ALENCAR, E. R.; FARONI, L. R. D.; LACERDA FILHO, A. F.; PETERNELLI, L. A.; COSTA, A. R. Qualidade dos grãos de soja armazenados em diferentes condições. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, Campina Grande, v.13, n.5, p. 606-613, 2009. ARAUJO, W. D.; GONELI, A. L. D.; DE SOUZA, C. M. A.; GONÇALVES, A. A.; VILHASANTI, H C. B. Propriedades físicas dos grãos de amendoim durante a secagem. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, Campina Grande, v.18, n.3, p.279–286, 2014. BAJAY, L. B.; DI LANARO, N.; QUEIROZ, V. M. P.; PINTO, R. C. S.; LEITÃO, I. G. A.; LESSIO, B. C.; AUGUSTO, P. E. D. Determinação de propriedades físicas do feijão fradinho. Revista Brasileira de Produtos Agroindustriais, Campina Grande, v. 13, n. 1, p. 27-35, 2011. BRASIL. Ministério da Agricultura. Regras para análise de sementes. Brasília: SNAD/DNPV/CLAV, 365p.,1992. CORRÊA, P. C.; RESENDE, O.; RIBEIRO, D. M. Isotermas de sorção das espigas de milho: obtenção e modelagem. Revista Brasileira de Milho e Sorgo, Sete Lagoas, v. 4, n. 1, p. 126-134, 2005. CORRÊA, P. C.; RIBEIRO, D. M.; RESENDE, O.; BOTELHO, F. M. Determinação e modelagem das propriedades físicas e da contração volumétrica do trigo, durante a secagem. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, Campina Grande, v.10, n.3, p.665–670, 2006. COSTA, M.D.; DEVILLA, I.A. Propriedades físicas dos grãos de quinoa. PIBIC. UnUCET- UEG. 2007. COUTO, S.M.; MAGALHÃES, A.C.; QUEIROZ, D.M.; BASTOS, I.T. Massa específica aparente e real e porosidade de grãos de café em função do teor de umidade. Campina Grande, PB, DEAg/UFPB. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental. v.3, n.1, p.61-68, 1999.
- 227. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 25 216 FERREIRA, D.F. Sisvar: a computer statistical analysis system. Disponível em: http://www.dex. ufla.br/~danielff/softwares.htm. Acesso em: maio de 2017. LANARO, N. D.; BAJAY, L. G.; QUEIROZ, V. M. P.; PINTO, R .C. S.; LEITÃO, I. G. A.; LESSIO B. C.; AUGUSTO, P. E. D. Determinação de propriedades físicas do feijão fradinho. Revista Brasileira de Produtos Agroindustriais, v.13, p.27-35, 2011. MAGALHÃES, A. C.; COUTO, S. M.; QUEIROZ, D. M.; ANDRADE, E. T. Dimensões principais, massa e volume unitários, esfericidade e Ângulo de repouso de frutos de café. Revista Brasileira de Produtos Agroindustriais, Campina Grande, v.2, n.2, p.39-56, 2000. MOSCON, E. S. Cinética de secagem e propriedades físicas de quinoa e amaranto e qualidade de sementes de quinoa. Brasília: Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária, Universidade de Brasília, 2015, 87p. Dissertação de Mestrado. 87p., 2015. RESENDE, O.; CORRÊA, P.C.; GONELI, A.L.D.; RIBEIRO, D.M.: Propriedades físicas do feijão durante a secagem: determinação e modelagem. Ciência e Agrotecnologia, Lavras, v. 32, n. 1, p. 225-230, jan./fev., 2008. RIBEIRO, V. S.; SOBRAL, M. S.; AMEIDA, M. M.; SILVA, G. F. Propriedades físicas de produtos agrícolas. Revista Brasileira de Produtos Agroindustriais, Campina Grande, v.4, n.1, p.1-6, 2002. RIBEIRO, D. M.; CORRÊA, P. C.; RODRIGUES, D. H.; GONELI, A.L.D. Análise da variação das propriedades físicas dos grãos de soja durante o processo de secagem. Ciência e Tecnologia de Alimentos, Campinas, v. 25, n. 3, p. 611-617, 2005. SIQUEIRA, V. C.; RESENDE, O.; CHAVES, T. H. Propriedades físicas das sementes de pinhão-manso ao longo da secagem em diferentes temperaturas. Semina: Ciências Agrárias, Londrina, v. 33, suplemento 1, p. 2705-2714, 2012.
- 228. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 26 217 CAPÍTULO 26 doi DETERMINAÇÃO DE ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DO ARAÇÁ VERMELHO (Psidium cattleianum L.) Elisa dos Santos Pereira Programa de Pós-Graduação e Ciência e Tecnologia de Alimentos, Universidade Federal de Pelotas Pelotas – Rio Grande do Sul Taiane Mota Camargo Programa de Pós-Graduação e Ciência e Tecnologia de Alimentos, Universidade Federal de Pelotas Pelotas – Rio Grande do Sul Marjana Radünz Programa de Pós-Graduação e Ciência e Tecnologia de Alimentos, Universidade Federal de Pelotas Pelotas – Rio Grande do Sul Jardel Araujo Ribeiro Programa de Pós-Graduação e Ciência e Tecnologia de Alimentos, Universidade Federal de Pelotas Pelotas – Rio Grande do Sul Pâmela Inchauspe Corrêa Alves Programa de Pós-Graduação em Nutrição e Alimentos, Universidade Federal de Pelotas Pelotas – Rio Grande do Sul Marcia Vizzotto Núcleo de Alimentos, Embrapa Clima Temperado Pelotas - Rio Grande do Sul Eliezer Avila Gandra Centro de Ciências Químicas, Farmacêuticas e de Alimentos, Universidade Federal de Pelotas Pelotas – Rio Grande do Sul RESUMO: O araçá vermelho é uma fruta nativa brasileira, muito suculenta, com a polpa variando de doce a sub-ácida, com um toque apimentado. Alem do potencial para consumo in natura, o extrato do araçá apresenta atividade bactericida para alguns tipos de bactérias. Diante disto, objetivo deste trabalho foi avaliar o potencial antibacteriano de extratos de araçá vermelho contra as bactérias L. monocytogenes, E. coli e a S. aureus. Os araçás vermelhos (Acesso 87), provenientes do Banco Ativo de Germoplasma de Frutas Nativas da Embrapa Clima Temperado foram colhidos na safra de 2016-2017 e posteriormente liofilizados para obtenção da amostra em pó. Para avaliar o potencial antimicrobiano, foram utilizados extratos metanólicos. A atividade antibacteriana foi testada foi para cepas padrão das espécies de bactérias Escherichia coli O157:H7, Listeria monocytogenes e Staphylococcus aureus. O extrato de araçá vermelho possui atividade antimicrobiana moderada frente as bactérias Staphylococcus aureus e Listeria monocytogenes pela técnica de disco difusão. O extrato apresentou efeito inibitório frente a todas as bactérias testadas na concentração de 330 µg mL-1 e efeito bactericida frente S. aureus, e L. monocytogenes. Com base nisto, pode- se concluir que o extrato de araçá vermelho tem potencial para ser utilizado para controle bacteriano de alimentos em substituição a conservantes químicos sintéticos.
- 229. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 26 218 PALAVRAS-CHAVE: Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes, Escherichia coli, compostos bioativos. ABSTRACT:The red araçá is a native Brazilian fruit, very juicy, with the pulp varying from sweet to sub-acid, with a spicy touch. Besides the potential for in natura consumption, araçá extract presents bactericidal activity for some types of bacteria. In view of this, the objective of this work was to evaluate the antibacterial potential of red araçá extracts against L. monocytogenes, E. coli and S. aureus. The red araçá (Access 87) of the Active Bank of Embrapa Indigenous Germplasm Temperate Climate was harvested in the 2016-2017 harvest and then lyophilized to obtain the powdered sample. To evaluate the antimicrobial potential, methanolic extracts were used. Antibacterial activity was tested for standard strains of the Escherichia coli O157: H7, Listeria monocytogenes and Staphylococcus aureus species. The extract presented an inhibitory effect against all bacteria tested at the concentration of 330 μg mL-1 and bactericidal effect against S. aureus, and L. monocytogenes. Based on this, it can be concluded that the extract of red araçá has potential to be used for bacterial control of foods in substitution of synthetic chemical preservatives. KEYWORDS: Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes, Escherichia coli, bioactive compounds. 1 | NTRODUÇÃO As doenças transmitidas por alimentos (DTA) são uma importante causa de morbidade e mortalidade em todo o mundo, constituindo um problema de saúde pública e afetando o desenvolvimento econômico dos países (WHO, 2015). Diante disto, a indústria de alimentos tem usado uma variedade de agentes antimicrobianos sintéticos para inibir o desenvolvimento de micro-organismos patogênicos, porém seu uso tem sido associado em alguns casos como causa de alergias respiratórias, carcinogenicidade, teratogenicidade e toxicidade (GUTIERREZ; BARRY-RYAN; BOURKE, 2009; BAJPAI; BAEK; KANG, 2012). Deste modo, nos últimos anos diversas pesquisas vêm sendo realizadas com o intuito de obter compostos antimicrobianos naturais (DUARTE, 2006). O araçá (Psidium cattleianum L.) é uma fruta nativa do Brasil pertencente à família Myrtaceae, uma espécie nativa brasileira que pode ser encontrada na Bahia, nos estados do Rio Grande do Sul, e também no país vizinho, o Uruguai. Adaptou-se muito bem em climas tropicais como o Havaí e muitas ilhas do Caribe (GALHO et al., 2007; PATEL, 2012). A espécie é caracterizada como uma pequena frutífera com elevado número de sementes (PEREIRA et al., 2018). A figura 1 mostra uma das variedades do araçá, apresentando epicarpo e endocarpo vermelho, caracterizada por um núcleo suculento, com polpa translúcida cheia de sementes (PEREIRA et al., 2018).
- 230. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 26 219 Figura 1. Araçá vermelho (de: Paulo Luiz Lanzetta Aguiar). Essa espécie apresenta grande potencial econômico, pois é uma frutífera de baixo custo de manutenção, pouca necessidade de utilização de agrotóxicos e alta produtividade. Além disso, pode representar uma alternativa dentro da agricultura familiar como opção para o cultivo orgânico, em virtude das características da sua fruta e da boa aceitação para consumo (CORRÊA, 2009). Na pós-colheita o elevado teor de umidade encontrado nas frutas, favorece a rápida deterioração e, sob temperatura ambiente, a sua conservação é de apenas 2 a 3 dias (GALHO et al., 2000). Todavia, sob refrigeração, o período de conservação do fruto é estendido. O araçá apresenta polpa suculenta e sabor oscilando entre doce e subácido com toque picante (BIEGELMEYER et al., 2011). Consumido in natura ou processado (doces, geléias e sucos), o araçá proporciona alto potencial para o setor agroalimentar (REISSIG et al., 2016). Além disso, devido à bioatividade (antiproliferativa, antidiabética e antimicrobiana) do extrato da fruta, que pode estar relacionada ao alto conteúdo de vitamina C e antioxidantes, o araçá também pode ser valioso para a indústria farmacêutica (FRANZON et al., 2009; MEDINA et al., 2011). A bioatividade relatada para o araçá é atribuída principalmente ao alto conteúdo de compostos fenólicos, que são metabólitos secundários bem conhecidos e com alta capacidade antioxidante (PEREIRA et al., 2018). Os compostos fenólicos são capazes de proteger os sistemas biológicos contra o excesso de radicais livres e espécies reativas de oxigênio (VERMA et al., 2013) No que concerne a atividade antimicrobiana, o extrato de frutos de araçá apresentou atividade in vitro contra Salmonella enteritidis, um patógeno alimentar, de origementérica,frequentementedescritonaliteraturasobreaocorrênciadetoxinfecções em humanos (PEREIRAet al., 2018). Os extratos apresentaram concentração inibitória mínima a 5% e verificou-se que extratos com maiores concentrações de metabólitos secundários foram mais efetivos contra a proliferação bacteriana (MEDINAet al., 2011). A atividade antimicrobiana das plantas pode estar relacionada com a presença de compostos polifenólicos, que estão presentes em folhas e frutos (PEREIRA et al., 2018). No araçá, estão presentes flavonoides, como o kaempferol, quercetina e cianidina, que são agentes antimicrobianos bem reconhecidos (MEDINA et al., 2011).
- 231. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 26 220 Segundo Medina et al., (2011), o modo de ação desses compostos está relacionado com sua reação com a membrana celular microbiana, inativando enzimas essenciais, ou formando complexos com íons metálicos, limitando sua acessibilidade ao metabolismo microbiano. Diante disto, o objetivo deste trabalho foi avaliar o potencial antibacteriano de extratos de araçá vermelho contra as bactérias L. monocytogenes, E. coli e a S. aureus. 2 | MATERIAIS E MÉTODOS 2.1 Material vegetal Os araçás vermelhos (Acesso 87) são provenientes do Banco Ativo de Germoplasma de Frutas Nativas da Embrapa Clima Temperado, Pelotas, RS. Os frutos foram colhidos na safra de 2016-2017, armazenados em freezer (20ºC) e posteriormente liofilizados para obtenção da amostra em pó. Para avaliar o potencial antimicrobiano do araçá vermelho, foram utilizados extratos metanólicos conforme metodologia de extração de SCHERER e GODOY (2014), que foram posteriormente rotaevaporados até total eliminação do solvente. O extrato foi ressuspendido em água e a concentração final das amostras foi de 1 g/mL. 2.2 Atividade Antimicrobiana Para a realização das análises foram utilizadas cepas padrão de Escherichia coli O157:H7 (ATCC 43895), Listeria monocytogenes (ATCC 7644) e Staphylococcus aureus (ATCC 10832). Primeiramente uma alçada dessas bactérias foi transferida para caldo Soja Tripticaseína (TSB) e incubadas em estufa durante 24h a 37ºC. Após, uma alçada deste crescimento foi estriada em placas de Petri com meios seletivos, sendo ágar Eosina Azul de Metileno (EMB) para E. coli, ágar Oxford para L. monocytogenes e ágar Baird-Parker para S. aureus, e incubadas por 24h/48h a 37ºC, para o isolamento das colônias com morfologia característica. A partir do crescimento bacteriano nas placas de Petri, foi extraída uma alçada e ressuspendida em solução salina (NaCl 0,85%), a qual foi padronizada na concentração 0,5 na escala de McFarland (1,5 x 108 UFC mL1 ). Todos os ensaios foram realizados em triplicata. 2.2.1 Análise de disco difusão A análise de disco difusão foi realizada de acordo com o protocolo proposto pelo Manual Clinical and Laboratory Standards Institute – CLSI (CLSI, 2015a) com pequenas modificações. A solução salina contendo o inoculo foi semeada na superfície de placas com ágar Muller-Hinton. Em seguida foram adicionados discos de papel filtro esterilizados na placa e o extrato de araçá vermelho foi impregnado sobre os discos de papel. As placas foram incubadas por 24h a 37ºC. Após este período foi efetuada a
- 232. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 26 221 medição dos halos de inibição, sendo os resultados expressos em centímetros. 2.2.2 Concentração Inibitória Mínima (CIM) Aanálise da Concentração Inibitória Mínima foi realizada de acordo com o Manual Clinical and Laboratory Standards Institute – CLSI (CLSI, 2015b) com pequenas modificações. Foram utilizadas placas de microtitulação de 96 poços, onde foram acrescentadas em cada poço 100 µL de caldo Brain Heart Infusion (BHI), 100 µL de inóculo (80 µL de caldo BHI e 20 µL de água salina com crescimento bacteriano) e o extrato de araçá vermelho em três diferentes concentrações de amostra: pura (100 µL extrato de araçá vermelho puro); 1:100 (1 µL de extrato de araçá vermelho e 99 µL de Dimetilsulfóxido (DMSO) e 1:1000 (0,1 µL de extrato de araçá vermelho e 99,9 µL de DMSO). As microplacas foram avaliadas em espectrofômetro a 620 nm. Em seguida, procedeu-se a incubação por 24h a 37 ºC, e após, foi realizada nova leitura em espectrofotômetro. A CIM foi considerada como a menor concentração em que não houve crescimento bacteriano no meio de cultura. 2.2.3 Concentração Bactericida Mínima (CBM) A Concentração Bactericida Mínima foi realizada de acordo com método descrito por Cabral et al. (2009) com pequenas modificações. Após a realização da CIM, foram retirados 15 µL dos poços das amostras que tiveram inibição e estriados em placas de Petri com ágar Brain Heart Infusion Agar (BHA) e incubados por 24h a 37°C. Foi considerada a mínima concentração bactericida as placas onde não houve crescimento bacteriano. 3 | RESULTADOS E DISCUSSÃO A presença e o tamanho dos halos de inibição indicam a suscetibilidade das bactérias frente a uma amostra; halos menores que 0,7 cm são considerados não ativos frente à bactéria enquanto superiores a 1,2 cm apresentam efeito inibitório satisfatório (ARORA; KAUR, 1999). O extrato de araçá vermelho foi considerado ativo, pois apresentou inibição do crescimento das bactérias Staphylococcus aureus e Listeria monocytogenes (Tabela 1) com halos de inibição com médias de 9,1 mm e de 7,4 mm, respectivamente. Este resultado denota ação mais eficiente do extrato frente a cepas gram positivas, isto pode estar relacionado ao fato das bactérias Gram- positivas serem mais sensíveis por apresentarem uma camada única na parede célular. Diferente das bactérias Gram-negativas, que possuem uma camada dupla na sua parede celular, não permitindo que antimicrobianos entrem com facilidade matando o micro-organismo (FORSYTHE, 2013).
- 233. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 26 222 Bactérias Halo de inibição (mm*) Listeria monocytogenes 7,4 Staphylococcus aureus 9,1 Escherichia coli 0,0 Tabela 1. Halos de inibição obtidos pelo método de disco difusão por aplicação de extrato de araçá frente às bactérias Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus e Escherichia coli. *Média das triplicatas A bactéria que foi mais sensível ao extrato segundo o halo de inibição, foi S. aureus. Esta bactéria é responsável por casos e surtos de intoxicação alimentar pelo consumo de enterotoxinas pré-formadas em alimentos é também responsável pela síndrome de choque tóxico, além de ser uma das principais causas de infecção hospitalar, associado ao aumento das taxas de mortalidade e maior permanência hospitalar (KRAKER et al., 2011). O extrato de araçá vermelho apresentou atividade antimicrobiana moderada para todas as bactérias (CIM 330 μg mL-1 ), porém este extrato teve atividade bactericida apenas para S. aureus e L. monocytogenes (Tabela 2). Bactérias Concentração* (µg mL-1 ) Óleo de palma Listeria monocytogenes 330 Staphylococcus aureus 330 Escherichia coli 330 Tabela 2. Concentração inibitória mínima (CIM) do extrato de araçá frente às bactérias Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus e Escherichia coli. *Diluída com dimetilsulfóxido. Holetz et al. (2002), reportam que extratos de plantas com CIM inferiores a 100 μg mL-1 apresentam uma boa atividade antimicrobiana, com elevado potencial para aplicação farmacológia e alimentícia; entre 100 a 500 μg mL-1 , a atividade é considerada moderada; de 500 a 1000 μg mL-1 , é considerada fraca e mais de 1000 μg mL-1 , o extrato é considerado inativo. Segundo esta classificação, o extrato metanolico obtido neste trabalho pode ser classificado como moderado, tendo potencial para aplicação na indústria alimentícia e farmaceutica. Resultados semelhantes aos obtidos por Holetz et al., (2002), que verificaram que extratos de Psidium guajava apresentaram atividade moderada contra S. aureus (MIC = 250g mL-1 ) e E. coli (MIC = 500g mL-1 ). Na literatura são encontrados diversos trabalhos com extrato ou folha de araçá frente a outras bactérias. Scur et al., (2016) verificaram atividade antimicrobiana moderada do extrato de araçá contra Klebsiella pneumoniae e Staphylococcus epidermidis,
- 234. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 26 223 enquanto Faleiro et al., (2016) encontraram atividade para Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Escherichia coli e Burkholderia cepacia. Marques et al. (2008) realizaram uma caracterização fitoquímica do óleo essencial de P. cattleianum coletado na Mata Atlântica do sul do Brasil utilizando o método GC-MS, o constituinte majoritário encontrado foi o eucaliptol (16,4%), entre outros. Pino et al. (2004) analisaram a composição fitoquímica de amostras coletadas em Cuba e identificaram 18 compostos. Os compostos majoritários foram epi-α-muurolol (21,9%), α-cadinol (20%), epiαcadinol (16,7%) e cariofileno (13,6%), concordando com os resultados obtidos por Scur et al., (2016). Com relação à ação dos compostos acima mencionados encontrados nos extratos em células bacterianas, sabe-se que os flavonoides atuam em células bacterianas através da formação de complexos entre proteínas e a parede celular, causando sua ruptura (TAGURI et al., 2004). Por outro lado, os taninos atuam nos microrganismos impedindo seu crescimento através da inibição do transporte de nutrientes e da formação de complexos entre os taninos e a parede celular bacteriana (MCSWEENEY et al., 2001). Por fim, o mecanismo de ação dos triterpenóides em micro-organismos está associado ao rompimento de compostos lipofílicos das membranas microbianas, causando sua morte (TEPE et al., 2004). Bactérias Concentração (µg mL-1 ) Listeria monocytogenes 330 Staphylococcus aureus 330 Escherichia coli nd Tabela 3. Concentração bactericida mínima (CBM) do extrato de araçá frente às bactérias Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus e Escherichia coli. Nd – não detectado A CBM (Tabela 3), é a menor concentração de ação bactericida do composto. Nesta análise, o extrato do araçá vermelho obteve efetividade com a concentração de 330 µg mL-1 , apenas nas bactérias gram-positivas Listeria monocytogenes e Staphylococcus aureus, mesmo resultado obtido ao testar os halos de inibição. Isto se deve pois a eficácia de um composto antimicrobiano depende do tipo de micro- organismo, bem como da espécie e cepa microbiana (GOULD, 1989), justificando assim a diferença da concentração necessária de extrato, bem como a composição, para ter efetivamente ação bactericida. 4 | CONCLUSÕES O extrato de araçá vermelho possui atividade antimicrobiana moderada frente as bactérias Staphylococcus aureus e Listeria monocytogenes pela técnica de disco difusão. Promoveu alo de inibição e efeito bactericida em S. aureus, e L. monocytogenes na concentração de 330 µg mL-1 . Com base nisto, pode-se concluir que o extrato
- 235. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 26 224 de araçá vermelho tem potencial para ser utilizado para controle bacteriano de alimentos em substituição a conservantes químicos sintéticos, entretanto estudo mais aprofundados devem ser realizados para adequação das concentrações frente aos agentes antimicrobianos REFERÊNCIAS ARORA, D.S.; KAUR, J. Antimicrobial activity of spices. International Journal of Antimicrobials Agents, v. 12, p. 257-262, 1999. BAJPAI, V. K.; BAEK, K. H.; KANG, S. C. Control of Salmonella in foods by using essential oils: A review. Food Research International, v. 45, p. 722-734, 2012. BIEGELMEYER, R.; ANDRADE, J. M. M.; ABOY, A. L.; APEL, M. A.; DRESCH, R. R.; MARIN, R.; RASEIRA, M, C.; HENRIQUES, A. T. Comparative analysis of the chemical composition and antioxidant activity of red (Psidium cattleianum) and yellow (Psidium cattleianum var. lucidum) strawberry guava fruit. Journal of food science, v. 76, n. 7, p. C991-C996, 2011. CABRAL, I. S. R.; PRADO, A.; BEZERRA, R.M.N.; ALENCAR, S.M.; IKEGAKI, M.; ROSALEN, P.L. Composição fenólica, atividade antibacteriana e antioxidante da própolis vermelha brasileira. Química Nova, v. 32, n. 6, p. 1523-1527, 2009. CLSI, 2015a. M02-A12: Performance Standards for Antimicrobial Disk Susceptibility Tests; Approved Standard - Twelfth Edition. CLSI (Clinical Lab. Stand. Institute) 35. CLSI, 2015b. M07-A10: Methods for Dilution Antimicrobial Susceptibility Tests for Bacteria That Grow Aerobically; Approved Standard -Tenth Edition. CLSI (Clinical Lab. Stand. Institute) 35. CORRÊA, L. C. Similaridade genética em acessos de goiabeiras e araçazeiros: análises químicas e bioquímicas dos frutos. 2009. 96p. Tese (Doutorado) – Instituto de Biociências de Botucatu, UNESP – Universidade Estadual Paulista., 2009. DUARTE, M. C. T. Atividade antimicrobiana de plantas medicinais e aromáticas utilizadas no Brasil. Revista MultiCiência, v. 7, n. 1, 2006. FALEIRO, J. H.; GONÇALVES, R. C.; DOS SANTOS, M. N. G.; DA SILVA, D. P.; NAVES, P. L. F.; MALAFAIA, G. The chemical featuring, toxicity, and antimicrobial activity of Psidium cattleianum (Myrtaceae) Leaves. New Journal of Science, v. 2016, 2016. FORSYTHE, Stephen J. Microbiologia da segurança dos alimentos. 2 ed. Porto Alegre: Artmed, 2013. 607p. FRANZON, R. C.; CAMPOS, L. D. O.; PROENÇA, C. E. B.; SOUSA-SILVA, J. C. Araçás do Gênero Psidium: principais espécies, ocorrência, descrição e usos. Planaltina, DF: Embrapa Cerrados, 2009. GALHO, A. S.; LOPES, N. F.; BACARIN, M. A.; LIMA, M. D. G. D. S. Chemical composition and growth respiration in Psidium cattleyanum Sabine fruits during the development cycle. Revista Brasileira de Fruticultura, v. 29, n. 1, p. 61-66, 2007. GALHO, A.S.; LOPES, N.F.; RASEIRA, A.; BACARIN, M.A. Crescimento do fruto do araçá (Psidium cattleyanum Sabine). Revista Brasileira de Fruticultura, v. 22, n. 2, p. 223-225, 2000.
- 236. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 26 225 GOULD, G. W. Introduction. Mechanisms of action of food preservation procedures, p.1-42, 1989. GUTIERREZ, J.; BARRY-RYAN, C.; BOURKE, P. Antimicrobial activity of plant essential oils using food model media: Efficacy, synergistic potential and interactions with food components. Food Microbiology, v. 26, p. 142-150, 2009. HOLETZ, F. B.; PESSINI, G. L.; SANCHES, N. R.; CORTEZ, D. A. G.; NAKAMURA, C. V.; DIAS FILHO, B. P. Screening of some plants used in the Brazilian folk medicine for the treatment of infectious diseases. Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, v. 97, n. 7, p. 1027-1031, 2002. KRAKER, M. E.; DAVEY, P. G.; GRUNDMANN, H.; BURDEN. Mortality and hospital stay associated with resistant Staphylococcus aureus and Escherichia coli bacteremia: estimating the burden of antibiotic resistance in Europe. PLoS medicine, v. 8, n. 10, p. e1001104, 2011. MARQUES, F. A.; WENDLER, E. P.; SALES MAIA, B. H. L.; COFFANI-NUNES, J. V.; CAMPANA, J.; GUERRERO Jr, P. G. Volatile oil of Psidium cattleianum Sabine from the Brazilian Atlantic forest. Journal of Essential Oil Research, v. 20, n. 6, p. 519-520, 2008. MCSWEENEY, C. S.; PALMER, B.; BUNCH, R.; KRAUSE, D. O. Effect of the tropical forage calliandra on microbial protein synthesis and ecology in the rumen. Journal of Applied Microbiology, v. 90, n. 1, p. 78-88, 2001. MEDINA, A. L.; HAAS, L. I. R.; CHAVES, F. C.; SALVADOR, M.; ZAMBIAZI, R. C.; DA SILVA, W. P.; NORA, L.; ROMBALDI, C. V. Araçá (Psidium cattleianum Sabine) fruit extracts with antioxidant and antimicrobial activities and antiproliferative effect on human cancer cells. Food Chemistry, v. 128, n. 4, p.916-922, 2011. PATEL, S. Exotic tropical plant Psidium cattleianum: a review on prospects and threats. Reviews in Environmental Science and Bio/Technology, v. 11, n. 3, p. 243-248, 2012. PEREIRA, E. dos S.; VINHOLES, J.; FRANZON, R. C.; DALMAZO, G.; VIZZOTTO, M.; NORA, L. Psidium cattleianum fruits: A review on its composition and bioactivity. Food chemistry, v. 258, p. 95-103, 2018. PINO, J. A.; BELLO, A.; URQUIOLA, A.; MARBOT, R.; MARTÍ, M. P. Leaf oils of Psidium parvifolium Griseb. and Psidium cattleianum Sabine from Cuba. Journal of Essential Oil Research, v.16, n.4, p.370-371, 2004. REISSIG, G. N.; VERGARA, L. P.; FRANZON, R. C.; RODRIGUES, R. D. S.; CHIM, J. F. Bioactive compounds in conventional and no added sugars red strawberry guava (Psidium cattleianum Sabine) jellies. Revista Brasileira de Fruticultura, v. 38, n. 3, 2016. SCHERER, R.; GODOY, H.T. Effects of extraction methods of phenolic compounds from Xanthium strumarium L. and their antioxidant activity. Revista Brasileira de Plantas Medicinais, v.16, n.1, p. 41-46, 2014. SCUR, M. C.; PINTO, F. G. S.; PANDINI, J. A.; COSTA, W. F.; LEITE, C. W.; TEMPONI, L. G. Antimicrobial and antioxidant activity of essential oil and different plant extracts of Psidium cattleianum Sabine. Brazilian Journal of Biology, v. 76, n. 1, p. 101-108, 2016. TAGURI, T.; TANAKA, T.; KOUNO, I. Antimicrobial activity of 10 different plant polyphenols against bacteria causing food-borne disease. Biological and Pharmaceutical Bulletin, v. 27, n. 12, p. 1965- 1969, 2004. TEPE, B.; DONMEZ, E.; UNLU, M.; CANDAN, F.; DAFERERA, D.; VARDAR-UNLU, G.; POLISSIOU, M.; SOKMEN, A. Antimicrobial and antioxidative activities of the essential oils and methanol extracts of
- 237. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 26 226 Salvia cryptantha (Montbret et Aucher ex Benth.) and Salvia multicaulis (Vahl). Food chemistry, v. 84, n. 4, p. 519-525, 2004. VERMA, A.K.; RAJKUMAR, V.; BANERJEE, R.; BISWAS, S.; DAS, A.K. Guava (Psidium guajava L.) powder as an antioxidant dietary fibre in sheep meat nuggets. Asian-Australasian journal of animal sciences, v. 26, n. 6, p. 886, 2013. WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO estimates of the global burden of foodborne diseases: foodborne disease burden epidemiology reference group 2007-2015). 2015. Disponível em: <http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/199350/9789241565165_eng.pdf%20 /;jsessionid=86C52E288B6DB437BC41E7376051CD4F?sequence=1> Acesso em 10 jan. 2019.
- 238. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 27 227 CAPÍTULO 27 doi DIGESTIBILIDADE IN VITRO DE SILAGEM DE BAGAÇO DE SORGO SACARINO Lucas Candiotto Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR Pato Branco – Paraná Angélica Caroline Zatta Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR Pato Branco – Paraná Cleiton Rafael Zanella Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR Pato Branco – Paraná Felipe Candiotto Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR Pato Branco – Paraná Jessica Maiara Nemirscki Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR Pato Branco – Paraná Angela Carolina Boaretto Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR Pato Branco – Paraná Rui Alberto Picolotto Junior Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR Pato Branco – Paraná Luryan Tairini Kagimura Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR Pato Branco – Paraná Ricardo Beffart Aiolfi Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR Pato Branco – Paraná Wilson Henrique Tatto Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR Pato Branco – Paraná Bruno Alcides Hammes Schumalz Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR Pato Branco – Paraná Márcia Mensor Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR Pato Branco – Paraná Anderson Camargo de Lima Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR Pato Branco – Paraná André Brugnara Soares Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR Pato Branco – Paraná Edison Antonio Pin União de Ensino do Sudoeste do Paraná – UNISEP Dois Vizinhos – Paraná Jean Carlo Possenti Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR Dois Vizinhos – Paraná
- 239. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 27 228 RESUMO: O objetivo foi avaliar diferentes genótipos de sorgo sacarino e os aspectos digestivos dos seus bagaços na forma de alimento conservado, relacionado à digestibilidade in vitro da matéria seca (DIGIV). O experimento foi conduzido no câmpus da UTFPR em Dois Vizinhos-PR. O primeiro ensaio foi estabelecido no dia 02 de outubro de 2012 usando os genótipos ADV 2010, Hunnigreen, Sugargraze, Volumax, BR 505, 503, 501 e o segundo em 2013 no dia 27 de novembro avaliando os materiais ADV 2010, Sugargraze, Hunnigreen, EX 5110, BR 506, 508, 509 e 511. A digestibilidade in vitro da matéria seca foi avaliada através do método de Baumgardt et al (1962), adaptada por Tilley & Terry (1963). O delineamento experimental empregado foi o de blocos ao acaso com três repetições, analisando os resultados por meio da ANOVA e comparando as médias pelo teste de Duncan a 5% de probabilidade de erro. A digestibilidade in vitro foi em média geral de 36,9% e 62,4% para a silagem do bagaço dos materiais cultivados nas safras 2012/2013 e 2013/2014, respectivamente. De modo geral, o maior rendimento agronômico, seja por genética ou por fatores ambientais, proporcionou menor digestibilidade. Maior rendimento agronômico de sorgo sacarino é responsável por uma menor digestibilidade da silagem do bagaço do mesmo, digestibilidade a qual é influenciada por fatores ambientais e genéticos. A silagem de bagaço de sorgo sacarino é viável para a alimentação animal e como forma de redução de impactos ambientais. PALAVRAS-CHAVE: Nutrição animal. Plantas forrageiras. Resíduo vegetal. Sorghum bicolor L. ABSTRACT: The objective was to evaluate different genotypes of sweet sorghum and the digestive aspects of their bagasse in the form of preserved food, related to in vitro dry matter digestibility (DIGIV). The experiment was conducted at the UTFPR campus in Dois Vizinhos-PR. The first trial was established on October 2, 2012 using ADV 2010, Hunnigreen, Sugargraze, Volumax, BR 505, 503, 501 genotypes and the second in 2013 on November 27 evaluating materials ADV 2010, Sugargraze, Hunnigreen, EX 5110, BR 506, 508, 509 and 511. The in vitro dry matter digestibility was evaluated by the method of Baumgardt et al (1962), adapted by Tilley & Terry (1963). The experimental design was a randomized block design with three replicates, analyzing the results using ANOVA and comparing the means by the Duncan test with a 5% probability of error. In vitro digestibility was in general average of 36.9% and 62.4% for bagasse silage of the materials grown in the 2012/2013 and 2013/2014 harvests, respectively. In general, the higher agronomic yield, either by genetic or environmental factors, provided fewer digestibilities. Higher agronomic yield of sweet sorghum is responsible for lower digestibility of bagasse silage, digestibility which is influenced by environmental and genetic factors. Sweet sorghum bagasse silage is viable for animal feed and as a way of reducing environmental impacts. KEYWORDS: Animal nutrition. Forage plants. Plant residue. Sorghum bicolor L.
- 240. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 27 229 1 | INTRODUÇÃO Entre as espécies de plantas forrageiras estivais, o sorgo (Sorghum bicolor L.) é uma boa alternativa para produção de silagem, já que apresenta altos teores de proteína, além de ser considerada uma planta com características rústicas, com boa resistência à seca, além de elevada produção de massa seca. Seu valor nutritivo possibilita produção de grãos, forragem como pastejo, silagem ou feno. Relacionado à silagem, apresenta boa fermentação, com concentrações de carboidratos solúveis importantes para o processo fermentativo, com teores de açúcar nos colmos de até 8%, suficientes para a fermentação bacteriana, além da produção viável e valor energético. O sorgo se adapta a diferentes condições de clima e solo, quando manejado de forma correta pode produzir uma silagem que se compara a do milho, mas com menores custos de produção, por resultar em maior produtividade que a cultura do milho (Rodrigues et al., 2002). O sorgo, morfologicamente tolera mais a deficiência do que excesso de água comparado aos outros cereais. Podendo comprometer o rendimento quando exposto a estresses, principalmente na fase fisiológica de iniciação da panícula até o florescimento. Em contraste ao milho, este possui capacidade de se tornar dormente durante a seca, retornando ao crescimento com a primeira chuva (Simon et al., 2009). Atualmente para diminuir os custos de produção, principalmente na dieta alimentar de ruminantes, utiliza-se coprodutos como o bagaço do sorgo, pelo seu baixo custo e por possibilitar ao produtor uma estabilidade em sua produção. Entre as espécies existentes a que se destaca é o sorgo sacarino, bastante utilizado na indústria na produção de etanol, mas que geram resíduos como o bagaço, que proporcionam a emissão de gases de efeito estufa por meio de sua queima. Para solucionar a problemática de forma sustentável, aproveita-se a biomassa residual, para alimentação de bovinos em forma de silagem, considerada mais prática e versátil. O objetivo deste trabalho foi avaliar diferentes genótipos de sorgo sacarino e os aspectos digestivos dos seus respectivos bagaços na forma de alimento conservado, relacionado à digestibilidade in vitro da matéria seca (DIGIV). 2 | METODOLOGIA O experimento foi conduzido na área experimental da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), Câmpus Dois Vizinhos. Tal município é localizado no Terceiro Planalto Paranaense, entre as coordenadas geográficas 25°41’37” S e 53°06’07” W, com altitude média de 502 m, e clima subtropical úmido a mesotérmico (Cfa), com verões quentes e menos frequência de geadas no inverno, segunda a classificação de Köppen. Os ensaios de campo foram conduzidos nas safras de verão de 2012/13 e 2013/14 e constaram de delineamentos experimentais de blocos ao acaso com três repetições. As parcelas eram compostas por quatro linhas de semeadura, espaçadas
- 241. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 27 230 em 0,45 m, com seis metros de comprimento. No primeiro ano agrícola foram testadas três variedades de sorgo sacarino, BR 501, 503 e 505, com sementes provenientes do Centro de Pesquisas de Milho e Sorgo da Embrapa, de Sete Lagoas/MG e quatro híbridos ADV 2010, Sugargrase, Hunnigreen e Volumax oriundas de empresas privadas. E na segunda etapa utilizaram-se as variedades BR 506, 508, 509 e 511 (Embrapa) e os híbridos ADV 2010, Sugargraze, Hunnigreen, EJX 5110 (Privadas). Fez-se a semeadura com sementes tratadas nas duas safras na quantidade média de 120 mil sementes ha-1 para todos os cultivares. A adubação nitrogenada em cobertura foi na forma de uréia (45% N), parcelada em duas aplicações - 30 e 60 dias após a semeadura - na quantidade de 37 kg ha-1 por aplicação. A digestibilidade in vitro da matéria seca foi avaliada através do método de Baumgardt et al (1962), adaptada por Tilley & Terry (1963). Os dados foram submetidos à análise de variância e quando significativos foram submetidos à comparação múltipla de médias através do teste Ducan (p<0,05), utilizandoo software computacional GENES® . 3 | RESULTADOS E DISCUSSÃO Houve diferença significativa (p<0,05) entre os genótipos para a digestibilidade in vitro da matéria seca (%DIGIV) nas safras 2012/2013 e 2013/2014 (Tabela 1). Na primeira safra, os híbridos ADV 2010 e Hunnirgreen se destacam pela menor DIGIV (Tabela 1), não diferindo estatisticamente entre si (p<0,05). Os demais têm digestibilidade superior (Tabela 1), mas não diferem estatisticamente entre si também (p<0,05). Na safra 2013/2014 os resultados foram superiores, com destaque para a variedade BR 509 com a maior DIGIV (Tabela 1), porém não diferindo estatisticamente das variedades BR 506, BR 508 e BR 511 (p<0,05). O híbrido ADV 2010 se destaca nesta safra com a pior digestibilidade (p<0,05), assim como já o fizera na safra anterior (Tabela 1). 2012/2013 2013/2014 Tratamento %DIGIV %DIGIV ADV 2010 30,7 b 52,1 c Hunnigreen 31,0 b 48,3 d Sugargraze 41,5 a 51,2 cd Volumax BR 505 37,4 a 37,1 a - - BR 503 38,7 a - BR 501 42,2 a - EJX 5110 - 66,8 b BR 506 - 70,0 ab BR 508 - 70,0 ab BR 509 - 70,9 a
- 242. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 27 231 BR 511 - 70,4 ab Média 36,9 62,4 CV (%) 7,8 3,2 Tabela 1. Digestibilidade in vitro da matéria seca da silagem de bagaço de sorgo sacarino das safras de 2012/2013 e 2013/ 2014. Dois Vizinhos – Paraná, Brasil. 2017. Médias seguidas por letras distintas minúsculas na coluna diferem entre si pelo teste Duncan (p<0,05). Linhas seguidas com traço são tratamentos não cultivados na determinada safra. Fonte: Pin (2015). Quando observada a DIGIV aferida nos híbridos repetidos nos dois ensaios (ADV 2010, Hunnigreen e Sugargraze) a média foi de 34,4% em 2013 e 50,5% em 2014 (Tabela 1), uma diferença substancial deste componente entre os ensaios e inferior às variedades avaliadas em conjunto. Quando comparamos com as médias das variedades superiores notamos isto nitidamente: as variedades tiveram em média 39,3% de DIGIV em 2013 e em média 70,3% de DIGIV em 2014. A diferença entre os mesmos materiais entre os dois anos de experimento deixa clara a participação dos fatores ambientais na qualidade da silagem produzida, uma vez que o processo de ensilagem foi homogêneo entre todos os tratamentos, mas a precipitação e temperaturas médias entre os dois anos de ensaio apresentou variação. Os níveis de DIGIV são atrelados ao percentual de lignina da matéria seca das cultivares, uma vez que a lignina é indigestível, e a percentagem deste componente varia nas porções folhas, hastes e grãos, tornando essencial a boa distribuição destas frações da planta no material ensilado para a garantia de uma silagem de boa digestibilidade (NUSSIO & MANZANO, 1999). Este fato explica a maior digestibilidade média entre as silagens feitas em 2014 em relação à digestibilidade média das silagens feitas em 2013, uma vez que o teor médio de lignina em 2013 foi de 21,0% e em 2014 foi de apenas 6,7% (Tabela 1). O rendimento dos materiais em relação à produção de massa verde foi superior em 2013 em relação a 2014. Este fato está relacionado a maiores teores de carboidratos também, e tal fato acarreta a redução da digestibilidade da matéria seca da silagem de forma diretamente proporcional (DEMARCHI et al., 1995), tornando as silagens produzidas em 2013 menos digestíveis (Tabela 1). Na literatura encontramos trabalhos como o de Blummel et al. (2009), que estudando 34 híbridos de sorgo como planta inteira e bagaço encontrou valor médio de 44,5% de DIGIV da matéria seca. Kumary et al. (2010), ao defender o uso de silagem de bagaço de sorgo sacarino na alimentação de búfalos, obteve valores de digestibilidade da matéria seca de 52,5%. 4 | CONCLUSÃO Um maior desempenho agronômico do sorgo sacarino está intimamente ligado
- 243. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 27 232 com uma menor digestibilidade da silagem de bagaço do mesmo. A digestibilidade in vitro da matéria seca do bagaço de sorgo sacarino é influenciada pela genética do material utilizado assim como pelos fatores ambientais. Asilagem de bagaço de sorgo sacarino é uma opção viável tanto para compor parte da dieta de ruminantes como para reduzir os impactos ambientais deste subproduto. 5. AGRADECIMENTOS Ao CNPq/CAPES, a EMBRAPA Sorgo, ao Programa Ciência Sem Fronteiras e aos professores Dr. André Brugnara Soares Dr. Jean Carlo Possenti. REFERÊNCIAS BAUMGARDT, B.R.; TAYLOR, M.W.; CASON, J.L. Evaluation of forages in the laboratory. II. Simplified rumen procedure for obtaining reapeatable estimates of forage nutritive value. J. Dairy Sci., v.45, n.1, p.62-68, 1962. BLUMMEL, M.; RAO, S.S.; PALANISWAMI, S.; SHAH, L. & REDDY, B.V.S. Evaluation of sweet sorghum (Sorghum bicolor (L.) Moench) used for bio-ethanol production in the context of optimizing whole plant utilization. Animal Nutrition and Feed Technology, v.9, p.1-10, 2009. DEMARCHI, J.J.A.A.; BOIN, C.; BRAUN, G. A cultura do sorgo (Sorghum bicolor L. Moench) para a produção de silagens de alta qualidade. Zootecnia, v.33, n.3, p.111-136, 1995. KUMARY, A.A.; REDDY, B.V.S.; BLUMMEL, M.; ANANDAN, S.; REDDY, Y.R.; REDDY, R.C.; RAO, P.S e REDDY, P.S. On-farm evaluation of elite sweet sorghum genotypes for grain and stover yields and fodder quality. Animal Nutrition and Feed Technology, v.10, p.69-78, 2010. NUSSIO, L.G.; MANZANO, R.P. Silagem de milho, In: Simpósio sobre Nutrição de Bovinos: Alimentação suplementar, 7. Piracicaba, 1999. Anais... Piracicaba, FEALQ, p.27-46. 1999. RODRIGUES, P.H.M.; SENATORE, A.L.; ANDRADE, S.L.T. de; RUZANTE, J.M.; LUCCI, C.S.; LIMA, F.R. de. Efeitos da adição de inoculantes microbianos sobre a composição bromatológica e perfil fermentativo da silagem de sorgo produzida em silos experimentais. Revista Bras. Zootec., v.31, n.6, p.2373-2379, 2002. SIMON, J.E. Consumo e digestibilidade de silagem de sorgo (Sorghum bicolor [L.] moench) como alternativa para alimentação suplementar de ruminantes na Amazônia Oriental. Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) – Biblioteca Central/ UFPA, Belém, v.4, n.8, jan./ jun. 2009. TILLEY, J.M.A.; TERRY, R.A. A two-stage technique for the in vitro digestion of forage crops. Journal of the British Grassland Society, Oxford, v.18, n.2, p.104-111. 1963.
- 244. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 28 233 CAPÍTULO 28 doi DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DAS ESPÉCIES DE MOLUSCOS LÍMNICOS DO RIO PINTADO, BACIA HIDROGRÁFICA DO IGUAÇU Alcemar Rodrigues Martello Professor, Universidade Estadual do Paraná, campus de União da Vitória, Departamento de Biologia. União da Vitória, Paraná Mateus Maurer Graduado em Ciências Biológicas, Universidade Estadual do Paraná, campus de União da Vitória. União da Vitória, Paraná RESUMO: Estudos sobre distribuição espacial de moluscos límnicos proporcionam uma compreensão da ecologia do grupo, fornecendo, assim, maiores informações sobre a necessidade da preservação dos ambientes lóticos e para a manutenção das espécies nativas. Nesse sentido, este estudo teve como objetivo analisar a composição taxonômica e distribuição espacial dos moluscos do Rio Pintado, Porto União, norte de Santa Catarina relacionando com o tipo de substrato. O Rio Pintado é afluente da margem esquerda do Rio Iguaçu, percorrendo uma zona considerada de associação de culturas agrícolas, mata nativa, silvicultura e pastagens. Um total de 3368 espécimes identificados em quatro espécies nativas (Pisidium sp., Chilina fluminea, Potamolithus catharinae e Potamolithus sp.) e uma exótica (Corbicula fluminea) foram registrados no estudo. A espécie dominante foi Potamolithus catharinae (n=3017) associada ao tipo de substrato e a velocidade da correnteza. A única espécie estrangeira, Corbicula fluminea, foi associada a rios de grandes ordens e substrato arenoso. Este indíviduo pode ter sido carreado para dentro do rio durante as cheias do rio Iguaçu. Chilina e Potamolithus estão associadas a presença de matacão e boa oxigenação da água. Nos pontos próximos à foz não foram registrados moluscos. Este fato pode estar associado ao substrato lodoso com presença de matéria orgânica em decomposição, água turva e proximidade ao ambiente urbano. A riqueza obtida neste trabalho é bastante inferior ao reportado em rios da região sul. As preferências registradas com relação aos parâmetros ambientais fornecem dados sobre a relação entre a presença da espécie e o substrato. PALAVRAS-CHAVE: ambiente lótico; assembléiasvivas;médioRioIguaçu;inventário; sul do Brasil. SPATIAL DISTRIBUTION OF SPECIES OF LYMNIC MOLLUSKS OF PINTADO RIVER, IGUAÇU BASIN ABSTRACT: Studies on spatial distribution of limnic mollusks provide an understanding of group ecology, thus providing more information
- 245. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 28 234 on the need for preservation of lotic environments and for the maintenance of native species. In this sense, this study had as objective to analyze the taxonomic composition and spatial distribution of mollusks of the Pintado River, Porto União, north of Santa Catarina, related to the type of substrate. The Pintado River is an affluent of the left bank of the Iguaçu River, crossing an area considered as an association of agricultural crops, native forest, forestry and pastures. A total of 3368 specimens identified in four native species (Pisidium sp., Chilina fluminea, Potamolithus catharinae and Potamolithus sp.) and one exotic (Corbicula fluminea) were recorded in the study. The dominant species was Potamolithus catharinae (n = 3017) associated with substrate type and current velocity. The only alien specie, Corbicula fluminea, was associated with rivers of great orders and sandy substrate. This individual may have been carried into the river during the floods of the Iguaçu River. Chilina and Potamolithus are associated with the presence of boulder and good oxygenation of water. At the points near the river mouth no molluscs were recorded. This fact can be associated to the muddy substratum with the presence of decaying organic matter, turbid water and proximity to the urban environment. The richness obtained in this study is much lower than reported in the rivers of the southern region. Preferences recorded for environmental parameters provide data on the relationship between the presence of the species and the substrate. KEYWORDS: lotic environment; life assemblages; middle Iguaçu River; inventory; South of Brazil 1 | INTRODUÇÃO Moluscos límnicos são aqueles que se desenvolvem em ambientes de água doce, como rios, lagos e áreas inundadas. São um dos maiores grupos animais que sofrem com as interferências antropogênicas (SÁ et al., 2013). No Brasil, as famílias de gastrópodes registradas são Planorbidae, Ancylidae, Hydrobiidae, Ampullariidae, Cochliopidae, Thiaridae e Lymnaeidae. Enquanto que para bivalves são Hyriidae, Mycetopodidae, Sphaeriidae, Corbiculidae e Mytilidae (MARTELLO et al., 2006; MEYER et al., 2010; SANTOS et al., 2013; PINTO e MELO, 2013; MEDEIROS et al., 2014; FILHO et al., 2014). Há espécies da malacofauna que se adaptam aos diversos habitats (rios, lagos, várzeas), como a espécie Limnoperna fortunei (Mytilidae), facilmente adaptadas a qualquer tipo de solo (QUEROL et al., 2013). Planorbidae, Ampullariidae, Hyriidae; Lymnaeidae e Mycetopodidae são as famílias de moluscos límnicos mais descritas devido a grande importância como vetores intermediários da esquistossomose, fasciolose e trematódeos (BUENO-SILVA e FISCHER, 2005; MASSARA et al., 2012; MOTA et al., 2012; SÁ et al., 2013; FERNANDEZ et al., 2014). De acordo com Pereira et al. (2011) os moluscos límnicos possuem um papel importante devido a sua alimentação variada: macrófitas, plâncton, perifíton e detritos
- 246. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 28 235 orgânicos, bem como, considera os bivalves bentônicos indicadores ambientais, por serem filtradores e removerem detritos. Martello et al. (2008) e Barth e Martello (2017) registraram as espécies Biomphalaria tenagophila, Pomacea canaliculata, Aplexa marmorata, Gundlachia moricandi, Lymnaea columella, Eupera klappenbachi, Drepanotrema kermatoides, Biomphalaria oligoza, Biomphalaria straminea e Anisancylus obliquus associadas à macrófitas aquáticas (Eichhornia azurea, Sagittaria montevidensis, Myriophyllum aquaticum e Pistia stratiotes). A distribuição dos moluscos entre os sistemas aquáticos, em geral, ocorre de forma passiva, o que lhes confere uma grande amplitude de distribuição. As aves aquáticas são os principais agentes de dispersão destes organismos, sendo alguns insetos importantes no transporte dos mesmos a curtas distâncias (RUSSEL-HUNT, 1978). O padrão de distribuição de alguns moluscos tem sido alterado devido à atividade humana, que unindo sistemas de drenagem através da construção de canais, propicia a expansão da distribuição de muitas espécies (MANSUR et al., 2012). A ecologia de moluscos de ecossistemas límnicos tem recebido muito pouca atenção no Brasil, sendo raros os estudos quantitativos sobre as comunidades vivas exclusivamente (HENRY e SIMÃO, 1986). Estudos sobre distribuição espacial de moluscos límnicos proporcionam uma compreensão da ecologia do grupo, fornecendo, assim, maiores informações sobre a necessidade da preservação dos ambientes lóticos (rios) e para a manutenção das espécies nativas. Moluscos límnicos encontram-se entre os grupos animais mais ameaçados de extinção (STRONG et al., 2008). Práticas agrícolas como canalizações, barramentos, drenagem e liberação de agrotóxicos na água estão entre as principais causas do declínio da malacofauna de rios, lagos e banhados (ALLAN, 2004), além de certos poluentes (DUDGEON et al., 2006). Essas interferências antrópicas alteram fatores ambientais importantes para sobrevivência dos moluscos, como velocidade da água, conteúdo de oxigênio dissolvido, matéria orgânica em suspensão, etc. (PÉREZ- QUINTERO, 2012). A introdução de espécies exóticas de moluscos também tem sido sugerida como causa importante para a extirpação de certas espécies nativas (RICCIARDI et al., 1998; STRAYER, 1999; MANSUR et al., 2012). Desta forma, estudar a biodiversidade dos moluscos límnicos, gerando informações sobre diversos aspectos da ecologia de espécies, populações e comunidades, é imprescindível para preservá-los (PÉREZ- QUINTERO, 2011). A situação de intenso represamento das águas de rios, somada ao pouco conhecimento sobre a diversidade de moluscos nesses ambientes, mostra, claramente, a necessidade e a urgência de se inventariar esta malacofauna dos rios no Brasil. NoBrasil,cercade373espéciesnativasenoveexóticassãoregistradas(SIMONE, 2006; SANTOS et al., 2012). A malacofauna límnica do estado de Santa Catarina ainda é pouco conhecida no Brasil, não havendo dados atuais, criando uma lacuna entre os estudos realizados em São Paulo e Rio Grande do Sul (ver lista de espécies em SIMONE, 2006). Adicionalmente, um dos principais obstáculos ao conhecimento da
- 247. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 28 236 diversidade da malacofauna do estado é a falta de conhecimento sobre a distribuição das espécies. Riachos, que costumam abrigar uma alta diversidade de moluscos em certas regiões do mundo (STRONG et al., 2008), são pouco estudados, principalmente em áreas de encosta, as quais podem conter espécies endêmicas. Nesse sentido, este estudo teve como objetivo analisar a composição taxonômica, densidade e distribuição espacial dos moluscos do Rio Pintado, Porto União, norte de Santa Catarina relacionando com o tipo de substrato. 2 | DESCRIÇÃO DO LOCAL E METODOLOGIA DE COLETA O município de Porto União está localizado no planalto norte de Santa Catarina, possui uma área de 845,8 km². Seu relevo é constituído de planícies, montanhas, vales, grandes várzeas nas bacias dos Rios Iguaçu e Jangada, na divisa com o estado do Paraná, e do Rio Timbó. O clima é classificado como mesotérmico úmido, com temperaturas médias de 17 ºC e uma precipitação anual de 1.400 mm. O município é banhado pelos Rios Iguaçu e seus afluentes Jangada, Timbó, Pintado, dos Pardos, Bonito e Tamanduá (PORTO UNIÃO, 2014). O Rio Pintado forma-se a partir da junção do Rio Bonito com o Rio Tamanduá, sendo afluente da margem esquerda do Rio Iguaçu, situado a uma altitude de 795 m acima do nível do mar (26º14’17”S; 51º04’42”W). Percorre uma zona considerada de associação de culturas (predominantemente agrícola), mata nativa, silvicultura e pastagens. Para fins de coleta procurou-se estabelecer seis pontos eqüidistantes ao longo do curso do rio: Ponto 1 - 830 m, nascente do rio Pintado, junção do rio Bonito com o rio Tamanduá, altitude 830 m, pastagem, substrato com matacão cobertos por perifíton e correnteza forte. Ponto 2 - 760 m, silvicultura, substrato com seixos e correnteza forte. Ponto 3 - 760 m, agricultura, substrato com matacão e correnteza forte. Ponto 4 - 750 m, substrato com seixos e areia, água pouco turva, correnteza moderada. Ponto 5 - 750 m, ambiente urbano, substrato lodoso, água turva e correnteza fraca. Ponto 6 - 750 m, foz do rio Pintado, ambiente urbano, água turva, substrato lodoso e correnteza fraca. As amostragens dos moluscos ocorreram na primavera/2017 e verão/2018. Em cada um dos locais, os moluscos foram coletados utilizando-se uma área amostral de 5 m2 , com auxílio de peneiras (malha de 1 mm), preferencialmente nas margens do rio, não ultrapassando 1 m de profundidade. Os exemplares coletados vivos foram conservados em álcool etílico 80%, triados e identificados até o nível de espécie, quando possível. Para a identificação taxonômica utilizou-se literatura especializada. Para cada assembléia de moluscos analisou-se o número de indivíduos coletados (n), frequência relativa (%) e dominância numérica.
- 248. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 28 237 3 | RESULTADOS E DISCUSSÃO Um total de 3368 espécimes identificados em quatro espécies nativas e uma exótica (gastrópodes e bivalves) foram registrados no estudo. Os bivalves foram representados por 2 indivíduos das espécies Pisidium sp. (n=1; 0,03%) e Corbicula fluminea (n=1; 0,03%). Os gastrópodes somaram 3366 indivíduos atribuídos a Chilina fluminea (n=163; 4,84%), Potamolithus catharinae (n= 3017; 89,6%) e Potamolithus sp. (n= 186; 5,5%). A espécie dominante foi Potamolithus catharinae. A riqueza observada para Potamolithus está associada ao tipo de substrato e a velocidade da correnteza encontrados nos pontos 1, 2 e 3. A única espécie estrangeira (Corbicula fluminea) encontrada no ponto 4 está associada a rios de grandes ordens e substrato arenoso. Este indíviduo pode ter sido carreado para dentro do rio Pintado durante as cheias do rio Iguaçu e ficado preso ao cascalho. A presença dos indivíduos de Chilina e Potamolithus estão associadas a presença de matacão e boa oxigenação da água. Nos pontos 5 e 6 não foram registrados moluscos. Este fato pode estar associado ao substrato lodoso com presença de matéria orgânica em decomposição, água turva e proximidade ao ambiente urbano. A riqueza e as espécies dominantes encontradas na área de estudo não são semelhantes às registradas em outros riachos do sul do Brasil (MARTELLO et al., 2006; PEREIRA et al., 2011). Potamolithus catharinae são comuns nos rios de encosta de regiões próximas, com substrato cascalhoso (VEITENHEIMER-MENDES et al., 1992; PEREIRA et al., 2011) com velocidade da água e o conteúdo de oxigênio costumam ser maiores (SÁ et al., 2013). O gastrópode C. fluminea está associado a substratos rochosos (DARRIGRAN et al., 1998). O bivalve invasor C. fluminea, é um filtrador eficiente e geralmente está presente em riachos localizados em áreas mais baixas com granulometria mais fina. Pisidium são associados a substratos arenosos e maior riqueza de macrófitas (PFEIFER e PITONI, 2003). 4 | CONSIDERAÇÕES FINAIS A riqueza obtida neste trabalho é bastante inferior ao reportado em rios da região sul. As preferências registradas com relação aos parâmetros ambientais fornecem dados sobre a relação entre a presença da espécie e o substrato. Entretanto, as diferenças na distribuição espacial das assembléias de moluscos no rio Pintado podem estar associadas às condições locais do rio, tais como, velocidade da correnteza, profundidade, tipo de substrato e diferença montante-jusante. Nesse sentido é necessária uma análise agrupada das variáveis para verificar a influência sobre a presença, riqueza e abundância das espécies de moluscos do Rio Pintado.
- 249. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 28 238 5 | AGRADECIMENTOS Os autores são gratos a André Tarcísio Carneiro pelo auxílio nas coletas em campo e na logística do transporte. REFERÊNCIAS ALLAN, J. D. Landscape sand Riverscapes: The Influence of Land Use on Stream Ecosystems. Annual Review of Ecology, Evolution and Systematics, v. 35, p. 257-284, 2004. BARTH, J. M.; MARTELLO, A. R. Malacofauna associada à macrófita Pistia stratiotes (Araceae) em área de inundação do Rio Pintado, Bacia Hidrográfica do Iguaçu. Multiciência online, v. 2, n. 4, p. 1-10, 2017. BUENO-SILVA, M.; FISCHER, M. L. Dinâmica populacional de Drepanotrema cimex (Moricand, 1839) (Mollusca: Basommatophora: Planorbidae) no Parque Barigüi, Curitiba, Paraná, Brasil. Biotemas, v. 18, n. 2, p.129-141, 2005. DARRIGRAN, G.; MARTIN, S.; GULLO, B.; ARMENDARIZ, L. Macroinvertebrates associated with Limnoperna fortunei (Dunker, 1857) (Bivalvia, Mytilidae) in Rio de La Plata, Argentina. Hidrobiología, v. 367, p. 223-230, 1998. DUDGEON, D.; ARTHINGTON, A. H.; GESSNER, M. O.; KAWABATA, Z. I.; KNOWLER, D. J.; LÉVÊQUE, C.; NAIMAN, R. J.; PRIEUR-RICHARD, A. H.; SOTO, D.; STIASSNY, M. L. J.; SULLIVAN, C. A. Freshwater biodiversity: importance, threats, status and conservation challenges. Biological Review, v. 81, p. 163-182, 2006. FERNANDEZ, M. A.; MATTOS, A. C.; SILVA, E. F.; SANTOS, S. B.; THIENGO, S. C. A malacological survey in the Manso Power Plant, State of Mato Grosso, Brazil: new records of freshwater snails, including transmitters of schistosomiasis and exotic species. Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, v. 47, n. 4, p.498-506, 2014. FILHO, S. L. N.; VIANA, G. F. S.; GOMES, R. L. M. Inventário da malacofauna límnica de três grandes reservatórios do sertão de Pernambuco, Brasil. Scientia Plena, v. 10, n. 11, p.1-7, 2014. HENRY, R.; SIMÃO, C. A. Abundancia diversidade e biomassa de Mollusca na represa de Piraju (Rio Paranapanema, SP). Revista Brasileira Biologia, v. 46, n. 3, p. 507-516, 1986. MANSUR, M. C. D.; SANTOS, C. P.; PEREIRA, D.; PAZ, I. C. P.; ZURITA, M. L. L.; RODRIGUEZ, M. T. R.; NEHRKE, M. V.; BERGONCI, P. E. A. Moluscos límnicos invasores no Brasil: biologia, prevenção e controle. Porto Alegre: Redes Editora, 2012. 418 p. MARTELLO, A. R.; KOTZIAN, C. B.; SIMÕES, M. G. Quantitative fidelity of Recent freshwater mollusk assemblages from the Touro Passo River, Rio Grande do Sul, Brazil. Iheringia, Sér. Zool., v. 96, n. 4, p. 453-465, 2006. MARTELLO, A. R.; NUNES, I. G. W.; BOELTER, R. A.; LEAL, L. A. Malacofauna límnica associada à macrófitas aquáticas do rio Iguariaçá, São Borja, RS, Brasil. Ciência e Natura, v. 30, n. 1, p. 27-41, 2008. MASSARA, C. L.; ENK, M. J.; CALDEIRA, R. L.; MENDONÇA, C. L. F.; SCHOLTE, R. G. C.; CARVALHO, O. S. Ocorrência de moluscos do gênero Biomphalaria em parques da cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. Revista de Patologia Tropical, v. 41, n. 4, p. 471-479, 2012. MEDEIROS, C.; SCHOLTE, R. G. C.; D’ÁVILA, S.; CALDEIRA, R. L.; CARVALHO, O. S. Spatial distribution of Lymnaeidae (Mollusca, Basommatophora), intermediate host of Fasciola hepatica
- 250. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 28 239 Linnaeus, 1758 (Trematoda, Digenea) in Brazil. Revista do Instituto de Medicina Tropical, v. 56, n. 3, p. 235-52, 2014. MEYER, A. A. N.; OLIVEIRA, E.; MARTIM, J. Classes de comprimento e proporção sexual em Diplodon expansus (Mollusca, Bivalvia, Hyriidae) no rio Piraquara, Paraná, Brasil. Iheringia, Sér. Zool., v. 100, n. 4, p. 329-335, 2010. MOTA, D. J. G.; MORAES, J.; NASCIMENTO, C.; KAWANO, T.; PINTO, P. L. S. Malacofauna límnica em pesqueiro de Itapecerica da Serra, São Paulo, Brasil: Risco potencial na transmissão de helmintoses. Boletim do Instituto de Pesca, v. 38, n. 4, p. 297-312, 2012. PEREIRA, D.; ARRUDA, J. O.; MENEGAT, R.; PORTO, M. L.; SCHWARZBOLD, A.; HARTZ, S. M. Guildas tróficas, composição e distribuição de espécies de moluscos límnicos no gradiente fluvial de um riacho subtropical brasileiro. Biotemas, v. 24, n. 1, p. 21-36, 2011. PÉREZ-QUINTERO, J. C. Distribution patterns of freshwater mollusks along environmental gradients in the southern Guadiana River Basin (SW Iberian Peninsula). Hydrobiologia, v. 678, p. 65-76, 2011. PÉREZ-QUINTERO, J. C. Environmental determinants of freshwater mollusk biodiversity and identification of priority areas for conservation in Mediterranean watercourses. Biodiversity and Conservation, v. 21, p. 3001-3016, 2012. PFEIFER, N. T. S.; PITONI, V. L. L. Análise qualitativa estacional da fauna de moluscos límnicos no Delta do Jacuí, Rio Grande do Sul, Brasil. Biociências, v. 11, n. 2, p. 145-158, 2003. PINTO, H. A.; MELO, A. L. Distribuição temporal de Melanoides tuberculata (Mollusca: Thiaridae) naturalmente infectados por Centrocestus formosanus (Trematoda: Heterophyidae) no Brasil. Lundiana, v. 11, n. 1/2, p. 79-82, 2013. PORTO UNIÃO. Disponível em <http://portouniao.sc.gov.br/turismo/informacoes/#sobre-a-cidade> Acessado em 12 de fevereiro de 2016. QUEROL, M. M.; PESSANO, E. F. C.; GRALHA, T. S.; MULLER, I. T. G.; MANSUR, M. C. D. Ocorrência de Limnoperna fortunei (Mollusca, Mytilidae), no rio Uruguai, município de Uruguaiana, Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, Pampa Brasileiro. Biotemas, v. 26, n. 3, p. 249-254, 2013. RICCIARDI, A.; NEVES, R. J.; RASMUSSEN, J. B. Impending extinctions of North American freshwater mussels (Unionoida) following the zebra mussel (Dreissena polymorpha) invasion. Journal of Animal Ecology, v. 67, p. 613-619, 1998. RUSSEL-HUNT, W. H. Ecology of freshwaters pulmonates. In: FRETTER, V.; PEAKE, J. (eds.). Pulmonates. Systematics, Evolution and Ecology. London, New York; Academic Press, 1978. p. 335- 383. SÁ, R. L.; SANTIN, L.; AMARAL, A. M. B.; MARTELLO, A. R.; KOTZIAN, C. B. Diversidade de moluscos em riachos de uma região de encosta no extremo sul do Brasil. Biota Neotropica, v. 13, n. 3, p. 1-9, 2013. SANTOS, S. B.; THIENGO, S. C.; FERNANDEZ, M. A.; MIYAHIRA, I. C.; GONÇALVES, I. C. B.; XIMENES, R. F.; MANSUR, M. C. D.; PEREIRA, D. Espécies de moluscos límnicos invasores no Brasil. In: MANSUR, M. C. D.; SANTOS, C. P.; PEREIRA, D.; PAZ, I. C. P.; ZURITA, M. L. L.; RODRIGUEZ, M. T. R.; NEHRKE, M. V.; BERGONCI, P. E. A. (orgs.). Moluscos límnicos invasores no Brasil: biologia, prevenção e controle. Porto Alegre: Redes Editora, 2012. 412p. SANTOS, S. B.; MANSUR, M. C.; MIYAHIRA, I. C. Freshwater and terrestrial molluscs in Brazil: Current status of knowledge and conservation. Tentacle, v. 21, n. 1, p. 40-42, 2013.
- 251. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 28 240 SIMONE, L. R. L. Land and Freshwater Molluscs of Brazil. São Paulo: Fapesp, 2006. 390p. STRAYER, D. L. Effects of alien species on freshwater mollusks in North America. Journal of the North American Benthological Society, v. 18, p. 74-98, 1999. STRONG, E. E.; GARGOMINY, O.; PONDER, W. F.; BOUCHET, P. Global diversity of gastropods (Gastropoda; Mollusca) in freshwater. Hydrobiologia, v. 595, p. 149-166, 2008. VEITENHEIMER-MENDES, I. L.; LOPES-PITONI, V. L.; SILVA, M. C. P.; ALMEIDA-CAON, J. E.; SCHRÖDER-PFEIFER, N. T. Moluscos (Gastropoda e Bivalvia) ocorrentes nas nascentes do rio Gravataí, Rio Grande do Sul, Brasil. Iheringia Ser. Zool., v. 73, p. 69-76, 1992.
- 252. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Sobre 28 241 Alan Mario Zuffo - Engenheiro Agrônomo (Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT/2010), Mestre em Agronomia – Produção Vegetal (Universidade Federal do Piauí – UFPI/2013), Doutor em Agronomia – Produção Vegetal (Universidade Federal de Lavras – UFLA/2016). Atualmente, é professor visitante na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul – UFMS no Campus Chapadão do Sul. Tem experiência na área de Agronomia – Agricultura, com ênfase em fisiologia das plantas cultivadas e manejo da fertilidade do solo, atuando principalmente nas culturas de soja, milho, feijão, arroz, milheto, sorgo, plantas de cobertura e integração lavoura pecuária. E-mail para contato: alan_zuffo@hotmail.com SOBRE O ORGANIZADOR


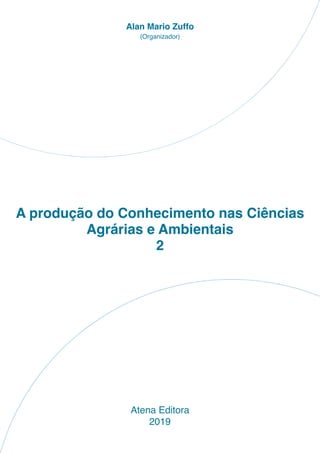
![2019 by Atena Editora
Copyright da Atena Editora
Editora Chefe: Profª Drª Antonella Carvalho de Oliveira
Diagramação e Edição de Arte: Lorena Prestes e Geraldo Alves
Revisão: Os autores
Conselho Editorial
Prof. Dr. Alan Mario Zuffo – Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
Prof. Dr. Álvaro Augusto de Borba Barreto – Universidade Federal de Pelotas
Prof. Dr. Antonio Carlos Frasson – Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Prof. Dr. Antonio Isidro-Filho – Universidade de Brasília
Profª Drª Cristina Gaio – Universidade de Lisboa
Prof. Dr. Constantino Ribeiro de Oliveira Junior – Universidade Estadual de Ponta Grossa
Profª Drª Daiane Garabeli Trojan – Universidade Norte do Paraná
Prof. Dr. Darllan Collins da Cunha e Silva – Universidade Estadual Paulista
Profª Drª Deusilene Souza Vieira Dall’Acqua – Universidade Federal de Rondônia
Prof. Dr. Eloi Rufato Junior – Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Prof. Dr. Fábio Steiner – Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul
Prof. Dr. Gianfábio Pimentel Franco – Universidade Federal de Santa Maria
Prof. Dr. Gilmei Fleck – Universidade Estadual do Oeste do Paraná
Profª Drª Girlene Santos de Souza – Universidade Federal do Recôncavo da Bahia
Profª Drª Ivone Goulart Lopes – Istituto Internazionele delle Figlie de Maria Ausiliatrice
Profª Drª Juliane Sant’Ana Bento – Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Prof. Dr. Julio Candido de Meirelles Junior – Universidade Federal Fluminense
Prof. Dr. Jorge González Aguilera – Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
Profª Drª Lina Maria Gonçalves – Universidade Federal do Tocantins
Profª Drª Natiéli Piovesan – Instituto Federal do Rio Grande do Norte
Profª Drª Paola Andressa Scortegagna – Universidade Estadual de Ponta Grossa
Profª Drª Raissa Rachel Salustriano da Silva Matos – Universidade Federal do Maranhão
Prof. Dr. Ronilson Freitas de Souza – Universidade do Estado do Pará
Prof. Dr. Takeshy Tachizawa – Faculdade de Campo Limpo Paulista
Prof. Dr. Urandi João Rodrigues Junior – Universidade Federal do Oeste do Pará
Prof. Dr. Valdemar Antonio Paffaro Junior – Universidade Federal de Alfenas
Profª Drª Vanessa Bordin Viera – Universidade Federal de Campina Grande
Profª Drª Vanessa Lima Gonçalves – Universidade Estadual de Ponta Grossa
Prof. Dr. Willian Douglas Guilherme – Universidade Federal do Tocantins
Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(eDOC BRASIL, Belo Horizonte/MG)
P964 A produção do conhecimento nas ciências agrárias e ambientais 2
[recurso eletrônico] / Organizador Alan Mario Zuffo. – Ponta
Grossa (PR): Atena Editora, 2019. – (A Produção do
Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais; v. 2)
Formato: PDF
Requisitos de sistema: Adobe Acrobat Reader
Modo de acesso: World Wide Web
Inclui bibliografia
ISBN 978-85-7247-285-2
DOI 10.22533/at.ed.852192604
1. Agronomia – Pesquisa – Brasil. 2. Meio ambiente – Pesquisa –
Brasil. I. Zuffo, Alan Mario. II. Série.
CDD 630
Elaborado por Maurício Amormino Júnior – CRB6/2422
O conteúdo dos artigos e seus dados em sua forma, correção e confiabilidade são de
responsabilidade exclusiva dos autores.
2019
Permitido o download da obra e o compartilhamento desde que sejam atribuídos créditos aos
autores, mas sem a possibilidade de alterá-la de nenhuma forma ou utilizá-la para fins comerciais.
www.atenaeditora.com.br](https://image.slidesharecdn.com/e-book-a-producao-do-conhecimento-nas-ciencias-agrarias-e-ambientais-2-191030204523/85/A-producao-do-Conhecimento-nas-Ciencias-Agrarias-e-Ambientais-2-3-320.jpg)



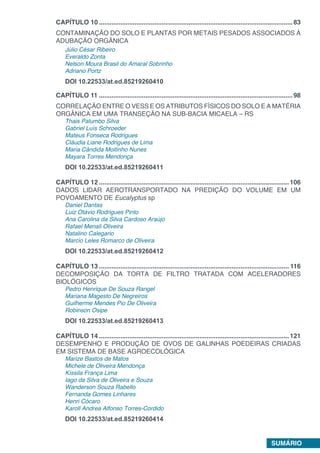
















![A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 2 13
Avaliação da atividade biológica do extrato de framboesa in vivo em
modelos animais: (i) atividade anti-inflamatória aguda – modelo do edema da pata
da λ-carragenina (34 ratos Wistar; 6 grupos – controlos negativo e positivo, framboesa
administrada via oral (p.o.) e framboesa administrada via intraperitonial ( i.p.) na dose
de 15 mg de fenóis totais (EAG)/Kg peso corporal, trolox e indometacina). O volume
da pata posterior esquerda dos ratos foi medido através método do volume deslocado
num pletismómetro; (ii) atividade anti-inflamatória crónica - modelo experimental de
artrite reumatoide atividade anti-inflamatória crónica - um modelo experimental de
artrite reumatóide (AR) induzida pelo colagénio no rato – (20 ratos Wistar, 4 grupos,
controlos negativo e positivo, extrato de framboesa p.o., extrato de framboesa i.p.,
dose de extrato – 15 mg de fenóis totais (EAG)/Kg peso corporal/dia, protocolo -
dias 1 e 21 indução de AR com 2 injeção de colagénio tipo II bovino (CII), injetando
nos ratos adjuvante completo de Freund, dias 23-34 tratamento com extrato, dia
35- avaliação das patas, colheita de sangue e sacrifício). As patas foram removidas,
radiografadas e conservadas em formalina para posterior exame histológico incluindo
a análise histoquímica da atividade das enzimas iNOS e COX-2. Nos soros fez-se a
determinação de alanina aminotransferase (ALT), aspartato aminotransferase (AST),
creatina quinase (CK) ureia e creatinina foram avaliados por métodos enzimáticos
colorimétricos num autoanalisador COBAS; e dos teores das citocinas TNF-α, IL-6 e
IL-1 foi realizada por métodos imunoenzimáticos ELISA(Kits Quantikine HS Elisa para
soro de rato, R&D Systems). Tratamento estatístico – análise ANOVA, seguida do
teste post-hoc de Bonferroni ( p < 0,05).
Estudo nutricional de intervenção em voluntários saudáveis: (n=12, 75% dos
indivíduos recrutados; 8 mulheres e 4 homens), previamente aprovado pela Comissão
de Ética da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa (05/06/2012). Todos
os participantes preencheram um questionário médico e assinaram o consentimento
informado. O estudo compreendeu as seguintes etapas: ensaio 1, antes da intervenção
– (i) colheita de amostras de sangue em jejum > (ii) ingestão da refeição rica em
gordura e açúcar (RRAG) [pequeno-almoço (1308 kcal; 38% gordura e 44% de açúcar
– 1 iogurte grego (125 g) + 1 leite achocolatado UHT (200 mL) + 1 croissant folhado
(140 g) com manteiga (10 g), 2 fatias de queijo (40g) e fiambre (20g)] > (iii) colheita
de sangue 1h, 2h, 4h e 6h após a ingestão da refeição; intervenção nutricional
– suplementação da dieta dos participantes com uma ingestão diária de 150 g de
framboesas; ensaio 2, após da intervenção – repetição das etapas (i), (ii) e (iii)
realizadas no ensaio 1. Os teores em glucose, triglicéridos, colesterol total, LDL e HDL
foram avaliados por métodos enzimáticos colorimétricos num autoanalisador COBAS,
a quantificação da LDL oxidada (oxLDL) e dos teores das citocinas TNF-α, IL-6 e IL-1
foi realizada por métodos imunoenzimático ELISA (kit Mercodia Oxidized LDL Elisa e
Kits Quantikine HS Elisa, R&D Systems, respetivamente). Todos os resultados foram
tratados estatisticamente pelo método ANOVA de medidas repetidas. As diferenças
entre tratamentos para as diferentes variáveis foram realizadas com o teste t-Student](https://image.slidesharecdn.com/e-book-a-producao-do-conhecimento-nas-ciencias-agrarias-e-ambientais-2-191030204523/85/A-producao-do-Conhecimento-nas-Ciencias-Agrarias-e-Ambientais-2-24-320.jpg)
![A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 2 14
para amostras emparelhadas. Em ambos os casos considerou-se haver diferenças
significativas para valores de p <0.05.
Alegações de saúde sobre framboesas: pesquisa dos sítios eletrónicos da
EUR-Lex, EFSA, DGAV e do ‘EU Register of Nutrition and Health Claims’.
A descrição detalhada dos diferentes métodos pode ser consultada em Correia7
.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O quadro 1 apresenta um resumo da caracterização química das amostras
de Rubus idaeus L. analisadas. Em termos globais, o teor em ácido ascórbico e a
composição fenólica, qualitativa (predominância de antocianinas e elagitaninos)
e quantitativa, encontrava-se dentro da gama de valores dos dados publicados na
bibliografia para este pequeno fruto7
. Os estudos realizados permitiram escolher as
melhores condições de preparação dos extratos de framboesa, utilizando uma solução
extratante constituída por metanol:água:ácido fórmico (79,9:20:0,1 v/v/v). No estudo
da caracterização das amostras das variedades de Rubus idaeus L. (Himbo-top,
Amira, Erika e Polka), ao longo de um ciclo produtivo e de três anos consecutivos
não se verificaram alterações significativas na sua composição fenólica em termos
quantitativos mas observaram-se diferenças nos compostos individuais. As amostras
usadas nos ensaios in vitro e animais e as do EINH apresentavam uma atividade
antioxidante in vitro avaliada pelos métodos ORAC e HORAC7
. O extrato de Rubus
idaeus L. selecionado mostrou igualmente atividade antioxidante elevada em ensaios
que avaliam o mesmo efeito em meio celular como o CAC em células Caco-2 (78
µmol equivalentes de quercetina (EQ)/100g de framboesa) e na modulação do
oxidative burst dos neutrófilos (figura 1). O elevado teor destes frutos em vitamina C
e em compostos fenólicos terá igualmente ter contribuído para a elevada atividade
antioxidante observada7
. Os dados dos estudos biológicos in vivo realizados em
modelos experimentais encontram-se nas figuras 1 a 8. O extrato administrado [15 mg
Fenóis Totais (EAG).Kg-1
] quando usado no modelo de inflamação aguda de edema
induzido pela carragenina, em rato, mostrou ter um elevado efeito anti-inflamatório
mas só quando foi administrado via i.p. (figura 2). No modelo de inflamação crónica de
AR induzida pelo colagénio II, o mesmo extrato administrado i.p. mas também por via
oral (p.o.) mostrou ter uma potente atividade anti-inflamatória diminuindo o edema, os
danos na cartilagem, o inchaço dos tecidos moles e a reabsorção óssea e reduzindo
marcadamente a expressão de iNOS e de COX-2, demostrando uma proteção
significativa na progressão daAR (figuras 3 a 8). No ENIH, pretendeu-se estudar o efeito
do consumo de 150 g de framboesas, diariamente, durante 3 semanas, no stresse pós-
prandial metabólico, oxidativo e inflamatório, induzido por uma refeição hipercalórica
rica em gordura e açúcar (RRGA), em voluntários saudáveis. Os resultados mostraram
que o consumo de framboesas evitou o decréscimo pronunciado dos níveis de HDL
(figura 10), diminuiu significativamente os valores basais de LDLox dos voluntários](https://image.slidesharecdn.com/e-book-a-producao-do-conhecimento-nas-ciencias-agrarias-e-ambientais-2-191030204523/85/A-producao-do-Conhecimento-nas-Ciencias-Agrarias-e-Ambientais-2-25-320.jpg)






















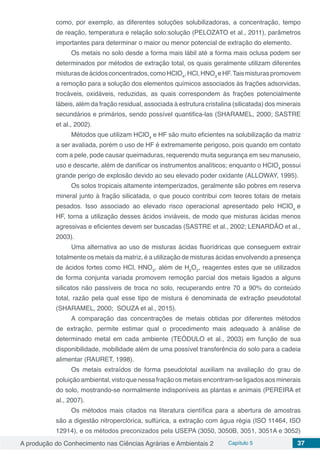

















![A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 6 55
O maior rendimento de folhas de alface com uso de adubos orgânicos, foi
atribuído por Resende (2004) aos efeitos proporcionados por esses resíduos sobre
as propriedades químicas, físicas e biológicas do solo uma vez que eles atuam
como condicionadores e aumentam a capacidade do solo em armazenar nutrientes
necessários para o desenvolvimento das plantas.
YURI et al. (2003) verificaram decréscimo de área foliar quando estudaram a
aplicação de doses crescentes de potássio na cultura do maracujá, sendo que as
doses adequadas deveriam ser menores que 300 mg dm-3
.
4 | CONCLUSÃO
Com base nestes resultados apresentados pode-se concluir que:
O adubo organomineral são todos aqueles produtos com a junção do NPK e de
resíduos de origem vegetal, urbano ou industrial e animal, que possuam altos teores de
componentes orgânicos, neste sentido os resultados de numero de folhas e diâmetro
de copa, foram superiores em comparação ao adubo mineral e ao tratamento-controle.
Além do ganho econômico para o produtor, pois ao aumentar número de folhas
por planta e diâmetro de copa, o aumento na área fotossintética pode ser maior, para o
solo há muitas vantagens melhorando as propriedades físicas, químicas e biológicas,
onde as absorção dos nutrientes pelas plantas irão melhorar significativamente, pois
reduz o impacto no meio ambiente e não compromete a estrutura física do solo e a
anatomia das plantas.
REFERÊNCIAS
ALVAREZ, V. V. H. (eds.) Recomendações para o uso de corretivos e fertilizantes em Minas
Gerais: 5ª Aproximação. Viçosa: CFSEMG, 1999. p. 99-110.
AQUINO, L. A.; PUIATTI, M.; ABAURRE, M. E. O.; CECON, P. R.; PEREIRA, P. R. G.; PEREIRA,
F. H. F.; CASTRO, M. R. S. Produção de biomassa, acúmulo de nitrato, teores e exportação de
macronutrientes da alface sob sombreamento. Horticultura Brasileira, Brasília, v. 25, n. 3, p 381-386,
2007.
ARAÚJO, W. F.; SOUSA, K. T. S.; VIANA, T. V. A.; AZEVEDO, B. M.; BARROS, M. M.; MARCOLINO,
E. Resposta da alface a adubação nitrogenada. Revista Agro@mbiente, Boa Vista, v. 5, p. 12-17,
2011.
BARBOSA, J. C.; MALDONADO JÚNIOR, W. Software AgroEstat – Sistema de análises
estatísticas de ensaios agronômicos. Jaboticabal, Universidade Estadual Paulista, 2011
CHEN, Y.; NOBILI, M. de; AVIAD, T. Stimulatory effects of humic substances on plant growth. In:
MAGDOFF, F.; WEIL, R. R. (Eds.). Soil organic matter in sustainable agriculture. London: [s.n.], 2004.
p. 103-129.
FILGUEIRA, F. A. R. Novo Manual de Olericultura: agrotecnologia moderna na produção e
comercialização de hortaliças. Viçosa: UFV, 2000. 402p.
FONTES, R. R.; LIMA, J. A.; TORRES, A. C.; CARRIJO, O. A. Efeito da aplicação de Mg, B, Zn e Mo](https://image.slidesharecdn.com/e-book-a-producao-do-conhecimento-nas-ciencias-agrarias-e-ambientais-2-191030204523/85/A-producao-do-Conhecimento-nas-Ciencias-Agrarias-e-Ambientais-2-66-320.jpg)









































![A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 10 97
WANDER, M. Soil organic matter fractions and their relevance to soil function. In: MAGDOFF, F.;
WEIL, R., R. (Eds.). Soil organic matter in sustainable agriculture. London: [s.n.], p. 67-102. 2004.](https://image.slidesharecdn.com/e-book-a-producao-do-conhecimento-nas-ciencias-agrarias-e-ambientais-2-191030204523/85/A-producao-do-Conhecimento-nas-Ciencias-Agrarias-e-Ambientais-2-108-320.jpg)




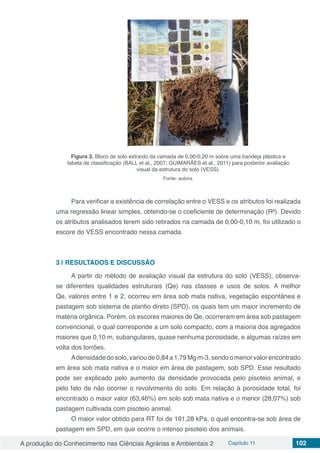














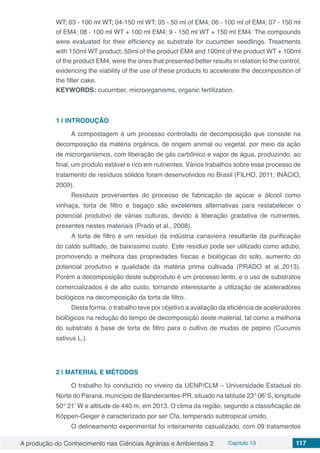














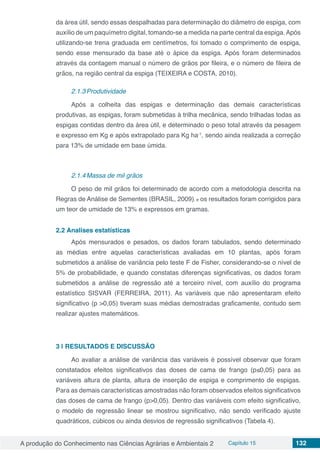







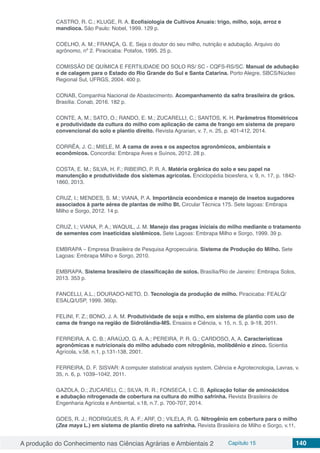











![A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 17 152
matéria seca da parte aérea e matéria seca do sistema radicular (RPAR); c) e índice
de qualidade de Dickson (IQD), pela formula: IQD = [(MSPA + MSSR)/(RAD + RPAR)]
(DICKSON, et al., 1960).
Os resultados foram submetidos à análise de variância da regressão pelo teste F,
a 1 % de probabilidade, e, quando significativos, ajustados modelos de regressão que
melhor expliquem o efeito dos tratamentos, maior valor de coeficiente de determinação
(R2
), das lâminas de irrigação aplicadas, sobre as variáveis analisadas.
3 | RESULTADOS E DISCUSSÕES
Através de análises de variância, verificou-se interação significativa a 1%
de probabilidade entre as lâminas de água e todas as características morfológicas
avaliadas, evidenciando desse modo o efeito das diferentes lâminas de irrigação, na
qualidade da produção de mudas de cacau Comum Bahia.
Durante o período de avaliação dentro da estufa agrícola, foram registrados os
valores de temperatura mínima, média e máxima de 20,36 ºC, 29,74 ºC e 39,12 ºC,
respectivamente.
O diâmetro do coleto das mudas de cacaueiro apresentou comportamento
quadrático com R2
0,9833 (Figura 2), apresentando crescimento de diâmetro em
resposta ao aumento das lâminas de irrigação aplicadas, chegando ao máximo do
diâmetro (4,12 mm) com aplicação da lâmina de irrigação de 10 mm.dia-1
, sendo a
partir desta, apresentou redução do diâmetro com o aumento da irrigação.
Em trabalho realizado por Ramos et al. (2015), com mudas de cacaueiro
encontrou-se desempenho linear positivo do diâmetro em função da lâmina aplicada.
Em trabalho realizado por Botan (2018), em mudas de cacaueiro (theobroma cacao)
genótipo TSH 1188 produzidos também no outono sob diferentes lâminas de irrigação
na região de Colatina-ES apresentou desempenho quadrático de crescimento do
coleto com relação a quantidade de água.
Figura 2 - Diâmetro do caule das mudas de cacaueiro Comum Bahia em resposta à diferentes
lâminas de água, Colatina, 2018.
A matéria seca da parte aérea apresentou comportamento quadrático com R2](https://image.slidesharecdn.com/e-book-a-producao-do-conhecimento-nas-ciencias-agrarias-e-ambientais-2-191030204523/85/A-producao-do-Conhecimento-nas-Ciencias-Agrarias-e-Ambientais-2-163-320.jpg)


![A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 17 155
4 | CONCLUSÃO
A relação massa seca da parte aérea com a massa seca da raiz (RPAR)
apresentou melhor resultado no tratamento com a lâmina de 10 mm d-1
, pois, lâminas
superiores apresentaram valores maiores de RPAR, evidenciando desequilíbrio.
Por apresentar melhor índice de Dickson e, de forma a otimizar o recurso hídrico
na produção de mudas com qualidade do cacaueiro do genótipo Comum Bahia,
recomenda-se a lâmina de 10 mm.d-1
.
REFERÊNCIAS
ALVERSON, W.A.; WHITLOCK, B.A.; NYEFFELER, R.; BAYER, C. & BAUM, D.A. 1999. Phylogeny
of Malvales: evidence from ndhF sequence data. American Journal of Botany 86: 1474-1486.
AGRIANUAL. Anuário da agricultura brasileira. Cacau. São Paulo, OESP Gráfica, 2017.
BOTAN, Á.B. Índice de qualidade e desenvolvimento de mudas de cacaueiro (Theobroma cacao)
genótipo TSH 1188 produzidas no outono sob diferentes lâminas de irrigação. Dissertação
(Bacharelado em agronomia) – Instituto Federal do Espirito Santo, campus Itapina, Colatina, p.34,
2018.
CEPLAC - Comissão executiva do plano da lavoura cacaueira. Disponível em:<http://www.
ceplac.gov.br/paginas/jornaldocacau>. Acesso em: 15 de dezembro de 2018.
CUENCA, M.A.G.; NAZÁRIO, C.C. Importância Econômica e Evolução da Cultura do Cacau no
Brasil e na Região dos Tabuleiros Costeiros da Bahia entre 1990 e 2002. Aracaju: Embrapa,
2004. 25 p.
DICKSON, A.; LEAF, A.L.; HOSNER, J.F. Quality appraisal of white spruce and white pine
seedling stock in nurseries. Forest Chronicle, v. 36, p.10-13, 1960.
FRANZON, R.C.; CARPENEDO, S.; SILVA, J.C.S. Produção de mudas: principais técnicas utilizadas
na propagação de frutriras. Embrapa Cerrados, Planaltina, p.56, 2010.
HUNT, G.A. Efeito do projeto styroblock e tratamento cooper na morfologia de plântulas de
coníferas. Em: Rose, R .; Campbell, S.J .; Landis, T. D., eds. Simpósio de seedling designado,
reunião das associações de berçário de floresta ocidentais, relatório de technichal geral RM-200.
1990, Roseburg: Proceedings. Collins: Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, Serviço
Florestal, 1990. 218-222p. https://rngr.net/publications/proceedings/1990/hunt.pdf/. 31 agosto. 2018.
IBGE. Instituto brasileiro de geografia e estatística. Levantamento sistemático da produção
agrícola: pesquisa mensal de previsão e acompanhamento das safras agrícolas no ano civil (2018).
Disponível em: <ftp://ftp.ibge.gov.br/Producao_Agricola/Levantamento_Sistematico_da_Producao_
Agricola_[mensal]/Fasciculo/2016/lspa_201612_20170222_133000.pdf> Acesso em 19.12.2018.
INCAPER – Instituto capixaba de pesquisa, assistência técnica e extensão rural. Polos de
Fruticultura - Cacau. Disponível em: <https://incaper.es.gov.br/fruticultura-cacau>. Acesso em: 09 de
dezembro de 2018.
KÖPPEN, W. Das geographische system der klimate. In: Köppen GW.; Geiger MR. (eds.), Handbuch
der Klimatologie, Berlin. 44p.; 1936.
MARANA, João Paulo; MIGLIORANZA, Édison; FONSECA, Ésio de Pádua;](https://image.slidesharecdn.com/e-book-a-producao-do-conhecimento-nas-ciencias-agrarias-e-ambientais-2-191030204523/85/A-producao-do-Conhecimento-nas-Ciencias-Agrarias-e-Ambientais-2-166-320.jpg)
![A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 17 156
KAINUMA, Roberto Hiroshi. Índices de qualidade e crescimento de mudas de café produzidas em
tubetes. Ciência Rural, Santa Maria, v. 38, n. 1, p.2-5, fev. 2008.
MORAIS, Weslley Wilker Corrêa; SUSIN, Felipe; VIVIAN, Magnos Alan; ARAÚJO, Maristela Machado.
Influência da irrigação no crescimento de mudas de Schinus terebinthifolius. Pesquisa Florestal
Brasileira, [s.l.], v. 32, n. 69, p.23-28, 30 mar. 2012.
PIEREZAN, Luciane; SCALON, Silvana de Paula Quintão; PEREIRA, Zefa Valdivina. Emergência
de plântulas e crescimento de mudas de jatobá com uso de bioestimulante e sombreamento. Cerne,
Lavras, v. 18, n. 1, p.127-133, jan/mar.2012.
POSSE, R.; VALANI, F. GONÇALVES, A.M.S.; OLIVEIRA, E.C.; LOUZADA, J.M.; QUARTEZANI, W.Z
& LEITE, M.C.T. Growth and Quality of Yellow Passion Fruit Seedlings Produced under
Different Irrigation Depths. Journal Of Experimental Agriculture International, [s.l.], v. 22, n. 4,
p.1-11, 21 abr. 2018.
RAMOS, Adriana; SODRÉ George Andrade; PORTO, John Silva; COSTA, Rafael de Queiroz.
Desenvolvimento de mudas de cacaueiro em função de níveis de aplicação de água.
Agrotrópica, itabuna, [s.l.], v. 27, n. 1, p.19-24, 30 abr. 2015. Agrotropica.
SANTOS, A. S.; ANDRADE, E. H. A.; ZOGHBI, M. G. B.; LUZ, A. I. R.; MAIA, J. G. S.Sesquiterpenes
on Amazonian Piper Species. Acta Amazonica, v. 28, n. 2, p. 127-130, 1998.
THEBALDI, M.S.; LIMA, L.A.; SILVA, A.C. Eficiência de sistemas de irrigação em mudas de
espécies florestais nativas produzidas em tubetes. Ciência Florestal, Santa Maria, v. 26, n. 2,
p.401-410, 2016.](https://image.slidesharecdn.com/e-book-a-producao-do-conhecimento-nas-ciencias-agrarias-e-ambientais-2-191030204523/85/A-producao-do-Conhecimento-nas-Ciencias-Agrarias-e-Ambientais-2-167-320.jpg)





![A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 18 162
REFERÊNCIAS
ALVARENGA, C. B. A. e CUNHA, J. P. A. R. Aspectos qualitativos da avaliação de pulverizadores
hidráulicos de barra na região de Uberlândia, Minas Gerais. Engenharia Agrícola, Jaboticabal, v.30,
n.3, p.555-562, maio/jun. 2010.
BAESSO, M. M.; TEIXEIRA, M. M.; VIEIRA, R. F.; PAULA JUNIOR, T. J. E CECON, P. R. Deposição
de gotas de um pulverizador hidráulico com assistência de ar na barra de pulverização na cultura do
feijão. Engenharia na Agricultura, Viçosa, v.17 n.6, 438-445p. nov/dez 2009.
BAUER, F. C.; PEREIRA, F. A. R.; SCHEEREN, B. R.; BRAGA, L. W. Diagnóstico das condições,
tempo de uso e manutenção de pulverizadores no Estado de Mato Grosso do Sul. Engenharia
Agrícola, Jaboticabal, v. 29, n. 3, p. 501-507, 2009.
DORNELLES, M. E.; SCHLOSSER, J. F.; BOLLER, W; RUSSINI, A.; CASALI, A. L. Inspeção técnica
de tratores e pulverizadores utilizados em pulverização agrícola. Engenharia na Agricultura, Viçosa,
V.19 N.1, jan/fev 2011.
GANDOLFO, M. A.; ANTUNIASSI, U. R.; GANDOLFO, U. D.; MORAES, E. D.; RODRIGUES, E. B.
e ADEGAS, F. S. Periodic inspection of sprayers: diagnostic to the northern of Paraná. Engenharia
Agrícola, Jaboticabal, v.33, n.2, p.411-421, mar./abr. 2013.
LOPES, E. S.; OLIVEIRA, F. M.; RODRIGUES, C. K. Determinação da carga física de trabalho na
atividade manual de herbicida. Ambiência, Guarapuava, v.7, n.2, p.329-337, 2011.
PERESSIN, V. A.; MATUO, T.; PERECIN, D.; PIO, L. C. e BRAZ, B. A. Aplicação em jato dirigido em
cana-de-açúcar. II: espaçamento entre bicos turbo floodjet para a aplicação de herbicidas. Planta
daninha [online], Viçosa, vol. 14, n. 2, 1996.
ROMANO, L. N. Desenvolvimento de máquinas agrícolas: planejamento, projeto e produção.
São Paulo: Blucher Acadêmico, 2013. 310p.
SILVEIRA, G. M. Máquinas para plantio e condução de culturas. Viçosa: Aprenda Fácil, 2001.
334p. (Série Mecanização, v.3).](https://image.slidesharecdn.com/e-book-a-producao-do-conhecimento-nas-ciencias-agrarias-e-ambientais-2-191030204523/85/A-producao-do-Conhecimento-nas-Ciencias-Agrarias-e-Ambientais-2-173-320.jpg)






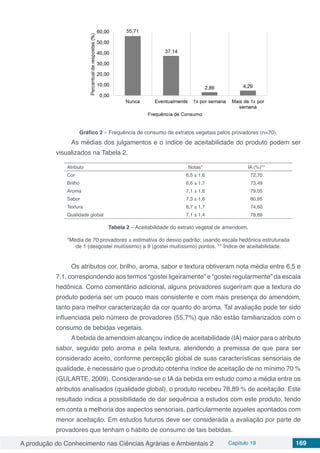






![A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 20 176
2 | MATERIAL E MÉTODOS
O experimento foi realizado na Base de Pesquisas da Universidade Católica Dom
Bosco – UCDB, no município de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, no período de
10 de julho a 29 de agosto de 2017. O município está localizado à 592 m de altitude,
longitude de 20.4697° S e latitude de 54.6201° W. O clima da região, de acordo com a
classificação de Köeppen é Aw, definido como clima tropical úmido e com temperatura
média anual de 24,5ºC.
As sementes de Ipê-Roxo foram coletadas em árvores na região de Jaraguari
– MS, no mês de julho de 2017. As sementes foram lavadas em água corrente e
imersas em água por 24 horas. Após isso, foram secadas à sombra e armazenadas
em câmara seca, com temperatura de 20°C, e umidade relativa de 45% até o momento
da semeadura (COSTA, 2009).
A avaliação do crescimento inicial das mudas se deu em distintos substratos: I)
solo de barranco; II) solo de barranco + esterco bovino (2:1); III) solo de barranco +
areia (1:1); IV) solo de barranco + areia + esterco bovino (2:1:1). O solo de barranco
e o esterco que compuseram os substratos foram coletados na Base de Pesquisas,
a areia foi comprada no comércio local. O solo de barranco foi retirado na camada
inferior a 20 cm no perfil do solo e submetido a análises químicas (Tabela 1). Todos os
substratos receberam calagem e adubação (Tabela 2).
Análise Unidade Areia Solo de
Barranco
Teor de argila g kg -1
10 61
pH H2
O -log [H+] 5,05 5,28
M.O. g dm -3
9,47 31,74
P mg dm -3
4,52 2,07
K cmol dm -3
0,02 0,43
Ca cmol dm -3
*** 2,05
Mg cmol dm -3
*** 1,1
Ca+Mg cmol dm -3
0,45 3,15
H+Al cmol dm -3
2,13 5,73
SB cmol dm -3
0,47 3,58
T cmol dm -3
2,6 9,31
V cmol dm -3
18,9 38,45
Tabela 1. Composição físico-química dos solos utilizados como substrato.
Nutriente Quantidade Fonte
Nitrogênio (N) 40 mg L -1
Sulfato de amônio
Fósforo (P) 160 mg L -1
Superfosfato triplo
Potássio (K) 24 mg L -1
Cloreto de potássio
Cálcio (Ca) 1 g L -1
Calcário dolomítico
Tabela 2. Calagem e adubação em substratos para mudas de Ipê-Roxo (Handroanthus
heptaphyllus).](https://image.slidesharecdn.com/e-book-a-producao-do-conhecimento-nas-ciencias-agrarias-e-ambientais-2-191030204523/85/A-producao-do-Conhecimento-nas-Ciencias-Agrarias-e-Ambientais-2-187-320.jpg)























































![A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 27 232
com uma menor digestibilidade da silagem de bagaço do mesmo.
A digestibilidade in vitro da matéria seca do bagaço de sorgo sacarino é
influenciada pela genética do material utilizado assim como pelos fatores ambientais.
Asilagem de bagaço de sorgo sacarino é uma opção viável tanto para compor parte
da dieta de ruminantes como para reduzir os impactos ambientais deste subproduto.
5. AGRADECIMENTOS
Ao CNPq/CAPES, a EMBRAPA Sorgo, ao Programa Ciência Sem Fronteiras e
aos professores Dr. André Brugnara Soares Dr. Jean Carlo Possenti.
REFERÊNCIAS
BAUMGARDT, B.R.; TAYLOR, M.W.; CASON, J.L. Evaluation of forages in the laboratory. II.
Simplified rumen procedure for obtaining reapeatable estimates of forage nutritive value. J. Dairy Sci.,
v.45, n.1, p.62-68, 1962.
BLUMMEL, M.; RAO, S.S.; PALANISWAMI, S.; SHAH, L. & REDDY, B.V.S. Evaluation of sweet
sorghum (Sorghum bicolor (L.) Moench) used for bio-ethanol production in the context of
optimizing whole plant utilization. Animal Nutrition and Feed Technology, v.9, p.1-10, 2009.
DEMARCHI, J.J.A.A.; BOIN, C.; BRAUN, G. A cultura do sorgo (Sorghum bicolor L. Moench) para
a produção de silagens de alta qualidade. Zootecnia, v.33, n.3, p.111-136, 1995.
KUMARY, A.A.; REDDY, B.V.S.; BLUMMEL, M.; ANANDAN, S.; REDDY, Y.R.; REDDY, R.C.; RAO, P.S
e REDDY, P.S. On-farm evaluation of elite sweet sorghum genotypes for grain and stover yields
and fodder quality. Animal Nutrition and Feed Technology, v.10, p.69-78, 2010.
NUSSIO, L.G.; MANZANO, R.P. Silagem de milho, In: Simpósio sobre Nutrição de Bovinos:
Alimentação suplementar, 7. Piracicaba, 1999. Anais... Piracicaba, FEALQ, p.27-46. 1999.
RODRIGUES, P.H.M.; SENATORE, A.L.; ANDRADE, S.L.T. de; RUZANTE, J.M.; LUCCI, C.S.; LIMA,
F.R. de. Efeitos da adição de inoculantes microbianos sobre a composição bromatológica e
perfil fermentativo da silagem de sorgo produzida em silos experimentais. Revista Bras. Zootec.,
v.31, n.6, p.2373-2379, 2002.
SIMON, J.E. Consumo e digestibilidade de silagem de sorgo (Sorghum bicolor [L.] moench)
como alternativa para alimentação suplementar de ruminantes na Amazônia Oriental. Dados
Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) – Biblioteca Central/ UFPA, Belém, v.4, n.8, jan./
jun. 2009.
TILLEY, J.M.A.; TERRY, R.A. A two-stage technique for the in vitro digestion of forage crops.
Journal of the British Grassland Society, Oxford, v.18, n.2, p.104-111. 1963.](https://image.slidesharecdn.com/e-book-a-producao-do-conhecimento-nas-ciencias-agrarias-e-ambientais-2-191030204523/85/A-producao-do-Conhecimento-nas-Ciencias-Agrarias-e-Ambientais-2-243-320.jpg)









